Bellow tinha o iídiche, elemento que o distinguiria de Roth e o aproximaria de uma cultura europeia.
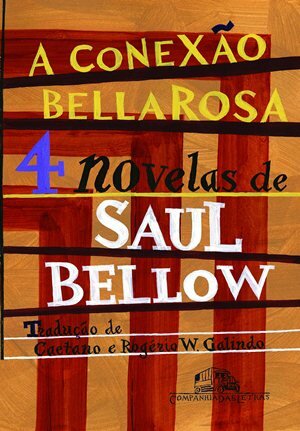
“A Conexão Bellarosa – 4 Novelas”, de Saul Bellow (Companhia das Letras, 2015, 424 páginas)
Começo por Philip Roth. Um amigo me apresenta um questionamento muito pertinente. Por que Roth no Brasil é tão aclamado, com capas de seus livros povoando o Instagram de garotas de pernas de fora, à beira da piscina? Qual o motivo de gostarmos tanto de Roth? E por que Bellow, em uma busca rápida pelas redes sociais, não goza da mesma popularidade?
Meu amigo levanta a hipótese de que Bellow é um Roth em sua décima potência. Mais bruto, mais doentio, mais judeu. Roth pode ser encontrado andando pelo Upper West Side, ali se encerra geograficamente, para, do outro lado do rio Hudson, enxergar sua New Jersey. Quando chega em Israel, não se encaixa. Surta. Bellow erra pela América do Norte e pelo mundo. Chega à África. Conta, na novela do “herói” Billy Rose, como Fonstein se safou de ser apenas um par de sapatos hoje exposto em algum museu do Holocausto Europa afora. Fonstein sobrevivera à Shoá.
No entanto. Bellow, mais universal que Roth, não é lido no Brasil. Busco entender aqui os motivos, além dos editoriais, se é que os há, posto que boa parte de sua obra já foi traduzida para o português, em especial pela Companhia das Letras, que lançou recentemente uma edição com quatro novelas inéditas, com a tradução, desta vez, a cargo de Caetano e Rogério W. Galindo.
Um primeiro ponto é o de que Bellow é um autor pesado demais. Ofende a tudo e a todos, sem maiores cuidados. Seus personagens, como muitos de Roth, são sujeitos perturbados, uxoricidas, prestes a abandonarem tudo, queimarem pontes, mulheres, professores. Mas por que aceitamos, nós, brasileiros, as ofensas de Roth? Por que as mulheres toleram Roth mas não querem saber de Bellow? Bellow foi Nobel, afinal de contas.
Em Roth, temos Sabbath, um amado cliente de puteiros, sedutor, sodomita, corruptor de mulheres, perversor de jovens, fascinado pela bunda de Michele, que se comove com essas gostosonas que estão ficando velhas, com seus passados promíscuos e suas filhas jovens e bonitas. É possível uma mulher ser feliz apenas com um dedo? A família dela, católica, aprovaria aquele dedo como consorte? Mas em Bellow temos a americana ossuda, de aparência caipira, que orava no café da manhã, salmos decoradinhos, republicana, igrejeira, o que é que esse tipo de gente podia fazer em Nova York? O que nós, homens, podíamos fazer com um rostinho como aquele, com o cabelo daquele rosto, o vulto daquela menina, o busto – como o tesouro das Mil e uma Noites sobre o qual as mocinhas núbeis (inocentes até certo ponto) estavam sentadas. Tantas atrações perigosas – e tanta ignorância!
Na década de 1970, quando Bellow ganhou o Nobel, surgiram alguns estudos feministas a respeito da obra de ambos os autores. No ensaio “The Quest for Feminine Poetic in Humboldt’s Gift”, de Gloria L. Cronin, a autora admite que Bellow frequentemente insere uma espécie de “poética feminina” dentro da lógica masculina, mesmo dentro da cultura patriarcal judaica. Para a crítica, seu modelo cultural é completamente masculino, um modelo que as feministas têm rejeitado continuamente como mero adjunto ao personagem homem, como se a mulher ali estivesse presente para compor o homem e servi-lo, não como elemento separado e distinto. A mulher, em Bellow, para Cronin, não parece sequer existir. Uma cultura hipermasculinizada, assim ela descreve a prosa do autor.
Em uma entrevista para a revista Paris Review, no outono de 1984, Roth chama a leitura feminista de sua obra de “stupid reading”. Quando When She Was Good foi criticado por apresentar uma mulher que cozinhava muito bem e era perfeita, não era insana como “as outras”, o autor americano escora-se no elemento real que define qualquer obra: ora, acontece de haver algumas mulheres boas e que cozinham bem. Não seria a resposta que Bellow daria, talvez, posto que este tinha em seu background a língua iídiche, que conhecia muito bem, era a sua língua de infância, em Lachine, no Canadá francês – além do inglês e do francês falado nas ruas. Não há quem cozinhe bem e seja boa ao mesmo tempo, no universo histérico de Bellow.
Como nos mostra o prefácio de Leandro Sarmatz à presente edição de A Conexão Bellarosa – 4 Novelas, Bellow tinha o iídiche, elemento que o distinguiria de Roth e o aproximaria de uma cultura europeia, de um outro tipo de judaísmo, um judaísmo também que restara somente aos loucos, tal qual o americano, mas com certa feminilidade. Depois do Holocausto, só poderia haver dois tipos de judeus, segunda George Steiner, os mortos e os loucos.
O iídiche de Bellow, mais velho que Roth, deu-lhe acesso às origens culturais do judaísmo moderno, europeu, então massacrado ao fim da Segunda Grande Guerra. O iídiche era a língua das mulheres, interditas de usar o hebraico, considerado à época a língua sagrada, a língua da Torá, a ser cantada no templo e nas rezas do lar. Quando da criação do Estado de Israel, o iídiche só não se tornou a língua oficial do país porque era considerado pelos hebraístas uma língua frágil, “a língua das mulheres”. Israel precisava de uma língua forte, masculina, dura, tal qual era o hebraico. Foi sob esse ambiente que cresceu o pequeno Bellow, que jamais negaria o iídiche, senão em sua forma, mas em seu espírito e em seu humor particularmente cruel. Foi o iídiche que permitiu a Bellow uma maior compreensão, talvez, do universo feminino, dentro da cultura moderna judaica – que, apesar de patriarcal, não odeia nem diminui a mulher, mas quer matá-la, quer estrangular, quer queimar suas peças íntimas. O segredinho de Bellow não era mais o sexo, ou simplesmente a relação com o sexo oposto, mas sim a fúria da paixão. É nesta fúria masculina que entra a mulher de Bellow, a mulher americana, independente como Clara, da novela “Um Furto”, mas descrita sob um olhar iídiche: ela tinha “uma cabeça incomumente grande”.

Saul Bellow
O iídiche, aliás, aparece em sua forma em muitas expressões ao longo da obra de Bellow, e a dupla de tradutores foi muito feliz em mantê-las em seu original, sempre com notas de rodapé, que não cansam o leitor nem o distraem da narrativa. Na novela que dá título à obra, por exemplo, o narrador nos diz que Fonstein “não era um coitado de um schlepp”, com nota para o termo destacado, “pé-rapado”. O termo original não necessitaria dos dois p’s, provavelmente da edição em inglês original, nem este sentido dado pelos tradutores parece fazer muito sentido, mas vale a proposta de abrir no rodapé uma observação. Aliás, schlep, do iídiche, me soa mais como uma pessoa “tapada” do que um pé-rapado, apesar de o contexto da frase dar a impressão da tradução adotada pelos Galindo. É justamente nas expressões em iídiche que a dupla de tradutores escorrega levemente e deixa transparecer uma ou outra expressão que mais parece “traduzida” do que em seu ritmo ou tom natural. Esta mesma, por exemplo, “não era um coitado de um schlepp”, em que soa muito inglês. Nada que comprometa o belo trabalho feito pelos tradutores, no entanto.
A narrativa fluida e que abre e fecha rapidamente, em suas descrições e divagações, dos romances e dos contos de Bellow também se destaca quando o autor trabalha com esse gênero tão escorregadio como é o da novela, e que os tradutores souberam manter. A novela, que fica em uma espécie de limbo esquisito entre o conto e o romance, que tem por princípio seu caráter seriado e cujo tiro curto nem sempre agrada ao fã do conto ou ao fã do romance, corre com tranquilidade pelas sentenças curtas e pontuais dos narradores de Bellow, onde a primeira pessoa do protagonista sempre é realçada logo de cara. Em “A Conexão Bellarosa”, por exemplo, o protagonista da história já se apresenta na primeira linha: “Como fundador do Instituto Mnemósine da Filadélfia, quarenta anos no ramo, eu treinei muitos executivos, políticos e membros dos quadros de defesa, e agora que estou aposentado, com o instituto nas competentes mãos do meu filho, gostaria de esquecer de lembrar”. A memória aqui, tema que é muito caro a Bellow, tem papel preponderante na novela, mas pela via indireta e oposta. É preciso se esquecer de lembrar, adverte o narrador que tem uma visão bastante durona da Shoá, tal qual o judeu que se distancia de seu passado. Não há espaço para sentimentalismo nos personagens de Bellow. Billy Rose, o Bellarosa, teve lá seus interesses para salvar tantas almas das chaminés de Auschwitz.
Outro recurso típico de Bellow pode ser apontado aqui em suas novelas. Como um ilusionista, seus narradores parecem ter certa predileção por jogar uma sombra enorme onde reside o cerne de suas histórias, expondo ao leitor/espectador a camada da história que justamente é a mais falsa, a mais moldada por um campo social, inevitável àqueles personagens, que ora se aproximam ora distanciam deste centro nervoso. É sempre da formulação mais falsa que mais nos orgulhamos, pondera um dos personagens. Assim são os tipos apresentados por narradores que também buscam, desenfreadamente, alterar focos, pontos de vista, jogar luzes alhures. Afinal, a história de Billy Rose é sobre qualquer outra coisa menos sobre Billy Rose. Fica a lição.
Condição talvez sine qua non de uma modernidade que mais tropeça em vez de caminhar, de uma judeidade perdida em tradições em hebraico que demandam tradução, o “lost in translation”, o iídiche que pede nota de rodapé, a traição nos quartos de um hotel barato em Chinatown ou no Chelsea, em Nova York, que ressignifica os piores dybuks do gueto europeu dos séculos passados, beirando a histeria de um povo sombrio e desorientado.







