A construção da democracia é mais complexa do que faz parecer o pensamento influenciado pelo marxismo.
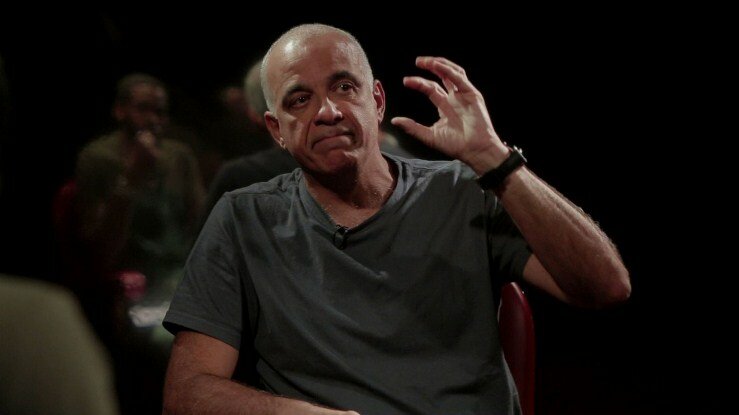
Jessé Souza
O linguajar universitário e jornalístico anglo-saxão tem algumas expressões extremamente saborosas. Uma das que mais aprecio – muito usada por acadêmicos escalados para comentar alguma apresentação – é esta: “a palestra tem coisas novas e coisas muito boas; infelizmente, o que é novo, não é bom, e o que é bom, não é novo”. Cai como uma luva na entrevista dada por Jessé Souza, presidente do Ipea, ao jornalista Marcelo Coelho, da Folha de S. Paulo.
A parte boa, mas infelizmente já bastante velha, é a crítica que o Dr. Jessé Souza faz à interpretação “culturalista” da história brasileira. Concordo inteiramente com ele: Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre e vários outros daquela geração prestaram um grande serviço ao nosso entendimento do Brasil, vale dizer, de nós mesmos. Mas, ou porque carregaram demais nas tintas, ou porque nós os lemos de uma forma simplista, deixaram um legado profundamente errôneo, o de que certas mazelas brasileiras são autenticas jabuticabas, coisas que só existiram ou existem aqui. Por exemplo: entre nós, a democracia não se desenvolve porque o nosso DNA (biológico ou cultural, pouco importa) não ajuda; somos corruptos até a medula por causa do nosso “sangue português”; e por aí afora. A essa difusão simplista e simplificadora de grandes textos daquele período, eu acrescentaria o gigantesco avanço das ciências sociais nos últimos três quartos de século. Comparadas ao arsenal de que hoje dispomos, aquelas obras perderam uma grande parte ou a maior parte de seu gume analítico – quanto a isto, não há dúvida.
Esse argumento parece-me muito bom, diria mesmo excelente. Pena, hélas!, que não seja novo. Na crítica ao “culturalismo” da vertente de interpretação histórica inspirada em Sérgio Buarque, realmente, o professor Jessé Souza chove no molhado. É tão velho esse argumento que eu mesmo tive ocasião de utilizá-lo dezenas de vezes; temo passar por imodesto ou pretensioso, mas usei-o em diversos textos e usava-o amiúde em meus saudosos tempos de professor na pós-graduação da PUC. Em meu livro Tribunos, profetas e sacerdotes (2014) inseri um capítulo sobre Sérgio Buarque que tem tudo a ver com tal discussão. Da mesma forma, na análise de nossa formação política, há certamente necessidade de descartar certas jabuticabas, não só no plano conceitual, mas recorrendo efetivamente a dados histórico-comparativos. Foi esse o meu propósito no livro Da Independência a Lula: Dois séculos de política brasileira (2005), que está para ser reeditado. Na coletânea Sistema político brasileiro: Uma introdução (2015), organizada por Lúcia Avelar e Antonio Octávio Cintra, os organizadores muito me honraram ao colocar meu texto na abertura do volume; intitulei-o – e quero crer que o título diz tudo, como “O que é que se constrói quando se constrói a democracia”. O mínimo denominador comum de toda essa peroração – e aqui, vejam bem, só me referi a trabalhos meus! – é que o nosso déficit democrático não se explica satisfatoriamente por nossa longínqua experiência colonial; e mesmo admitindo que a sesmaria, a família patriarcal, o compadrio etc. devam ser incluídos entre os usual suspects, pensar que estes traços só existiram no Brasil seria um equívoco palmar.
Mas aí vem a outra parte, quero dizer, aquela que é ou parece nova, mas que infelizmente não é boa. Aqui temos um pulo de gato; dois, para ser mais preciso, ambos deixando à mostra a velha crença de que o Brasil só se dá a conhecer a quem antes tenha se abeberado nas fontes marxistas.
No primeiro pulo, o entrevistado descarta com um peteleco a tese de Raimundo Faoro sobre a herança patrimonialista. Não sei se o faz por ver no conceito weberiano de patrimonialismo apenas uma outra vertente culturalista, o que decididamente não é verdade, ou por entender, corretamente, que falar em patrimonialismo implica delinear uma formação estatal ou proto-estatal, e nenhum marxista que se preze vai buscar no Estado a explicação fundamental da evolução histórico-política de um país. Não sei se é o caso do professor Jessé Souza, mas pelo que pude observar ao longo de minha carreira acadêmica, a esquerda marxista não se sente à vontade nas vizinhanças destes conceitos: Estado, patrimonialismo, Estado patrimonialista. Ao leitor ou leitora que queira examinar de perto essa questão, recomendo dois livros: José Júlio Senna, Os parceiros do rei: Herança cultural e desenvolvimento econômico (1995), e Simon Schwartzman, Bases do autoritarismo brasileiro (2014).
O outro pulo leva Jessé Souza a declarar que “o” problema – como se fosse só um – da democracia brasileira é a massa de excluídos, a pobreza, as desigualdades etc. (Aqui entre parênteses, temendo parecer imodesto, permito-me informar que publiquei nos Estados Unidos um trabalho em que tomei a desigualdade como tema principal: refiro-me a “Inequality against democracy”, incluído numa coletânea editada por S.M.Lipset, Juan Linz e Larry Diamond, Democracy in developing countries (1988); e que critiquei frontalmente um modelo gráfico da evolução das democracias consagrado por Robert Dahl exatamente nesses termos: para mim, a hipótese de que a desigualdade é um determinante de fundamental importância não podia ficar implícita, relegada a segundo plano).
Quer dizer que estamos todos de acordo? O que foi feito do segundo pulo do gato? Ora, o gato pulou ao pretender que a “exclusão social” seja o único determinante que interessa, o Deus ex machina que tudo explica na evolução brasileira ou, em termos mais gerais, na formação das democracias. Nessa postulação há um simplismo comparável a certos silêncios que Nelson Rodrigues criticava dizendo que lhe estouravam os tímpanos.
De fato, “a” construção da democracia é um processo infinitamente mais complexo que esse que o professor Jessé parece visualizar, e é impossível compreendê-lo sem examinar com carinho a “superestrutura”, quero dizer, a evolução das instituições, as consequências de longo prazo que certos momentos críticos podem produzir (efeitos path-dependent) etc. etc.
-
Alexandre Reis






