"Magpie Murders", de Anthony Horowitz, é uma retomada amorosa e, ao mesmo tempo, inteligente paródia dos cânones da Era de Ouro.
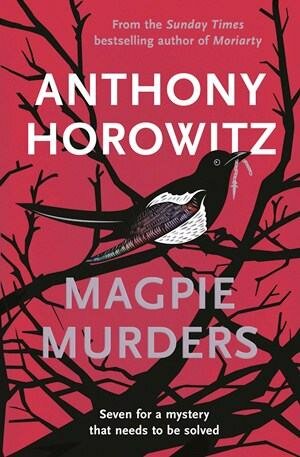
“Magpie murders”, de Anthony Horowitz (Orion, 2016, 464 páginas)
Existe uma espécie de senso comum segundo o qual a chamada Era de Ouro da Literatura Policial – marcada pela presença constante de detetives excêntricos, nobres ingleses e crimes de planejamento e execução de um rebuscamento que chega às raias do absurdo – explodiu em chamas em 1944, quando Raymond Chandler publicou, na revista The Atlantic Monthly, a primeira versão de seu ensaio “The Simple Art of Murder”.
Nessa peça crítica Chandler teria definido, de uma vez por todas, que a verdadeira literatura policial, aquela digna de mentes sofisticadas e de uma sensibilidade adulta era a que ele fazia: cheia de personagens durões, ruas cruéis, tiradas sarcásticas e, numa frase repetida inúmeras vezes depois, “gente que comete crimes por razões reais, e não apenas para produzir um defunto”.
Uma versão revisada do ensaio seria usada, amis tarde, como prefácio para uma coletânea de contos chandlerianos, publicada em 1950, e entraria para a história como o prego final no caixão dos detetives pernósticos de monóculo e cachimbo.
Muito menos famosa, infelizmente, é a resposta dada por John Dickson Carr, um dos principais teóricos e cultores do estio da Era de Ouro, à diatribe de Chandler. A réplica foi publicada em 1950 no The New York Times, numa crítica aos contos de Chandler intitulada “With Colt and Luger”. O argumento principal de “The Simple Art of Murder” é o de que os crimes e as investigações da Era de Ouro não eram realistas. A resposta de Carr é precisa: em literatura, “qual quer coisa é real se parece real”.
À alegação chandleriana de que o verdadeiro escritor, o estilista talentoso, que produz personagens marcantes e diálogos afiados “simplesmente não pode ser incomodado pelo trabalho braçal de quebrar álibis inquebráveis”, Carr responde: “Esse sujeito hipotético não quer é ter trabalho nenhum”.
O fato, no entanto, é que a despeito do obituário escrito há mais de 70 anos, a estética da Era de Ouro seguiu firme e forte, ainda que com ares de prazer culpado. Agatha Christie, claro, continuou produzindo seus cozies (do inglês cozy, “aconchegante”), uma versão particular do estilo da Era de Ouro em que o crime acontece num ambiente acolhedor – uma mansão, hotel de luxo ou casa de campo – por décadas a fio, e ainda hoje é a autora mais vendida do mundo. Recentemente, seu detetive Hercule Poirot voltou à vida numa nova série de romances, assinada por Sophie Hannah.
Talvez seja até possível argumentar que a aparente vitória estético-ideológica do estilo hard-boiled, ou noir, defendido por Chandler, contivesse a semente da própria destruição: hoje em dia, praticamente qualquer narrativa medíocre com alguma dose de violência lá pelo meio busca se cobrir num manto de respeitabilidade crítica ao se dizer noir. Enquanto isso, uma das histórias de mistério mais elogiadas do ano passado contém exatamente uma mistura de retomada amorosa e, ao mesmo tempo, inteligente paródia dos cânones da Era de Ouro: refiro-me a Magpie murders, de Anthony Horowitz.
Horowitz é um autor bem posicionado para brincar com diferentes vozes e estilos: roteirista de TV, ele foi responsável por diversos episódios da série de adaptações para a TV britânica das aventuras de Hercule Poirot, além de ter criado sua própria série de detetive, Foley’s War. Além disso, ele já publicou “continuações autorizadas” das aventuras de Sherlock Holmes e James Bond.
Magpie murders é um livro em camadas. Há uma narrativa-moldura, em que a funcionária de uma editora londrina recebe o original de “Magpie murders”, último romance de uma série de cozies escrita pelo autor Alan Conway. Dentro da moldura há o livro de Conway, um romance-dentro-do-romance em que uma curiosa versão alternativa de Poirot, chamada Pünd – não mais um refugiado belga da I Guerra Mundial, como o detetive de Agatha Christie, mas um sobrevivente dos Campos de Concentração da guerra seguinte – investiga um crime cometido numa mansão rural inglesa em algum ponto dos anos 50.
Logo, no entanto, a narrativa-moldura se reafirma como a principal: o livro enviado por Conway está incompleto, e o autor está morto – vítima de um aparente suicídio, mas talvez assassinato. A busca pelos capítulos finais da obra e pela solução do mistério investigado por Pünd logo se confundem com a investigação do que realmente ocorreu com Alan Conway.
Há um bocado de virtuosismo nesse jogo: a voz que narra a história-moldura é distinta da do autor Conway, e há um xadrez de alusões cruzadas em ambos os romances – a séries de TV, a clássicos do mistério, aos maneirismos do gênero – para pós-moderno nenhum botar defeito. Pelo menos um crítico já se queixou, em The Guardian, de que a prosa de Conway não é tão boa quanto a de Horowitz.
Mas Horowitz não é um daqueles autores hipotéticos que, segundo John Dickson Carr, achavam que forma e estilo constituem pretexto para “não fazer trabalho nenhum”: todos nos crimes de Magpie murders, tanto na moldura quanto no romance-dentro-do-romance, são construídos dentro das regras de fair play da Era de Ouro: todas as pistas são apresentadas ao leitor no mesmo momento em que o detetive tem acesso a elas, e existe uma chance real (ainda que minúscula) de se resolver o caso antes que o autor explique o que está acontecendo, afinal.
Carlos Orsi
Jornalista e escritor, com mais de dez livros publicados. Mantém o blog carlosorsi.blogspot.com.





