Em grandioso livro, Gustavo Franco se debruça sobre diversas crises da economia brasileira e questões urgentes da atualidade.
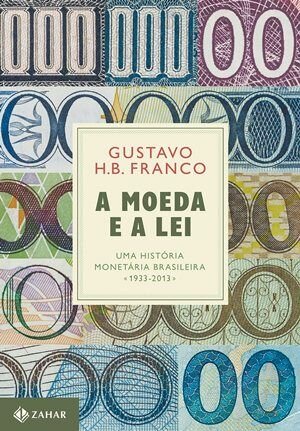
“A moeda e a lei: Uma história monetária brasileira (1933-2013)”, de Gustavo H.B. Franco (Zahar, 2017, 848 páginas)
Quando foi a última vez que você, leitor, buscou a carteira no bolso ou na bolsa, abriu e pegou dinheiro (em forma de papel-moeda ou de moedinhas) para pagar o que quer que fosse? Cada vez mais fica difícil lembrar e responder adequadamente. Com os aplicativos de cobrança automática para delivery e transporte individual, além do agora tradicional comércio eletrônico, a fronteira do pensamento sobre dinheiro, produção de valor e comércio está focada no mundo que chegará amanhã, em que o papel não será mais necessário. Os impactos disso na regulação dos intermediários e na manutenção da inflação sob controle, isto é, da política monetária como um todo, serão tremendos.
Tudo isso impressiona ainda mais quando pensamos que até bem pouco tempo atrás a própria ideia de uma moeda fiduciária era em si revolucionária. Foram gerações e gerações de mercantilistas, negócios familiares e eclesiásticos e a própria formação dos Estados-nação em que dinheiro era, pura e simplesmente, uma representação do equivalente em ouro. O Brasil, mesmo, somente rompeu com o padrão-ouro em 1933, quando a moeda fiduciária de curso forçado por uma lei (na realidade, um decreto-lei) foi introduzida, de forma mais pragmática do que ideológica, diante das graves consequências da Grande Depressão. Era para ser algo momentâneo, para durar somente naquele contexto de crise mundial. Mas dura até hoje. Saímos do padrão-ouro para a revolução do papel-moeda não-lastreado em metais e hoje já encaramos esse sistema como algo que está prestes a ruir.
No meio desse caminho, de 1933 até aqui, atravessamos nada menos do que nove moedas, criamos um Banco Central, assistimos a diversas crises cambiais e, mais relevante para a discussão dessa resenha em curso, assistimos ao surgimento de uma prolongada inflação descontrolada, superando as barreiras técnicas da hiperinflação, que consumiu as energias de economistas, intelectuais, governos ditatoriais e democráticos, movimentos sociais, intelectuais estrangeiros e nacionais por nada menos do que quinze anos consecutivos, entre o fim de 1979 e o fim de 1994.
Essa é a história narrada pelo economista Gustavo Franco – professor da PUC do Rio de Janeiro, pesquisador especializado em inflação e em nossa história econômica e um dos formuladores e implementadores (uma arte tão crucial quanto a criação em si) do Plano Real – em A moeda e a lei: Uma história monetária brasileira, 1933-2013.
Que fique claro: Franco tem lado. Ideologicamente, o autor se inscreve na corrente monetarista, que vê no clássico trabalho de Milton Friedman e Anna Schwartz (A monetary history of the United States, de 1963) não apenas uma referência, mas um guia de boa política monetária. Politicamente, Franco é um liberal tradicional, tanto em perspectiva de política econômica quanto em costumes. Foi presidente do Banco Central durante o governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, entre meados de 1997 e janeiro de 1999, e enquanto trabalhava nesse livro aqui analisado era ainda filiado ao partido. Ele deixou o PSDB quase ao mesmo tempo em que o livro foi lançado (novembro de 2017), filiando-se ao partido Novo.
Dito isso, vamos à obra.
O leitor que se aventurar pelas 745 páginas encontrará um grande livro de nossa história econômica. Seu texto é fluído e a escolha de palavras é inteligente. O autor tem erudição e deixa isso claro ao longo da obra, que não tem um ponto fraco: há sim capítulos mais interessantes que outros, aos olhos desse resenhista, mas nenhum deles é enfadonho ou pouco criativo. Ao contrário. Para um livro dessa envergadura, com essa temática, não é pouca coisa.
O livro deve (aqui no sentido de mandamento, de ordem) ser lido por economistas e advogados, mas seu miolo (especialmente os capítulos 5 e 6) cativaria inclusive o público em geral, não-especializado nesses dois temas.
No caso dos economistas, independentemente da escola ideológica a que o economista se inscreve, o livro será de grande interesse. É importante aqui que vaze uma regra fundamental do jornalismo que, lamentavelmente, penetra pouco em outras escolas, qual seja, a de que é importante ler de tudo, até para qualificar a crítica. As escolas acadêmicas, principalmente na economia, têm aprofundado algo que lamentavelmente domina o universo das redes sociais: a pregação para convertidos. Keynesianos só estudam keynesianos e ortodoxos só estudam ortodoxos. Sem diálogo, na economia, ficamos à deriva, como um navio que periodicamente tem o leme nas mãos de capitães que apontam para direções opostas.
Para os economistas, em especial, esse livro também traz um ensinamento adicional. Como o nome original da disciplina indica (chamava-se “Economia Política” quando foi tratada por autores clássicos como Adam Smith, David Ricardo, Friedrich List, Karl Marx e Alfred Marshall, para ficar em alguns), e como a denominação de seu braço mais importante deixa claro (a política econômica), o ato de interferir nas esferas microeconômicas e macroeconômicas numa sociedade precisa levar em consideração a política regional e nacional. E este universo é amplo, complexo e com um número elevado de variáveis de difícil controle (partidos, empresas privadas, estatais, sistema financeiro, exportadores e importadores, meios de comunicação tradicionais, movimentos sociais e sindicais, classe artística, redes sociais, diplomatas e, claro, advogados, auditores de contas, procuradores e o Judiciário).
O estudo da economia nas escolas de ponta tem se tornado cada vez mais abstrato, com uma preocupação desproporcional para a capacidade de modelagem em softwares estatísticos. Então temos ficado, ultimamente, com o pior dos dois mundos. Se um lado (que podemos, simplificadamente, chamar de “heterodoxo”) ainda tem dificuldade em entender o conceito de restrição orçamentária e não vê importância em avaliação de impacto de políticas públicas, o outro (também simplificadamente, chamaremos de “ortodoxo”) se perde em uma infindável discussão sobre diferentes métodos estatísticos e econométricos como se um resultado de uma regressão rodada em “R” fosse a solução de todos os nossos problemas. A estatística descolada de um aprofundamento qualitativo, que leve em consideração as variáveis reais da sociedade (mesmo as não-observadas), é apenas uma forma ruim de se pensar economia. Assim como uma análise puramente qualitativa, sem levar em consideração os notáveis avanços estatísticos e a notável ampliação de diversas bases de dados, é uma forma igualmente ruim – e ingênua – de se pensar economia.
A vida política é complexa e o Brasil é um país maluco. Esse é o objeto de análise da obra em tela. Franco trata da realidade brasileira como ela é, ainda que com sua lente ortodoxa. Isso, reforço, não altera o sentido do livro. O trabalho do historiador econômico é rigoroso e muito bem descrito.
As leis e as (várias) moedas
São nove capítulos e seu mote pode ser resumido por uma frase pescada da página 576, quando, em meio à discussão sobre a formatação legal do Plano Real (que consistia na introdução no sistema monetário nacional de uma moeda de conta, a URV, uma moeda fictícia, então nada trivial como padronizar na lei), Franco aponta que “as proverbiais dificuldades de relacionamento entre economistas e advogados, cada qual encastelado em seu idioma”, ficava claro aí.
Veja, leitor, que somos o país que se acostumou a falar de inflação, tablita, emissão de moeda, política cambial e contas públicas em telejornal na televisão diante dos vários planos e pacotes dos anos 1980 e 1990 e que, nessa década de 2010 se acostuma com o universo dos advogados, ao ver termos como embargos infringentes, condução coercitiva, delação premiada e outros sendo repetidos em meios de comunicação e chegando à mesa dos bares, primeiro por conta do julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal (entre 2012 e 2013) e depois por conta da Operação Lava Jato (a partir de 2014). Por fim, do ponto de vista administrativo, toda a crise das “pedaladas fiscais” acabou também aproximando os dois mundos, ao ver procuradores de contas e advogados debatendo questões fiscais e contábeis invocando artigos constitucionais, leis complementares e normas federais.
Tratar a evolução da moeda brasileira e das instituições que regulam seu valor a partir das leis, em suas diferentes vertentes (dos decretos de Getúlio Vargas aos projetos de lei, passando por circulares do BC, normas do CMN e artigos constitucionais) faz, portanto, todo o sentido. E acredite: é possível ler a obra de Gustavo Franco sem cruzar com nenhum momento tedioso.
Sua análise das leis e suas consequências é inteligente e envolve também o que não estava escrito:
… a importância do que não está escrito, ou sobre o fato de que, na ausência de vedações expressas ou de determinações bem precisas, incentivos perversos dão origem a mecanismos espúrios onde eles se fazem necessários aos olhos dos poderosos da vez (p. 394).
Os capítulos seguem uma ordem cronológica, mas somente a partir do terceiro. Enquanto o primeiro capítulo apresenta uma releitura do autor dos temas que fazem parte do livro, sem se aprofundar, o segundo é o único momento que exige do leitor uma atenção maior, uma vez que Franco vai ao passado e volta ao presente diversas vezes, dependendo do tema em tela. A parte final do capítulo 2, por exemplo, traz a importante (e atualíssima) discussão sobre a relação promíscua entre o responsável pela política fiscal (o Tesouro) e o responsável pela política monetária (o Banco Central) no Brasil e no mundo no pós-2008. Mas essa discussão será aprofundada no último capítulo do livro (9), como o autor inclusive pontua, e vem logo depois do debate sobre os decretos-leis de Vargas, de 1933, que colocaram abaixo à ordem monetária e cambial que vigorava desde sempre, criando o papel-moeda sem lastro, com curso definido pela lei e baseado na credibilidade do emissor (o Estado). Novamente: não cansa, porque faz sentido, mas exige uma atenção maior quanto às datas.
Do terceiro capítulo em diante a história ganha um fluxo ideal e, no embalo, vai até a última página. Há diversas referências literárias (o autor é fã de, inclusive já tendo publicado livros sobre, Fernando Pessoa e Machado de Assis), mas elas estão concentradas nos dois primeiros capítulos e no início do capítulo 6, quando há uma discussão sobre a Lei da Usura. As referências não estão soltas e funcionam bem, especialmente a Monteiro Lobato e a Margaret Atwood (especialmente aquela da página 99, que cai como uma luva – sem spoilers aqui, caro leitor).
Franco atirador contra a heterodoxia
O grande vilão do livro, desde o início, é o que o autor chama de “inflacionismo”, conceito que ele não apresenta diretamente, mas que claramente agrega boa parte dos economistas heterodoxos brasileiros, que dominaram a política econômica no longo período entre 1930 e 1990, ocupando o poder de forma praticamente ininterrupta (os raros interregnos foram os anos de 1954 e 1955 e depois entre 1964 e 1967), insulados do comando político, convivendo tanto com governos de corte mais à esquerda, como sob Vargas (1951-54), JK (1956-60) e João Goulart (1962-64), como aqueles de corte mais à direita, como sob Costa e Silva (67-69), Médici (69-74) e Ernesto Geisel (1974-79).
O auge da heterodoxia, segundo entende o autor, foi verificado na década de 1980 e nos primeiros anos da década de 1990, quando uma sucessão de planos de combate à inflação alta e descontrolada foram aplicados. Eles são analisados, um a um, no capítulo 7, que é também o capítulo com mais adjetivos de todo o livro. É quando o historiador do pensamento e da prática econômica escreve ao lado do economista que passou metade daquela década tocando o mestrado (na PUC-Rio) e o doutorado (no exterior) e a outra metade dando aulas e escrevendo artigos para jornais.[1]
O capítulo é um petardo e os adjetivos saltam aos olhos: “medíocre”, “violência”, “virulência”, “vexaminosas”, “sofrível”, “destrutiva”, “decepcionante”, “trágico”, “rasteiro”, “oportunista”, “desonestidade” e “aberração”. Ele analisa os planos, todos fracassados, de perspectiva ampla. Busca entender a racional das ideias por trás deles (a teoria da inflação inercial, que sustentou a formulação dos planos Cruzado e Bresser e, em menor medida, dos planos Verão, Collor e Collor II), a implementação legal dos pacotes e a avaliação de seus resultados, tanto do ponto de vista de seus objetivos (debelar a inflação) quanto de suas consequências, inclusive com bons exercícios de psicologia: “essas comparações [entre os planos] simplificadas não capturam um dos aspectos mais desestabilizadores do congelamento, mesmo depois de terminado: a perspectiva de novo congelamento ser decretado de surpresa quando a inflação mostrar sinais de descontrole” (p. 513).
Franco critica (corretamente), mas também admite que “houve muito aprendizado, e muitas das técnicas usadas nesses planos foram reproduzidas com sucesso no Plano Real” (p. 473).
Sua discussão sobre o Plano Collor é especial, na medida em que ele não só aponta que, diferente dos antecessores (Cruzado, de 1986, Cruzado II, de 87, Bresser, de 87, e Verão, de 89), não partiu de um debate público robusto prévio, como que o país que já dispunha de uma nova Constituição e de instituições livres e reorganizadas depois do longo regime de exceção, nada fez para controlar ou atenuar os seus trágicos efeitos. Ao confiscar os recursos bancários de todos os brasileiros, pessoas físicas e jurídicas, no susto, sem qualquer aviso prévio, o presidente Fernando Collor e sua equipe econômica (chefiada pela ministra Zélia Cardoso de Mello e o presidente do BC Ibrahim Eris) produziram a mais grave recessão do século XX (as quedas no PIB em 2015 e 2016 se aproximaram da verificada em 1990, mas não superaram) como geraram efeitos psicológicos gravíssimos. Por fim, quando a inflação voltou a se descontrolar, já no fim de 1990, o governo foi forçado a buscar outro plano (que viria a ser o Collor II, de janeiro de 1991) e, com isso, o descontrole da hiperinflação foi mais violento quando também esse plano naufragou – como se a sociedade estivesse se protegendo, pelos preços, de eventuais perdas futuras diante da discricionariedade do Executivo.
É difícil explicar por que um plano hoje considerado aberração e paradigma de arbitrariedade do Estado não teve sua constitucionalidade desafiada logo no início (…) O Plano Collor não foi interrompido nem pelo Legislativo nem pelo Judiciário, e seu fracasso será sempre matéria de controvérsia.
Para este resenhista, a longa obra conta com três omissões, no entanto. Nenhuma delas é grave, porque não altera seu sentido, mas são pontos que certamente adicionariam detalhes importantes ao leitor de “A moeda e a lei”. Invoco as omissões neste momento porque a primeira delas é ligada, justamente, ao Plano Collor.
Nas páginas 522 e 523, Franco registra ser “curioso que não se encontre, nos estudos e debates que o antecederam, uma história intelectual desse plano e de seu diagnóstico implícito”. Como já destacado nessa resenha, ele acerta duas vezes, ao estudar os antecedentes intelectuais do plano e o fato de que, no caso específico do Plano Collor, nada constava antes. Mas há um paper muito interessante do pesquisador Carlos Eduardo Carvalho, da PUC de São Paulo, publicado no início de 2006 (“As origens e a gênese do Plano Collor”), que aponta que as linhas gerais do confisco dos recursos financeiros chegaram a ser debatidas no bojo da campanha presidencial de Ulysses Guimarães, do PMDB, depois do próprio Lula e que finalmente aportaram no grupo Collor. Outro caminho é o livro “Zélia, uma paixão”, em que o escritor Fernando Sabino também aponta, mas em relato contemporâneo (1991), que foi Daniel Dantas, economista apoiado por Mário Henrique Simonsen, quem teria levado a sugestão até o presidente eleito, já no período de transição (entre dezembro de 1989 e março de 1990). As outras duas omissões virão mais à frente, conforme avançamos na resenha.
O livro tem duas joias da coroa, que são os capítulos siameses 3 e 4 e, depois, o 5 e o 6. O primeiro par (3 e 4) trata da política cambial de 1933 a 2013, isto é, sua construção a partir do estabelecimento do papel-moeda de curso forçado e a evolução no trato da moeda brasileira a partir das instituições, basicamente o Banco do Brasil e, depois, o Banco Central. São temas áridos, mas tão bem tratados aqui, que fazem desse par uma joia. A história da Sumoc com o FMI, contadas nas páginas 178 e 179, é impagável – tipicamente brasileira.
O outro par (capítulos 5 e 6) trata do Banco Central e da condução da política monetária. No capítulo, Franco parte do momento em que o Brasil recebeu a delegação estrangeira liderada por Otto Niemeyer, em 1931, para diagnosticar o que era preciso fazer para retomar o padrão-ouro zumbi, até o estabelecimento, enfim, do Banco Central, em lei relatada por Ulysses Guimarães e sancionada já sob a ditadura envergonhada de Castelo Branco no último dia de 1964 (31/12/64), com seu formato quase-independente e seu relacionamento com os demais agentes da política econômica, a época comandada pela dupla Bulhões-Campos (64-67). A longa travessia da Sumoc, de 1945 até março de 1965, é tratada com acertos.
Para tudo isso, Franco vai até D. João VI para apresentar como evoluiu o nosso trato com a moeda e como as autoridades entendiam que deveria funcionar a emissão de moeda (nos Estados Unidos, no mesmo século XIX, era um debate vivo e que pendia claramente para o predomínio da emissão difusa por parte de instituições financeiras privadas, especialmente depois do governo de Andrew Jackson). Dado o pendor do autor para a história econômica desde seu mestrado (concluído em 1982 e que trata do Encilhamento, a primeira crise econômica da República), o capítulo 5 (tal como o terceiro, para o câmbio) flui como um grande livro de história. Aliás, um ponto central do livro está nesse momento, entre as páginas 341 e 344, quando Franco apresenta o anteprojeto de lei do deputado Pedro Luís Correia de Castro, apresentado em 1947 no Congresso Nacional com o objetivo de efetivamente transformar a Sumoc em BC e que figurará até as páginas finais do livro como um exemplo, para o autor, do que um Banco Central não deve ser. Isso porque representaria a “captura do banco central pelo desenvolvimentismo inflacionista” (p. 358). Com a apresentação das leis e projetos e dos debates parlamentares, o leitor tem a sadia liberdade de concordar ou não com as conclusões de Franco.
As duas outras omissões de Franco, no entanto, encontram-se aqui. A primeira: o autor não cita, em momento algum da obra, o trabalho de Ignácio Rangel, que se debruçou sobre o problema da inflação antes de todos, inclusive de Mário Henrique Simonsen. Rangel discutiu o aumento desenfreado e continuado de preços no Brasil em seu livro A inflação brasileira lançado em abril de 1963, onde, inclusive, apresentava uma lúcida discussão sobre como as duas escolas de pensamento mais tradicionais – os monetaristas de um lado e os estruturalistas/desenvolvimentistas do outro – encaravam o problema. E Rangel apontava um caminho alternativo.
Sem cansar o leitor desta resenha, falarei brevemente dessa obra, que poderia facilmente conversar com as discussões apresentadas no livro de Franco. Rangel parte da equação clássica de Fischer (1911) que aponta que o meio circulante (leia-se, o papel e a moeda) explica a variação de preços (a rigor, o deflator do PIB). Tendo que M representa a moeda e P representa os preços, a equação é: MV = PY, em que V indica a velocidade de circulação do dinheiro e Y representa o total físico de bens e serviços. Tal qual os estruturalistas, Rangel inverte a lógica, dizendo ser P o determinante.
São os aumentos de preços que explicam o aumento da emissão de moeda, e não o contrário: “É para socorrer o caixa do Banco do Brasil que o governo emite, o que quer dizer que a inflação não se gera no nível do orçamento da União, uma vez que tem origem no bojo da economia, por efeito de movimentos autônomos da empresa privada”. Mas, criticando tanto os monetaristas quanto os estruturalistas, Rangel aponta que ambos tinham a “ilusão” de que a gênese da inflação se dá numa suposta insuficiência de oferta, sem se atentar para a demanda e o poder de oligopólios na manipulação de preços.[2] Por mais que muito do pensamento esteja superado pelas evoluções teóricas e práticas desde então, Rangel apresentou uma visão importante para o debate ainda no começo de 1963 e, dada a extensa revisão de literatura promovida por Franco, este resenhista entende que caberiam ao menos algumas linhas para seu trabalho.
A segunda omissão é quanto ao importante trabalho do brasilianista John Schulz, historiador pela Yale University e doutor por Princeton que estudou com afinco as finanças públicas e a história econômica brasileira do fim da monarquia e dos anos iniciais da República. Sua obra maior, A crise financeira da Abolição (Edusp, 1996), apresenta um olhar institucionalista para explicar o atraso brasileiro, mas é no tocante ao Encilhamento e ao papel de Rui Barbosa como orientador dos bancos com poder de emissão de moeda que as contribuições de Schulz mais renderiam ao livro de Franco.
Segundo o americano, Rui Barbosa escolheu vencedores, em especial o Conselheiro Francisco Mayrink, ao dar a ele demasiado poder e benefícios para concentrar a emissão de papel-moeda, criando um dos primeiros bancos “too big to fail” no Brasil, exigindo mais e mais ajuda do governo federal conforme a emissão desenfreada aumentava. Mayrink recebeu o direito de emitir 200 mil contos, um montante semelhante à todo o papel-moeda em circulação no Brasil quando da medida de Rui Barbosa (de 17 de janeiro de 1890), além disso, Mayrink também ficou com o monopólio da emissão em Estados ricos como São Paulo, Santa Catarina, Minhas Gerais, Paraná e o Rio de Janeiro.
Diversos contemporâneos de Rui consideravam esse seu decreto de 17 de janeiro um ato escandaloso de favoritismo (…) Três ministros, o general Benjamin Constant, Demétrio Ribeiro e Campos Sales, ameaçaram renunciar. Eles sentiram que Mayrink tinha recebido enormes vantagens sem oferecer nada ao Estado em troca. Se não fosse devidamente supervisionado pelo mesmo ministro que lhe tinha acabado de dar privilégios, Mayrink poderia provocar uma inflação severa e a correspondente desvalorização da moeda. (…) O novo Banco dos Estados Unidos do Brasil, de Mayrink, colocou uma grande quantidade de cédulas em circulação (…) Mayrink imprimiu cédulas com a efígie do ministro Rui Barbosa.
Logo depois de deixar o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa virou sócio do Conselheiro Mayrink, tornando-se diretor em companhias comandadas pelo banqueiro.[3] Por essa razão, Schulz anota em seu livro que, afinal, o grande jurista baiano foi um “oportunista corrupto” quando ocupou o cargo de primeiro ministro da Fazenda de nossa história republicana.
Por fim, o livro de Schulz (editado originalmente em 1996 e reeditado em 2013) aborda a dissertação de mestrado de Franco sobre o Encilhamento, o que aumentaria a possibilidade de diálogo com o economista, mas infelizmente a bola fica pingando e não é chutada por Franco em seu A moeda e a lei.
Que fique claro: o que aqui chamo de omissões não alterariam em nada a história narrada por Franco, mas certamente contribuiriam para deixar seu trabalho ainda mais rico.
O autor personagem
Além de historiador econômico e professor, Gustavo Franco foi parte integrante de nossa história monetária. Em 1992 ele entrou para o governo federal, em Brasília, ao tornar-se diretor do Banco Central. Fez parte, pelo BC, do seleto grupo que formulou e implementou o Plano Real durante o governo de Itamar Franco (1993-94). Comandado por FHC, o grupo contava ainda com Edmar Bacha, Persio Arida e Pedro Malan, tendo contribuições de Winston Fritsch, André Lara Resende e Francisco Lopes. Assim que começou o mandato de FHC, Franco publicou um livro sobre o Plano Real, enquanto mantinha as funções no BC e aumentava a sua influência na política monetária. Chegou à presidência da instituição em meados de 1997 e lá permaneceu por mais de 18 meses, deixando o cargo em 13 de janeiro de 1999, logo no início do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, em meio à dura crise cambial.
Os momentos em que o autor vira personagem são, como era de se esperar, extremamente ricos e, consequentemente, extensos. O capítulo 8, que trata exclusivamente do Plano Real, é o mais longo de todos. Mas Franco também surge como personagem em momentos importantes do capítulo 4, que trata da política cambial nos anos 1990 e da barulhenta CPI do Banestado, de 2003.
A forma como ele trata da implementação do Real exemplifica bem o ponto de chegada do livro, ao mostrar os embates com juristas e economistas em torno de alterações legais para permitir a viabilidade da URV (a moeda fictícia) e do cálculo da inflação no primeiro mês da nova moeda (julho de 1994) pelos diversos índices, de forma a não se deixar contagiar pelos dias finais da moeda corrompida (junho de 1994, com o cruzeiro real) e, com isso, não criar uma nova ciranda de repasses logo na partida do plano.
A rigor, o Real começou em 27 de agosto de 1993, quando FHC, há pouco empossado na Fazenda, realizou uma remonetização forçada, ao trocar novamente a moeda nacional, o cruzeiro (recuperado por Collor depois do cruzado e do cruzado novo), pelo cruzeiro real.
Se não tivesse ocorrido a reforma de 27 de agosto de 1993, um corte de cabelo em 28 de fevereiro de 1994 poderia custar algo como CR$ 110 milhões [cento e dez milhões de cruzeiros], e as quantias maiores, no interior do mercado financeiro, por exemplo, entrariam facilmente no terreno do quatrilhão ou mais, desafiando a capacidade de máquinas de calcular, computadores, etiquetadoras de preços e do meio circulante. No ritmo em que as coisas andavam em meados de 1993, era preciso cortar três zeros a cada ano simplesmente para evitar o ridículo, o que não é assunto trivial quando se trata do sistema monetário. (p. 553)
A gestação do plano ocorria ao mesmo tempo em que a Argentina tinha, aparentemente, superado seus problemas com a inflação a partir da criação de um currency board (simplificadamente: uma espécie de dolarização da economia). A tentação era grande para o Brasil fazer o mesmo e se livrar, de uma vez por todas, de uma taxa que chegara a 82,3% ao mês (!) em fevereiro de 1990 e que em 1993 acumularia 2.477% pelo IPCA (!!). No Brasil, o grande defensor era André Lara Resende. Mas Franco é ferino quanto à ideia:
É difícil negar que o currency board representava uma espécie de fracasso da nação em desenhar instituições monetárias minimamente efetivas para gerir uma moeda nacional de natureza fiduciária; no plano simbólico, parecia uma derrota talvez pior que própria hiperinflação. (p. 556)
A engenharia do Real, afinal, foi bem-sucedida em debelar a inflação descontrolada. Curiosamente, a moeda iniciada em julho de 1994 atingirá em dezembro do ano em que essa resenha é escrita (2018) a mais duradoura permanência, de forma sequencial, de uma moeda própria: 293 meses, ante os 292 meses do cruzeiro de novembro de 1942 a janeiro de 1967. O cruzeiro voltaria ainda em duas outras oportunidades e, ao todo, ainda levará ao Real 231 meses para bater. Mas de forma sequencial, a efeméride estará dada agora em dezembro.
O livro também chega às livrarias num momento curioso do país, em que o Banco Central mantém a taxa básica de juros, a Selic, no menor patamar de nossa história (de 7% ao ano, desde dezembro de 2017, menor ainda que os 7,25% ao ano de experiência fugaz durante seis meses no primeiro mandato de Dilma).
Além disso, o BC foi obrigado a, pela primeira vez, se explicar por ter entregado uma taxa de inflação menor do que o piso da meta perseguida anualmente. O ano de 2017 terminou com um avanço de apenas 2,95% do IPCA, inferior ao piso de 3% (a meta era 4,5%). Foi a segunda menor taxa para o índice oficial desde que ele foi criado, ficando acima, somente, dos 1,6% registrados em 1998, o único ano completo em que justamente o autor de A moeda e a lei presidiu o BC.
Sobre isso, aliás, o autor comete dois raros arroubos na obra, ao dizer que esse resultado de 1998 “colocava o Brasil em um patamar mais elevado de aspirações econômicas, autoestima e mesmo de civilização” (p. 637) e que a inflação baixa naquele ano foi “marca importantíssima para determinar a desintoxicação de mentes e contratos embriagados de expectativas invariavelmente negativas sobre a inflação (…) Era uma revolução cultural” (p. 66).
Sucesso total?
Depende do ponto de vista. Apesar do sucesso de 1998, do ponto de vista inflacionário e também eleitoral (FHC, afinal, foi reeleito presidente em primeiro turno contra a chapa Lula-Brizola), o ano foi muito ruim em aspectos muito relevantes. A taxa de crescimento foi a menor possível, de 0,1%, equivalente àquela verificada no ano da reeleição de Dilma Rousseff (2014). A massa salarial em 1998 era baixa, com alta informalidade, e a taxa de juros chegou a picos de mais de 40% ao ano, enquanto as reservas internacionais eram consumidas de forma acelerada para sustentar a cotação do real em relação ao dólar. No fim do ano, um empréstimo junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) foi crucial para forçar uma mudança de postura do governo no lado fiscal, mas não impediu a maxidesvalorização do real, forçada pelo mercado, a 13 de janeiro de 1999, imediatamente depois da posse de FHC para seu segundo mandato.
O tratamento que Franco dá à crise e à utilização da taxa de câmbio como “âncora” do Real no primeiro mandato de FHC é rigoroso. O autor inclusive aponta que as taxas de juros elevadas, como uma das formas de atração de recursos do exterior para sustentar o câmbio valorizado, era uma consequência do enorme salto do passivo público, decorrente de uma falta crônica de ajuste fiscal e de federalização das dívidas estaduais e municipais, além dos gastos para engolir bancos públicos estaduais e privados que quebraram com o fim da hiperinflação.
Ele mesmo aponta que os gastos com pessoal “explodiram” logo no primeiro ano de FHC e os impactos para a economia de recursos públicos do governo foram “devastadores”. O autor aponta que a ideia de um ajuste fiscal ficou pairando o governo, mas não era implementada nunca, nem mesmo quando anunciada formalmente, a partir do chamado “Pacote 51”, mas que, segundo ele, teve “resultados pífios”.
Sua visão é muito importante, do ponto de vista historiográfico, e, para não cansar mais o leitor, fica o convite para se aprofundar nesse ponto, que o autor apresenta bem na página 638 quando diz que
as dificuldades e hesitações em se conseguir um número decente para o superávit primário (…) resultaram em estressar demasiadamente as outras “âncoras” da estabilização, notadamente o regime cambial, que ficava na vitrine como uma espécie de “pecado original”, quando na verdade funcionava silenciosa e disciplinadamente como o bode expiatório das indecisões e meias-medidas no terreno da política fiscal.
O autor deixa claro, afinal, seguir o entendimento do economista e prêmio Nobel Thomas Sargent, numa paráfrase de Milton Friedman, de que “inflações altas e persistentes são sempre e em toda parte fenômenos fiscais nos quais o banco central é um cúmplice monetário” (p. 645).
Para uma história de 745 páginas, com mais de mil notas (1.022, ao todo, e todas elas estão anexadas ao final da obra), que foi concluída em 27 de fevereiro de 2017 e lançada em novembro do mesmo ano, os pequenos deslizes de revisão são praticamente invisíveis – mas não inexistentes. Na página 379, por exemplo, uma palavra está faltando na frase “Tampouco a influência desse grupo de parece ter sido relevante…”. Na página 649 ficou faltando o registro da nota de número 154, referente à frase de Persio Arida: a nota e o registro bibliográfico estão corretamente apresentados no fim do livro, mas a indicação no texto foi sublimada. Como fica claro são deslizes pontuais, praticamente invisíveis em uma obra dessa envergadura e volume. Prosseguimos, então, para a discussão final.
O futuro da moeda
Ainda que os “inflacionistas”, ou simplesmente uma boa parte dos heterodoxos, sejam os vilões do novo livro de Franco, o autor dá ao menos duas demonstrações claras que o apreço cego a uma escola (qualquer que seja ela, mas, no caso em voga, tratamos da ortodoxia defendida pelo autor) não pode dar certo também. Do ponto de vista histórico, Franco aponta que o relatório do consultor estrangeiro (ou money doctor) Otto Niemeyer, entregue ao governo Vargas em 1931, cheio de “louvores à ortodoxia”, era, naquele momento de crise total mundial, de uma “evidente inutilidade” (p. 165).
O mesmo vale para o pós-2008, quando estourou uma crise de proporções somente semelhantes àquelas do pós-1929. Diferente da Grande Depressão, os bancos centrais agiram rapidamente e de forma sem paralelo, expandindo seus balanços e aumentando enormemente a promiscuidade com o Tesouro, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e no Japão. Se, de um lado, o combate à crise de 2008 deixa claro que a antiga ideia, cara à ortodoxia, de apreço total aos agregados monetários precisa mesmo ser superada, de outro, essa estratégia coloca um peso muito grande para os banqueiros centrais da nova geração, na medida em que terão diante de si um quadro quase sem referência na literatura – especialmente quando a inflação voltar a se mexer nos países ricos.
Fica claro que, apesar de grande apreço à teoria monetarista, Franco se permite uma análise pragmática quando fala da Grande Depressão e da Grande Recessão. Afinal, tempos excepcionais demandam respostas excepcionais.[4]
Esses assuntos, que estão na vanguarda do pensamento neste momento, também são tratados por Franco. No último capítulo há uma discussão importante sobre o estrago que a Lei 11.903, de 2008, fez, ao permitir que o Tesouro Nacional apresentasse números positivos de alongamento da dívida pública, transferindo ao Banco Central o trabalho de enxugamento da liquidez com títulos de rolagem curtíssima a taxas de juros mais altas e com garantia de recompra pela autoridade monetária (as chamadas “operações compromissadas”). Por outro lado, um pouco antes ele reconhece que a forte intervenção no câmbio pelo Banco Central durante o governo Lula e parte do governo Dilma para acumular reservas internais era necessária (“Talvez não houvesse alternativa, considerando os impactos cambiais prováveis de uma flutuação pura” – p. 259).
Franco também entra no debate sobre a crônica, elevada e desproporcional taxa de juros brasileira. Seu olhar, claro, é diferente daquele dos desenvolvimentistas, que encaram esse tema desde os anos 1990. A visão de Franco é, como ele mesmo chama, convencional, na medida em que, em linha com sua explicação sobre os juros altos e o câmbio valorizado de 1994 a janeiro de 1999, esse “acerto” é sintoma do debilitado quadro fiscal brasileiro.
O autor apresenta o estudo de Bacha, Arida e Lara Resende, de 2005, que aponta a explicação institucional, ou melhor, de “incerteza jurisdicional” por detrás dos juros persistentemente altos, como forma de proteção ao credor. Para Franco, a elevada dívida pública doméstica surge como razão mais clara para o problema. Dentro dessa lógica, ele apresenta seu mais duro ataque ao funcionamento do setor público tal como está:
No passado, o Estado socializava prejuízos decorrentes das políticas do café por meio das taxas de câmbio; depois financiava déficits fiscais imensos de forma horizontal, tributando o pobre, o ausente nas composições políticas, os sem voz, os não alcançados pela correção monetária, através da inflação; e agora repete o processo utilizando a via intertemporal, concentrando privilégios no presente e diluindo seus custos no futuro, tributando as futuras gerações também de forma canhestramente impessoal. (p. 729)
Por fim, seu ataque às corporações, ainda no capítulo sobre o Plano Real, é certeiro. Ao analisar o artigo 168 da Constituição, que estabelece um dia específico do mês (!) para o pagamento destinado ao Legislativo, ao Judiciário e ao Ministério Público, Franco escreve:
Só pode ser visto como um tributo à cultura da inflação que se tenha introduzido no texto constitucional uma determinação administrativa tão comezinha, que não pode ser justificada a partir do princípio da independência dos poderes senão com certo rubor, e cujo intuito era proteger o poder de compra dos recursos orçamentários desses poderes, o que, na prática, mas sem o dizer, permitia a essas classes de servidores um privilégio relativamente a outros.
O problema do privilégio, a nefasta cultura do “direito adquirido” que impede alterações substanciais na estrutura dos gastos obrigatórios e a falta de transparência dos atos públicos, nos três Poderes, são temas cruciais para o Brasil encarar adiante.
Para fechar, eu citaria um trecho da obra de Franco que parece central quando o assunto é a gestão das finanças públicas e da moeda (seja ela em formato de papel seja ela essa representação digital de transferências imediatas peer-to-peer de que tratamos no início desta resenha):
Este é o país de Stefan Zweig, cujo futuro nunca chega, pois permanece consumido pelo imediatismo, através de termos de troca muito desfavoráveis entre o presente e o futuro. Hoje parece emergir uma espécie de conflito distributivo intergeracional, ou uma nova consciência sobre o tempo econômico, ao final de uma longa adolescência em assuntos fiscais e financeiros que se apresenta como o grande desafio macroeconômico dos próximos anos. (p. 685/6)
______
NOTAS
[1] Enquanto Persio Arida, André Lara Resende e Chico Lopes, pela PUC do Rio, e Luiz Carlos Bresser-Pereira e Yoshiaki Nakano, pela FGV de São Paulo, todos mais velhos que ele, estudavam a explosão dos preços e o descontrole inflacionário, sugerindo alternativas de políticas públicas (como o “Larida”, que desembocaria no Real), Franco estava estudando a crise do Encilhamento (1891-94). Como ele mesmo destaca na abertura de sua dissertação original, ao registrar agradecimentos aos professores Winston Fritsch, Luiz Aranha Côrrea de Lago e Edmar Bacha por terem “permitido utilizar parte do meu tempo com problemas monetários do século XIX, quando eu deveria ocupar-me com os da atualidade”. Seu trabalho foi realizado entre maio de 1981 e julho de 1982, tendo conquistado depois, em 1983, o prêmio do BNDES de melhor monografia.
[2] Parto da leitura da reedição da obra feita pela Brasiliense em 1978, quando Rangel escreveu um novo posfácio, também ele importante, ao defender a privatização de algumas empresas estatais… no auge do estatismo industrialista tocado pelo governo Geisel!
[3] Antes ainda de deixar o governo, Barbosa recebeu de presente de Mayrink uma residência. Segundo a edição de 18 de agosto de 1890 do jornal Rio News, editado em inglês na então capital da República, citada por Schulz: “Quando o ministro da Fazenda aceita uma valiosa residência do senhor Mayrink e de uns poucos de seus associados próximos, os quais, todos, acabaram de receber privilégios valiosos das mãos do ministro, o mundo exterior experimentará grande dificuldade para fazer a transação parecer bem inocenta e honesta”.
[4] No caso brasileiro, a rápida e forte resposta à crise de 2008 permitiu uma veloz recuperação do crescimento em 2010, quando o PIB cresceu 7,5%, no maior avanço desde os 7,8% atingidos em 1986, o ano impulsionado pelo Cruzado. Já na transição de 2010 para 2011 um aperto para desaquecer a atividade começou, primeiro com as medidas macroprudenciais do Banco Central e depois com o próprio aumento da taxa básica de juros e o fortalecimento do superávit primário com R$ 10 bilhões de arrecadação superior à inicialmente prevista. Lamentavelmente, o conserto parou ali, em 2011, e a partir de 2012 o governo Dilma Rousseff entrou numa ciranda diferente e perigosa. Foi quando o pragmatismo foi definitivamente superado pela ideologia (temas que discutimos em meu Perigosas pedaladas e no livro de Mônica de Bolle que resenhei para esta Amálgama).
João Villaverde
Jornalista, autor de Perigosas pedaladas: Os bastidores da crise que abalou o Brasil e levou ao fim o governo Dilma Rousseff. Foi pesquisador visitante na Universidade de Columbia, NY, e atualmente é mestrando em administração pública e governo na FGV-SP.
[email protected]





