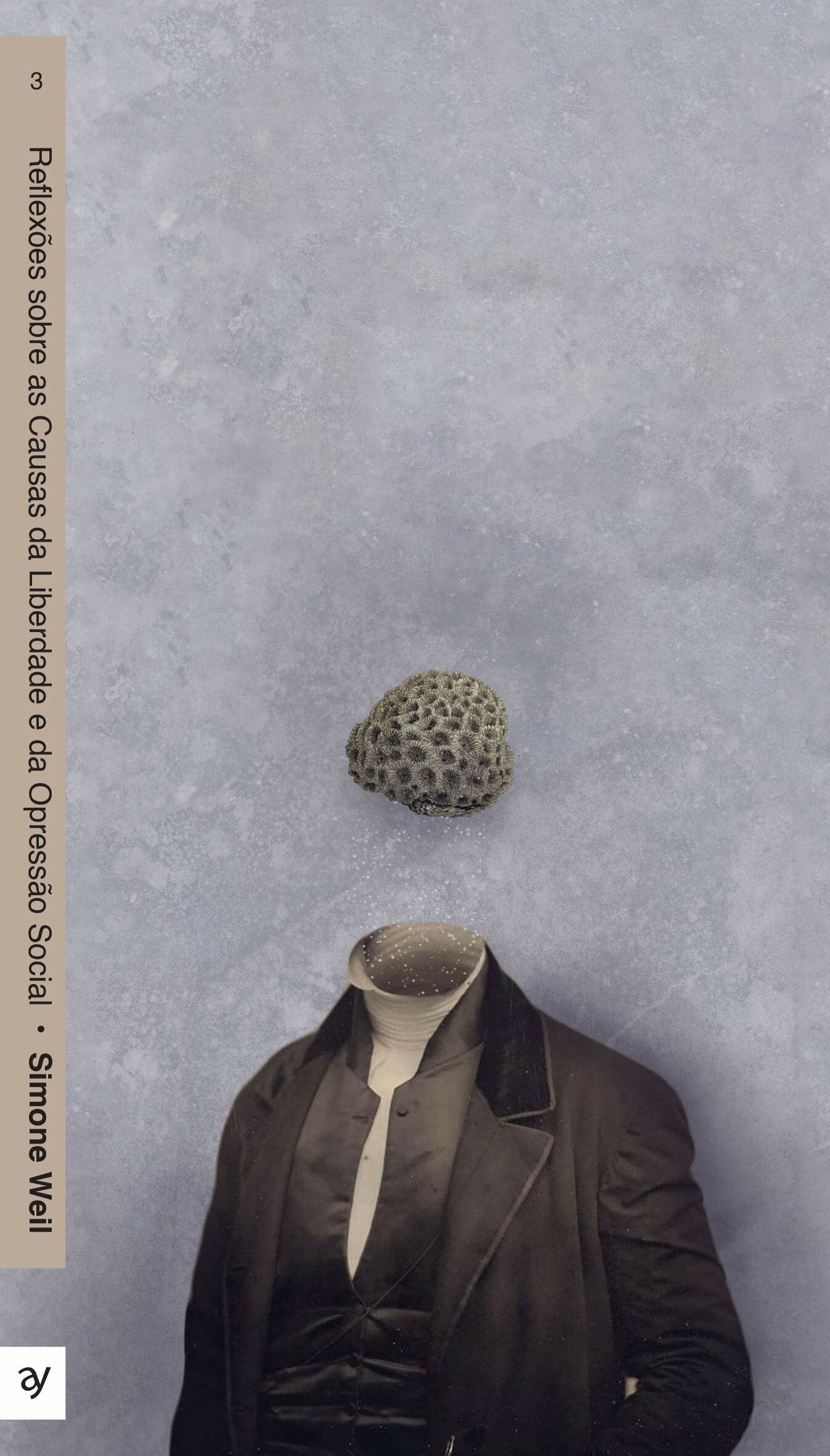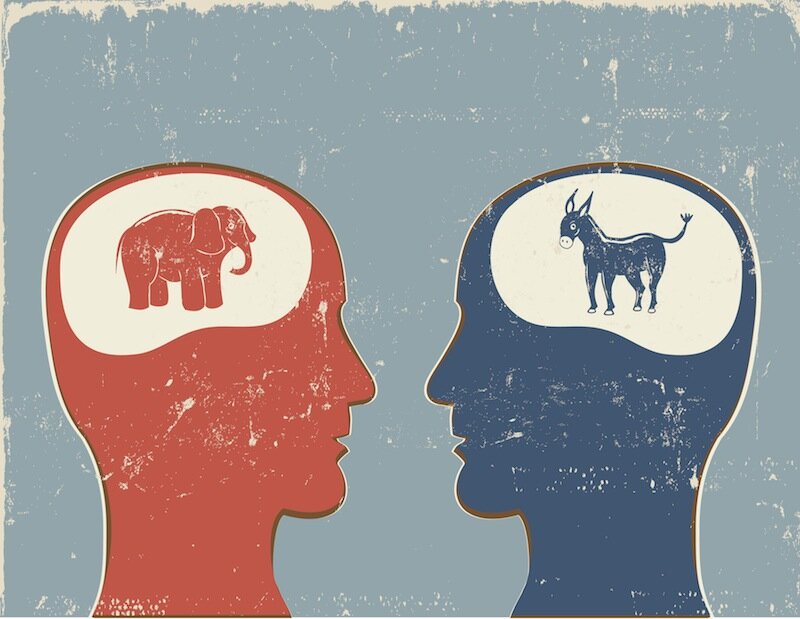Para Arendt a violência não constrói nada, enquanto a política é construtiva e criativa.

Em março de 2018, logo após a notícia do assassinato de Marielle Franco[1], vereadora do PSOL-RJ, as pessoas começaram a se aglomerar em tradicionais pontos de protesto no Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais brasileiras. Eram reuniões espontâneas, em resposta a chamados de amigos ou à própria notícia do protesto. Para muitos juntar-se ou não à multidão foi objeto de deliberação interna, em função de posições políticas de Marielle e do que tomar parte em manifestações àquela altura poderia representar em uma eleição que se sabia ser especialmente tensa.
Tais reuniões nas ruas e praças pelo país não tinham líderes. Eram um luto público em que acabaram se reunindo alguns que tinham estado juntos em 2013, mas se separaram no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Por isso, elas eram uma espécie de reencontro e reabriam a possibilidade de alianças contra problemas e em prol de projetos comuns. Também eram uma saída que honrava a vida de Marielle. A militarização da vida tinha sido objeto de críticas constantes da sua parte: ela assistiu ao deputado do PSOL-RJ Marcelo Freixo na CPI das Milícias, concluída em 2008 na Alerj, e era uma dura crítica da violência policial. Diante da ameaça de se bloquear o caminho para as soluções pacíficas, os ajuntamentos em seu luto o mantinham aberto.
Desde uma perspectiva teórica, a reunião em praça pública, a ação política, desponta como um caminho buscado pelos próprios atores, no bojo de um período marcado por manifestações de rua que remetem a 2013, e que, nesse caso especificamente, respondia à força das armas no Brasil: ela tinha acabado de atingir uma representante eleita que a denunciava no interesse dos moradores das favelas e também dos policiais. Elaborar teoricamente a respeito pode ser importante quando se buscam formas de ação e meios para manter abertos os caminhos à liberdade. Proponho pensá-lo neste ensaio seguindo os passos de Hannah Arendt.
Arendt costuma ser considerada uma teórica da esfera pública, mas o que ela designa com esta categoria me parece menos transparente do que supomos. Um sinal da relativa opacidade da esfera pública no pensamento da autora é a oscilação terminológica em A condição humana, em que Arendt fala em “esfera pública”, “domínio público” e “espaço público” para se referir a uma configuração que ora se confunde com, ora se distingue da esfera da política, mas em todo caso se constitui e reconstitui pela ação. Também não é claro, no conjunto de sua obra, se a esfera social integra a esfera pública, ao lado da esfera política, ou não.
Mas é claro no pensamento arendtiano que a esfera pública é um espaço em que os indivíduos aparecem aos demais e comunicam por palavras e atos tanto o que pensam quanto o que são. Trata-se de um espaço de trocas de ideias sobre o mundo a partir de diferentes perspectivas, de debate e convencimento pela palavra, de persuasão. Por isso ele também é um espaço intersubjetivo, que se constitui pelas interações dos indivíduos uns com os outros, e contingente, dependente dos encontros reiterados e do que Arendt chamou de agir conjunto. Não se trata de um espaço dado ou natural, e sim de um arranjo histórico, artificial e constituído pela ação dos indivíduos. Quando se pensa em assegurar a possibilidade de ação se está falando, por isso, de assegurar a liberdade de reunião e manifestação, a liberdade de interagir uns com os outros e da necessidade, ainda que não da precedência, da esfera pública.
Críticas da esfera pública têm interpelado há décadas a sua universalidade, lançando o desafio de se articular uma postura crítica dos universais, das assimetrias que os construtos do pensamento social e a linguagem jurídica podem encobrir, sem abrir mão, contudo, do universalismo. Muitos pensadoros já o enfrentaram, entre os quais teóricas feministas norte-americanas como Nancy Fraser, Judith Butler e Seyla Benhabib, elaborando principalmente sobre os escritos de Michel Foucault e Jürgen Habermas. Para contribuir com o debate sobre o lugar de práticas militaristas e o entusiasmo com elas no Brasil contemporâneo esboço neste ensaio um esforço inicial por pensar a esfera pública ressaltando aspectos do pensamento arendtiano que nos permitem apreender elementos normativos nas práticas sociais.
Essa abordagem se justifica porque, como se disse, nesse kosmos o espaço público é constituído por interações. Em seu pensamento isso não significa que ele não perdure à ação; ao contrário, o papel primordial do direito no pensamento arendtiano é conferir durabilidade à política, o que ele alcança instituindo a igualdade de todos perante a lei. Essa igualdade formal universal dentro de certo espaço implica que a esfera pública arendtiana tem um componente normativo, que nos ajuda a compreender a centralidade da distinção entre público e privado no pensamento arendtiano e ilumina uma diferença crucial entre ele e o pragmatismo, p.e., para o qual a separação, quando se aplica, não assume papel central.
Entre os teóricos que elaboram sobre o pensamento arendtiano, Richard Bernstein é o que flerta mais claramente com a sua articulação com o pragmatismo. Em dois trabalhos recentes, Richard J. Bernstein recupera a contribuição de Arendt para uma crítica da violência, analisando seus principais escritos sobre o tema e os contrapondo tanto ao ensaio de Walter Benjamin intitulado “Para uma crítica da violência” quanto aos escritos do pensador anticolonial Franz Fanon. Bernstein reflete a partir do postulado arendtiano de que poder e violência são contrários, isto é, excluem-se mutuamente, uma vez que sob a violência imperam o silêncio e a obediência, enquanto o poder resulta da persuasão e, portanto, requer trocas.
Não se nega, com isso, que a violência possa ter papel político. Arendt a considera, contudo, pré-política, o que contraria o entendimento mais corrente da política e de sua confusão com a ação do Estado. Principalmente, o argumento arendtiano implica que a violência pode ter um papel para a política, mas não na política. Retomando Sobre a revolução, publicado no início dos anos 1960, Bernstein ressalta a distinção que Arendt estabelece entre o potencial da violência de libertar da opressão e a liberdade em sentido próprio. No entender de Bernstein, esta última requer a constituição de uma ordem que confira estabilidade às coisas do mundo, institua a igualdade e acolha o agir humano, com toda a sua capacidade criadora. Para Arendt a violência não é, assim, sempre e necessariamente ilegítima: pode-se destruir tudo com ela, inclusive regimes de opressão, como o totalitário ou o colonial; porém, não se constrói nada, enquanto a política é construtiva e criativa.
Tenho a impressão de que essas ideias podem nos ajudar a pensar a violência na política desde uma perspectiva crítica. Mais especificamente, elas podem nos ajudar a pensar o lugar que práticas e ideias militaristas – da polícia, das forças armadas e de grupos paramilitares, ligados ou não ao narcotráfico – têm ocupado em nosso imaginário como saída para os nossos problemas e seus efeitos em nossa esfera pública.
Pensar criticamente esse lugar, é bom esclarecer, não significa negar que a força das armas possa ser usada contra estrangeiros, para a defesa, ou mesmo contra nacionais, para a segurança pública, mas de fato implica partir do entendimento de que em uma democracia a violência deve ser um meio de assegurar o cumprimento das leis, e não um instrumento para descumpri-las, menos ainda um meio para ampliar o poder do Estado em relação aos cidadãos e outros que se encontram em seu território. Mesmo que o Estado atue para ampliar seu poder, a perspectiva arendtiana sugere que a política não se resume à ação estatal, nem se confunde com o que se passa no Estado, sendo mais estreitamente ligada às ações conjuntas, que não raro se dão a despeito do Estado, ou mesmo contra ele, com base nas quais os termos da nossa coabitação são estabelecidos.
O direito, que tem a força por objeto, é um instrumento para esse fim. Como afirma Hans Kelsen[2], ele regula a força, distribuindo competências e estabelecendo padrões de licitude. Os corpos de normas que regulam o uso da violência, constrangendo quem a usa a justificá-lo publicamente, são o direito constitucional, o direito penal (aí incluído o militar), os direitos humanos e, em caso de conflito armado, o direito internacional humanitário. O assunto não mereceu grande atenção de Arendt, mas a sua crítica dos direitos humanos e das leis de guerra fornece algumas pistas úteis: (i) a personalidade moral como condição para os direitos humanos, entendidos como direitos positivos internacionais aplicáveis à universalidade das pessoas; (ii) o caráter intersubjetivo do humano, construído nas relações entre as pessoas, e não um dado (daí a necessidade de destruí-lo política e socialmente antes de aniquilá-lo fisicamente); (iii) a impossibilidade de usar certas armas e, conforme o caso, mesmo bombardeios aéreos sem violar o princípio da discriminação entre combatentes e não combatentes.
Limito-me aqui a indicá-las e a apontar seu potencial. No que se refere às leis de guerra, a crítica de Arendt aparece em suas Origens do totalitarismo e o polêmico Eichmann em Jerusalém. Arendt era uma crítica do flerte de parte da esquerda com a violência na política e da apologia que vozes como Jean-Paul Sartre lhe pareciam fazer dela. Por isso desgostava do ensaio de seu amigo Benjamin sobre o tema. Em dois ensaios dos anos 1930, intitulados “Experiência e pobreza” e “O narrador”, Benjamin pensa como a guerra impactou nossa possibilidade de comunicar as experiências vividas, ao mesmo tempo, compartilhadas e impossíveis de compartilhar, porque incomunicáveis e portanto intransmissíveis. Então teríamos, da Primeira Guerra mundial em diante, fragmentos impossíveis de tecer em um fio único, linear e em um tempo homogêneo. No que toca às leis de guerra, uma profusão de diplomas regulando os conflitos armados que, no entanto, não se conseguia observar na prática. Ecoando seus escritos, Arendt assinalava a Primeira Guerra Mundial como uma ruptura do mundo que sua geração conheceu, inclusive porque observar ou não o princípio da distinção entre combatentes e não combatentes, circunscrevendo os efeitos das armas de guerra ao campo de batalha, já não era apenas questão de vontade ou estratégia.
No que interessa à segunda daquelas três pistas – o caráter intersubjetivo do humano –, ela remete a uma crítica recorrente dos direitos humanos, e uma referência na teoria crítica para pensá-la são os escritos de Seyla Benhabib. Para abordá-la, Seyla Benhabib insere Arendt no debate sobre o cosmopolitismo, refletindo a partir da ideia arendtiana de um “direito a ter direitos”.
Essa é uma ideia consagrada, com eco em diferentes campos de saber. Não é o caso de nos determos nela aqui, mas é pertinente ao menos assinalar que quando afirma que há um “direito a ter direitos”, no último capítulo da parte de suas Origens dedicada ao imperialismo, Arendt chama a atenção para um direito precedente a todos os direitos humanos, um direito não escrito e não instituído, imprevisto pelo pensamento jurídico e político, o qual ao longo do século XX teria se mostrado, no entanto, uma condição para se poder falar seriamente em direitos humanos. Com o termo “direito a ter direitos” Arendt designa a importância do pertencimento a uma comunidade em que as ações e opiniões tenham significado (no pensamento arendtiano não se trata de um direito moral, mas esta é uma discussão à parte).
Benhabib afirma que entre tudo o que a fórmula arendtiana pode designar está a personalidade jurídica, ou o reconhecimento formal do sujeito como uma pessoa para fins de direito, ou como um par nas interações sociais, nos termos de Nancy Fraser. Uma leitura dos direitos humanos nessa linha possibilita entender o direito a ter direitos como uma condição de fato para que as arenas públicas cheguem a se formar, ou seja, uma condição ontológica (e não lógica, de direito ou de pensamento) para a ação que, no entanto, encerra o compartilhamento de valores. Pensando nessa linha, é a reunião e são as interações que dão forma ao espaço público, o que significa que o espaço não precede o público, e sim depende dele. Não menos importante, as reuniões representam uma igualdade nas interações, isto é, tornam presente em público a possibilidade prática de estarmos junto em torno de um propósito comum.
Nas relações internacionais o direito à personalidade jurídica, uma espécie de tradução jurídica do direito a ter direitos, só adquiriu status formal em 1948, quando foi enunciado pela Declaração Universal. Depois, em 1966 ele ainda foi inscrito na ordem internacional pelo Pacto da ONU sobre Direitos Civis e Políticos e, desde então, tem sido consagrado e reafirmado em ordens jurídicas nacionais. Sua inscrição no direito internacional e nas ordens nacionais não significa que Estados e outros grupos não o negam e o desrespeitam na prática: sabemos por experiência e pela jurisprudência que as violações aos direitos humanos são corriqueiras, podendo ser socialmente dramáticas e politicamente relevantes. Por força do direito internacional, porém, sua negação pelos Estados já não os suprime formalmente, e na prática os direitos humanos não estão a reboque dos direitos dos cidadãos, dado que o “direito a” da fórmula designa um status nas relações no interior da sociedade política. No limite, o direito internacional o instituiu, mas os laços políticos e sociais que o amparam podem, ao menos em um primeiro momento, contrapor-se ao descompromisso do Estado com os direitos humanos. Em outras palavras, eles podem criar condições para formas de resistência a processos de destituição de direitos, como a substituição do julgamento pela execução sumária, e aniquilação de modos particulares de existência.
Como líder política e defensora dos direitos humanos, Marielle ocupou as ruas ao lado de mulheres, moradores das comunidades cariocas, negros e pessoas LGBT para demandar direitos e denunciar tanto a sua negação, a recusa de reconhecer certos sujeitos como sujeitos de direitos, quanto a sua violação. Foi crítica da violência policial, em especial nas comunidades do Rio de Janeiro, mas também mobilizou as instituições contra grupos paramilitares e em prol de policiais na ativa, por seus direitos como servidores públicos, e de familiares daqueles que morriam em serviço. Não sei se pretendia ir ao sistema interamericano de direitos humanos, mas sua mulher, Mônica Benício, acionou-o para pressionar o governo brasileiro a esclarecer sua execução, e é um caminho apropriado, que se articula com o luto público em ação política. As ações de Marielle desafiaram a ideia de que “direitos humanos é coisa de bandido”. Hoje, lembrá-las publicamente é contestar o lugar dessa ideia entre nós, o modo como ela concorre para moldar nossa esfera pública. É abrir caminho para reconstituir nossa comunidade política, é redefinir quem conta e quem não conta entre nós, e restabelecer parâmetros de justiça para nossa vida em comum.
______
NOTAS
[1] Pait, Heloisa; Nagamine, Renata. Marielle, Presente! Um luto político e uma reconfiguração da política nacional. In: Vitale, Denise; Nagamine, Renata (orgs.). Gênero, direito e relações internacionais: debate de um campo em construção. Salvador: Edufba, 2018.
[2] Bobbio, Norberto. Direito e poder. Tradução de Nilson Moulin. São Paulo: Unesp, 2008.
Renata Nagamine
Doutora em direito internacional pela USP e pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UFBA.