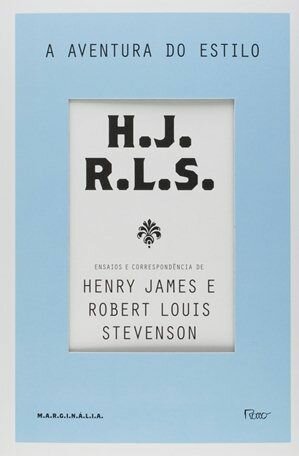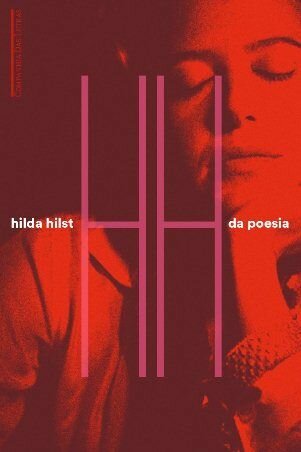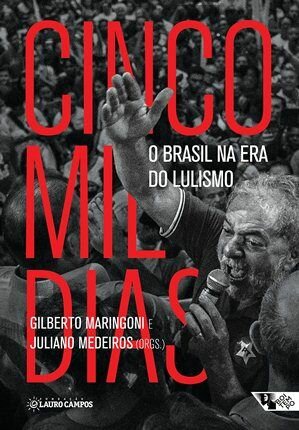A decisão do STF de autorizar a prisão de réus em 2ª instância foge do texto constitucional.

No dia 17 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a execução provisória da sentença penal proferida em segunda instância é possível no nosso sistema jurídico, isto é, que o cumprimento da pena desde a decisão proferida naquela instância não ofende o princípio da presunção de inocência. Essa decisão coloca o problema dos limites da decisão judicial, isto é, o que é aplicar o Direito? Quais são os limites de uma decisão judicial? Quais são os limites ao poder do judiciário de “dizer o Direito” (juris dicere – jurisdição)? Para melhor equacionarmos este problema, precisamos, primeiramente, de uma abordagem histórica.
A república de Weimar teve curta duração. Hitler e o partido nazista tomaram o poder em 1933 e estabeleceram uma ditadura de fato: embora a constituição de 1919 estivesse formalmente em vigor, ela era ignorada e seus dispositivos não geravam efeitos jurídicos. Olhando para o modo como Hitler havia tomado o poder – através de eleições hígidas e seguindo todas as regras – e a facilidade que ele teve para retirar direitos de parcela dos cidadãos, o constituinte alemão percebeu o acerto do modelo americano de constituição: por um lado, a existência não apenas de um processo dificultoso de reforma constitucional, mas de “cláusulas pétreas” – entrenched clauses – que estivessem fora do alcance de qualquer maioria; por outro lado, o mesmo constituinte percebeu o acerto do modelo kelseniano adotado na Áustria em 1920: a existência de um tribunal sem competência recursal e que julgasse apenas a constitucionalidade dos atos normativos (controle concentrado), isto é, um guardião da Constituição. Nascia, assim, um novo modelo de Constituição e um novo constitucionalismo.
Em um momento anterior, os Estados Unidos foram fundados com base em diversos princípios iluministas, entre eles, aquele da separação dos poderes. É por esse princípio, por exemplo, que aquele país tem um tribunal supremo, isto é, um tribunal com competência quase que somente recursal e que dá a última palavra sobre o Direito. Além disso, através de diversas disputas doutrinárias que culminaram com a decisão da Suprema Corte de 1803 em Marbury v. Madison, o poder judiciário daquele país estabeleceu o seu poder de verificar a constitucionalidade dos atos normativos em qualquer instância (controle difuso).
O Brasil, também nesse aspecto do controle de constitucionalidade, é um país sui generis. Como, pela nossa colonização, fazemos parte da tradição continental européia, sofremos influência do constitucionalismo alemão do pós-guerra. Entretanto, pela proximidade com os Estados Unidos, sofremos também influência das instituições daquele país. Assim, no Brasil temos controle difuso – tal qual no nosso vizinho do norte – e controle concentrado – tal qual na Alemanha. Logo, nosso STF tem competência originária para julgar ações constitucionais – tal qual o TFR alemão – e competência recursal – tal qual a Suprema Corte americana.
Os efeitos sobre o nosso sistema são os mais diversos. Por um lado, a ausência de um stare decisis combinado com o decisionismo reinante por aqui permitem que a competência recursal do tribunal supremo (o controle difuso) produza uma situação caótica que leva a um aumento exponencial dos casos levados ao STF – recentemente, por exemplo, o tribunal decidiu dois casos de furtos de galinhas! Por outro lado, a corte suprema, por ser “bombardeada” com uma quantidade infindável de casos de – para sermos “brandos” – baixo pedigree constitucional acaba perdendo a visão e o respeito necessários para a tarefa de guarda da constituição. Isto é, não consegue manter uma visão contramajoritária para a defesa dos direitos fundamentais postos e pressupostos no texto constitucional.
É por isso que vemos o tribunal, nas suas razões de decidir, apresentar argumentos morais e/ou de política, como o “clamor popular”; a “eficácia”; ou que “em outros países é assim” – aliás, o uso do direito comparado não como auxílio para interpretar casos semelhantes, mas como modo de “superar” o texto constitucional é um caso que daria uma tese de doutorado nos votos dos ministros – e etc.
Foi Dworkin quem estabeleceu a diferença entre duas espécies de argumentos para fundamentar as decisões em Estados Democráticos de Direito. Os argumentos de política fazem menção a razões utilitaristas para se proceder de dado modo: são típicos da lógica da maioria. Como exemplo, podemos citar a decisão sobre criar-se um novo tributo. Ela é defendida e atacada através de argumentos que exploram se o tributo beneficiará ou prejudicará o bem comum. Assim, qual será o seu efeito sobre a eficácia da economia; a experiência de outros países que utilizam tributo parecido; seu efeito sobre o custo de vida; e etc.
Já, para ele, decisões jurídicas devem ser fundamentadas através de argumentos de princípio que são aqueles que, a partir de um caso concreto, realizam uma reconstrução da historia institucional do sistema jurídico e, combinando princípios e regras, extraem uma norma jurídica do ordenamento que mantém a sua coerência e integridade. São argumentos que levam em conta quais os princípios que regem as leis e quais os direitos, de acordo com as leis, as pessoas têm. Além disso, voltam-se para o modo como o direito foi lido anteriormente para estabelecer o modo como ele deve ser lido. Basicamente – para utilizar-se da metáfora de Dworkin (“romance em cadeia”) – as novas decisões devem ser como novos capítulos de um mesmo romance.
Assim, podemos perceber que, para a defesa da democracia, não basta que os cidadãos se autogovernem (governo da maioria). A história nos ensinou que, além de direitos inalienáveis, precisamos que o judiciário defenda esses direitos de maiorias ocasionais. Mas, acima disso, precisamos que nossa prática jurídica estabeleça limites aos poderes de decidir do próprio judiciário. E estes limites são postos na forma de uma teoria da decisão judicial que estabelece critérios para decidir e para fundamentar as decisões. Desse modo, não basta que o judiciário seja obrigado a fundamentar suas decisões; é necessário que esses fundamentos sejam emanados dos fatos e do Direito de modo válido. O judiciário não pode tomar decisões por razões estritamente políticas. Com certeza seu atuar é sempre político em certo sentido. Mas ele não pode ser político no sentido de abster-se de considerações utilitaristas sobre o bem comum, função da legislatura.
Logo, a decisão do STF da última quarta-feira deve ser analisada pelos seus fundamentos jurídicos, isto é, pela sua coerência com o ordenamento e pelo modo como mantém – ou não – a integridade desse sistema. Neste sentido, as notas da AJUFE e da ANPR, ao se preocuparem mais com argumentos de política e com os efeitos da decisão sobre o sistema judicial, revelam apenas sua vocação para corporações de ofício: meros órgãos representativos de classes. Já a nota da OAB é melhor ao remeter ao texto constitucional, bem como formular argumentos de política.
Assim, a decisão do STF não interpreta o texto constitucional. Ela foge do texto – através de argumentos de política e morais, como dissemos – para poder relativizá-lo. Isto porque ela viola o conteúdo semântico mínimo do texto constitucional. Ele representa a primeira limitação ao intérprete quando está no processo de atribuir sentido ao texto normativo: refere-se aos possíveis significados que os termos presentes no texto podem expressar. Assim, por exemplo, “veículo” pode significar diversos termos, como “carro”, “moto”, “ônibus”, “caminhão”, etc. Entretanto, este termo jamais poderá significar “prédio”. A decisão do STF não respeita o conteúdo semântico mínimo de termos como “trânsito em julgado”, por exemplo. De fato, os ministros pouco lidaram com o conteúdo do inciso: eles encontraram modos de contorná-lo (o voto condutor da maioria, do relator Teori Zavascki, cita apenas uma vez o texto do inciso em uma citação de uma obra de Gilmar Mendes).
Obviamente, princípios possuem uma dimensão de peso: sua força em um determinado caso concreto pode ser bastante reduzida. Entretanto, jamais podemos afastar a sua aplicação ignorando-se o conteúdo semântico mínimo e sem apresentar argumentos de princípio que fundamentem porque, naquele caso, as pessoas têm (ou não têm) tais e tais direitos.
Entretanto, a decisão do STF não se deu por razões de direito, mas por argumentos de política. Ora, os próprios ministros nos seus votos admitiram que Peluso (na época presidente do STF) arrependeu-se do voto que deu em 2009 – quando o STF mudou sua jurisprudência para respeitar o conteúdo semântico mínimo do inciso constitucional – e por isso propôs a emenda constitucional que ficou conhecida como “PEC dos recursos”. Pois bem, se o Legislativo não deu encaminhamento à referida proposta passados quase 5 anos, só podemos concluir que esse não é o interesse dos representantes da maioria. Quanto ao STF, por outro lado, parece estar fazendo aquilo que acredita que o Legislativo deveria ter feito – mas não fez. Será essa mais uma manifestação do “iluminismo do STF”, papel da corte defendido pelo ministro Barroso?
Por outro lado, as reações à decisão do STF mostram como diversos setores da sociedade civil pouco apego têm aos direitos declarados pela nossa constituição. O juiz Sérgio Moro, por exemplo, disse que considera a garantia constitucional “exagerada”. E que em nome da diminuição da “morosidade” e do aumento da “eficácia” da jurisdição penal pode ela ser relativizada. Na contramão dos próprios argumentos daqueles que saudaram a decisão como fechando “uma grande janela de impunidade”, podemos perguntar: então, antes de 2009, o Brasil tinha um processo penal eficiente? Não existia impunidade? Ainda, para aqueles que dizem que são poucos os processos modificados em Brasília, será que 25% é pouco? Quanto seria muito? Isso só mostra como a alteração em nada afetará os problemas apontados pelos Ministros e por organizações da sociedade civil. Não há um excesso de direitos que impede a “eficiência” da justiça penal. Isto é uma falsa questão. Temos uma justiça penal que funciona desigualmente. Aqueles que estão descontentes com o alcance dos direitos declarados na carta apenas podem realizar suas pretensões através da quebra institucional, da revolução: não podem posar de democratas se não respeitam a democracia.
Sabendo, ainda mais, como é a justiça brasileira, em que cada tribunal de justiça é uma ilha com jurisprudência própria e imune a decisões do STF e do STJ (exemplos aqui, aqui e aqui), é fácil perceber que essa decisão é um “puxadinho hermenêutico”. A decisão em si não é o mais importante, mas sim o imaginário que ela representa: ao invés de reformas legislativas que mudem a estrutura do sistema e ajam nas causas do problema, relativizamos as garantias constitucionais. Como diria o jurista Lênio Streck: Bingo! O Nobel é nosso!
Hugo Guimarães
Bacharel em Direito pela UFPR, com mestrado em Filosofia pela mesma instituição.