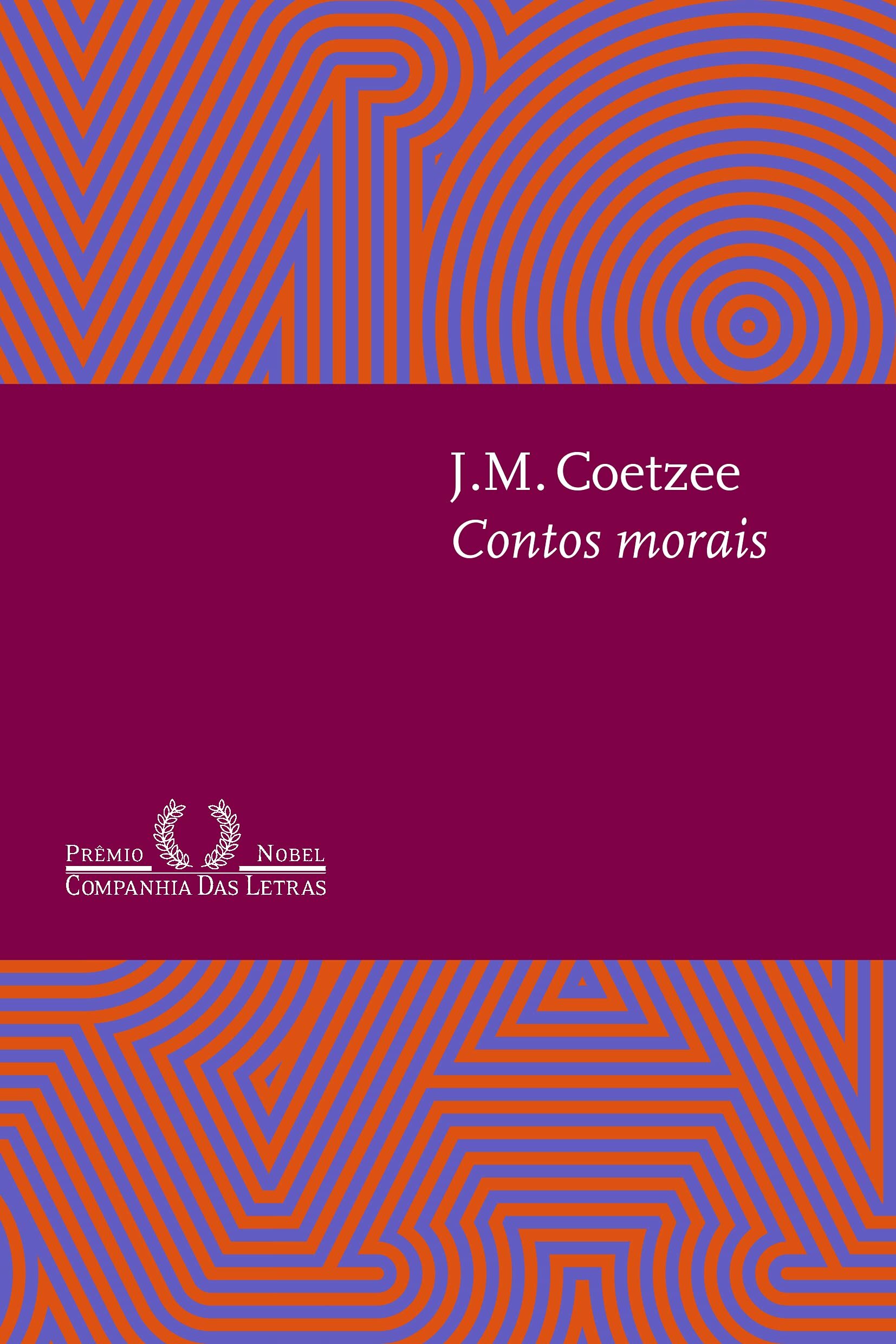As leituras equivocadas que "Stoner", de John Williams, recebeu no Brasil.
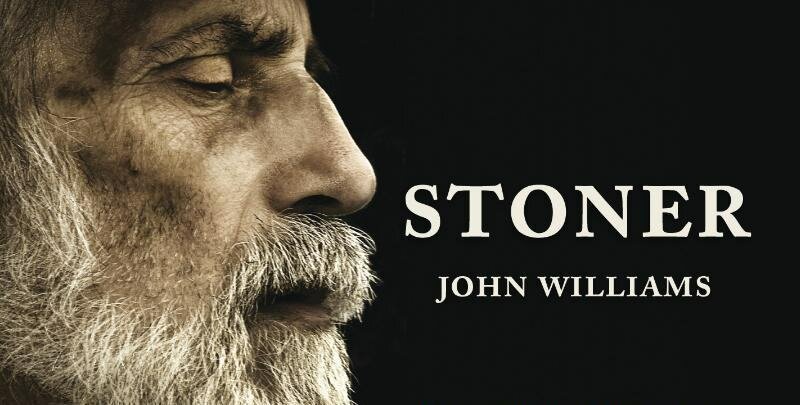
Um estranho fenômeno literário ronda o Brasil: o ressurgimento de um romance que, na época do seu lançamento, poucos prestaram atenção em seu país de origem (os Estados Unidos), mas que lentamente adquiriu a reputação de um clássico redescoberto. Trata-se de Stoner (1965), de John M. Williams (e, por favor, saibam que não se trata do compositor homônimo dos temas de Star Wars, Superman e Indiana Jones).
Mas por que isso teria ocorrido, não só aqui, mas também nos EUA, onde este livro desconhecido tornou-se um cult? Afinal, a história do romance é muito simples. É sobre a vida “aparentemente sem aventuras” de William Stoner, filho de fazendeiros que se torna professor de literatura inglesa clássica na Universidade do Missouri, casa-se com uma esposa insuportável, tem uma filha alcoólatra, depois redescobre alguns prazeres com uma amante que era sua aluna, briga com um colega do departamento de Inglês, escreve um livro que ninguém leu e, finalmente, como sói de acontecer com todos nós, morre no mais profundo esquecimento.
No momento, não me interessa a recepção do livro nos EUA – mas sim como ele foi lido e analisado no Brasil, em especial nos meios onde ele foi extremamente bem recebido e que, hoje, fazem o papel de crítica literária que antes cabia aos luminares da academia ou então aos críticos de rodapé. No caso, os blogs, os sites e os jornais alternativos que discutem literatura moderna e contemporânea com uma intensidade raramente vista.
Assim, quem se propõe a ler os textos que discorreram sobre o romance de Williams, percebe algo que salta aos olhos: todos os resenhistas tratam essa vida “aparentemente sem aventuras” como se fosse uma “vida sem sentido” – uma confusão que se revela como uma pura besteira.
Antes de tudo, vamos ao livro em si. Para quem ainda não o leu, eis a postura deste texto: Stoner é sobre o relacionamento de um homem como todos nós (o fato de ser um professor de literatura é um detalhe, já que ele poderia ter qualquer outra função, como veremos em breve) com as diversas facetas do Amor. Este é o tema principal de toda a narrativa, conforme William Stoner depara com os aspectos da afeição (dirigidas à filha Grace), da amizade (na confiança que tem com Gordon Finch e na saudade do amigo falecido na Primeira Guerra Mundial, Dave Masters), do eros (no relacionamento proibido que teve com sua aluna, Katherine Driscoll) e do ágape (na vocação pelo estudo apaixonado da literatura). Todos os rostos deste sentimento convergem para o confronto inevitável com a morte (thanatos), que destrói tudo, sem dúvida, mas também complementa e intensifica a força construtiva do Amor.
A recepção crítica no Brasil quer mostrar que o romance é exatamente o contrário, na tentativa de provar que suas intenções narrativas não passam de variações, em maior ou menor grau, de um niilismo de boutique. Estes são os casos dos textos de Eder Alex (com direito ao seguinte trecho sobre o personagem-título: “Os livros o transformam, o fazem ser quem ele é, mas não o salvam de nada (afinal, precisamos ser salvos do quê?), pois no fim das contas nada nos livra do sofrimento de enfrentar o tempo, a solidão e a inexorabilidade de existir. Nem mesmo o amor.”); Rafael Rodrigues (que o elegeu como um dos melhores livros publicados em 2015 para este site Amálgama e tentou definir William Stoner como “um professor universitário que viveu de maneira estoica, passiva, deixando-se levar em praticamente todos os momentos de sua vida, e que não fez nada de extraordinário.”); e Camila Von Holdefer (a única que chegou perto de entender realmente o assunto do livro, ao comentar en passant que se trata de “uma vida mais ou menos banal e regular, e mesmo insípida”, apesar de que “no íntimo o personagem é (pelo mesmo motivo) atormentado por um peculiar senso de justiça e virtude.”¹).
Tais observações mostram que qualquer livro estrangeiro que surja no Brasil com alguma qualidade será recepcionado como se fizesse parte de um desastre epistemológico. O niilismo que se vê refletido em cada palavra desses resenhistas não é algo novo. Ele é consequência radical do “esteticismo” que impera na cultura brasileira e que, infelizmente, poucos se dão conta que exista em cada uma das suas ações, em cada um dos seus pensamentos. Este fenômeno bizarro foi analisado brilhantemente por Mario Vieira de Mello em seu livro Desenvolvimento e Cultura (1963), quando ele mostra que a alma brasileira – este bicho estranho que muitos intelectuais da nossa raça tentam reduzi-lo ao extremo, independentemente de serem da direita ou da esquerda – não consegue encarar a existência como um problema moral, em que o Bem e o Mal são objetivos, dependentes de uma escolha singular, mas sim como uma questão estética, igual a uma obra de arte em que você pode modificar à vontade, mesmo que isso ocorra às custas dos outros ou até de si mesmo.
A distorção da leitura de uma obra estrangeira no ambiente cultural brasileiro é uma tendência digna de ser estudada no campo da pneumopatologia. Podemos perceber isso no modo como o nosso Romantismo foi incapaz de apreender o melhor que havia no movimento romântico inglês ou até mesmo no alemão: em vez de preferirem a audácia de Wordsworth e Coleridge, ficaram com as obsessões de Byron e Shelley; em vez da profundidade de Hölderlin e Goethe, optaram pela fragmentação de Schiller e outros de obras menos ambiciosas. Isso sem falar no romantismo francês, em que os cacoetes estilísticos de um Victor Hugo ou de um Alexandre Dumas foram os nortes para a maioria da produção de romances, no exato momento histórico em que o gênero florescia no Brasil. E não pensem que parou por aí: exceto por Machado de Assis – que fez a leitura idiossincrática e correta de Laurence Sterne e Jonathan Swift –, a maioria dos realistas decidiu pelo fisiologismo de Émile Zola em detrimento ao perfeccionismo de Gustave Flaubert; e, se avançarmos um pouco mais na linha do tempo, sempre teremos o Modernismo de 1922 que, ao escolher Marinetti, Blaise Cendairs e Guillaume Appolinaire, esqueceu-se de T.S. Eliot, Yeats e até mesmo do indefectível James Joyce, todos com livros fundamentais publicados no mesmo ano em que ocorreu a Semana de Arte Moderna.
Esses mesmos nomes só seriam recuperados posteriormente pelo maior sistema de cooptação literária que já aconteceu por essas bandas – o Concretismo. Liderada pelo trio “parada dura”, formado pelos irmãos Haroldo e Augusto de Campos, mais o publicitário Décio Pignatari (com ocasionais intervenções de José Lino Grunewald, Mario Chamie e Ferreira Gullar, sendo que os dois últimos romperam com o movimento), a chamada “escola concretista” foi a responsável direta não só pela má interpretação da própria literatura brasileira (como as reavaliações de poetas decididamente ilegíveis como Sousândrade), mas principalmente do modernismo europeu que sacudiu o século XX. Para os concretistas, por exemplo, o importante ao analisar os escritos de Stéphane Mallarmé (uma das grandes influências simbolistas nos versos de Yeats) ou de Ezra Pound – sem contar a obra de Joyce, o Eliot de The Waste Land, o Goethe do Fausto II, chegando até mesmo nas meditações do Eclesiastes – nunca foi o dilema existencial ou metafísico sobre o qual elas meditavam e sim a inovação formal, a tal busca pela “morte do verso” ou “o acaso da arte da palavra”, sem imaginarem que, em geral, um elemento estava inextricavelmente ligado ao outro.
Esta “apropriação indevida” não se deu somente com os gigantes ou com os pequenos da literatura mundial; deu-se também com um de nossos maiores poetas – o pernambucano João Cabral de Melo Neto, que, também por vontade própria, permitiu que o Concretismo cooptasse a sua obra em função de uma “revolução estética” que procurava “o mínimo múltiplo comum da linguagem”. Na verdade, tratava-se de uma “tática de autolegitimação”, como bem mostra Antonio Carlos Secchin em seu livro Uma fala só lâmina (Cosac Naify, p. 400, 2015), em que o uso de “parcos e nobres antecessores (Mallarmé, Oswald, Cabral) acaba, implicitamente, desqualificando a quase totalidade da poesia pregressa e contemporânea, culpada, entre outras mazelas, pelo anacrônico hábito de utilizar versos para compor um poema”. É fato que João Cabral nunca compartilhou desta visão, mas, ao mesmo tempo, justamente por ser um dos influenciadores do “plano-piloto” (uma homenagem dos poetas paulistanos à utopia de Brasília), deixou que isso acontecesse sem nenhum receio, incapaz de perceber que, com essa omissão, transformou o Concretismo, na prática, em “um máximo divisor de tendências, por meio de grupos e subgrupos envolvidos em guerrilhas pelo poder literário, com ramificações e controvérsias que até hoje perduram nas querelas da crônica menor de nossas letras”.
É óbvio que os resenhistas de Stoner não fazem (e, suspeito, nem querem fazer) parte da cooptação concretista, mas o equívoco de leitura de ambos os grupos tem origem na mesma raiz – e segue a mesma linha de raciocínio. Não se trata apenas de um “niilismo mal resolvido”, como supõem alguns que ainda não entenderam o que está em jogo na arapuca esteticista, mas infelizmente de um entorpecimento funcional e moral pleno, no qual poucos sabem pesquisar ou até mesmo encontrar as informações mais elementares sobre o livro que tentam compreender.
Acham que estou exagerando? Então vejamos o que o próprio John Williams diz² sobre sua criação numa rara entrevista feita próximo da sua morte, devido a um ataque cardíaco, em 1994:
Penso que ele é um herói de verdade. Várias pessoas que leram o romance pensam que Stoner teve uma vida tão ruim e tão triste. Penso que ele teve uma vida excelente. Com certeza, teve uma vida muito melhor do que a maioria das pessoas tem. Ele fez o que queria fazer, tinha carinho por aquilo que fazia, tinha senso da importância do trabalho que realizava […] O mais importante para mim, em relação ao romance, é o senso de trabalho de Stoner. Ensinar, para ele, é um trabalho – um trabalho no sentido bom e honroso da palavra. Foi o seu trabalho que lhe deu um tipo particular de identidade e o tornou o que ele foi […] É o amor pela coisa que se torna essencial. E se você ama alguma coisa, você a entenderá. E se você a entender, aprenderá muito sobre ela. A ausência deste amor define um mau professor […] Você nunca sabe as consequências do que realiza. Penso que tudo se resume àquilo que tentei realizar em Stoner. Você deve persistir na fé. O mais importante é manter a tradição viva, porque a tradição é a civilização.
Aqui, fica claro que não se trata de confundir os desejos do leitor e as intenções do autor, no melhor estilo do aforismo de D.H. Lawrence: Trust the tale, not the teller. Trata-se de esquecer completamente o que Williams pretendia com seu próprio livro – algo que não pode ser esquecido como se fosse um mero detalhe hermenêutico. Para o romancista, William Stoner é definido por seu trabalho, sem dúvida, mas isso acontece com qualquer um de nós, independente da função que desempenhamos na sociedade. No caso de Stoner, era a literatura; o mesmo poderia ocorrer se fossemos vendedores de roupas, garis, políticos, engenheiros, jornalistas, seja lá mais o que for. O senso da importância do nosso trabalho neste mundo é o que nos ajuda a encontrar algum sentido na nossa própria vida, já nos avisava Viktor Frankl. Contudo, não é a única coisa. Para que o trabalho tenha eficácia em sua vida é necessário amá-lo. Em sua entrevista, Williams reforça o fundamento do Amor como a força que liga algo que, para outros, pode parecer superficial – e se isso acontece entre os nossos jovens literatos tupiniquins é porque o niilismo contaminou a vida de cada um de nós, justamente quando nos encontramos no auge da idade.
Eis a tragédia que atinge sem misericórdia a nossa geração corrompida. O niilismo e o esteticismo que enganam inconscientemente estes futuros intelectuais são provas do terrível medo da incerteza e do inesperado que contamina a cultura brasileira desde Gregório de Matos. Acreditamos piamente que o caos é algo que deve ser visto de maneira negativa e não como algo fundamentalmente positivo – e aí está a nossa fragilidade existencial. A consequência prática em nossas vidas é que recusamos constantemente os diferentes rostos do Amor que surgem diante de nós e que preferimos substituir por paixões provisórias e vícios definitivos, seja na literatura e, por extensão, na vida política. A tensão de viver a abertura amorosa da alma é algo que pode ser insuportável para algumas pessoas que não têm a estrutura espiritual necessária – e, ao recusarem isso como se fosse um método, preferem criar sistemas artificiais, chegando ao ápice de ser mais um membro da elite letrada que mal sabe ler um romance que veio de outro país.
Imaginem quando isso ocorre com algum escrito vindo do nosso meio – e reflitam sobre a catástrofe iminente. A incompreensão básica em torno de um romance como Stoner mostra que os futuros literatos deste país são incapazes de aceitar a soberania do Bem, articulada em uma força positiva, porque, afinal, é sempre mais fácil se abrigar na quietude e no conforto da noite e das trevas. Nesse sentido, o motivo para a insistência nessa lacuna entre os críticos e o romancista é óbvio: William Stoner é o herói silencioso do nosso tempo, pois ele encara com uma coragem exemplar (o que é diferente de um mero estoicismo) os obstáculos da vida para a realização plena do Amor no exercício de sua vocação particular – e compreende algo que poucos intelectuais brasileiros entendem: o fato de que, neste mundo, só acaba quando termina, como já dizia Yogi Berra.
E isto é o que o romancista John Williams também percebe com aquela perspicácia que somente os grandes escritores conseguem fazer. Nas últimas cenas de Stoner, em especial a da morte do seu personagem, temos uma narrativa tão intensa e, ao mesmo tempo, precisa sobre o que é a finitude humana que não seria um exagero compará-las aos momentos finais de Ivan Illich na famosa novela de Liev Tolstói. O professor William foi diagnosticado de um câncer incurável e agora revê a sua vida enquanto está deitado em um catre localizado no pequeno escritório onde meditou sobre a literatura que tanto amou. De repente, lembra-se do livro que escreveu nos primeiros anos de magistério, um exemplar de capa dura, cor vermelha – talvez uma sutil referência ao mesmo livro vermelho que Dante Alighieri afirmou ser o objeto que abarcava a sua vita nuova, dedicada ao amor que tinha pela falecida Beatrice Portinari. A luz do inverno pousa sobre os objetos do quarto e sobre as mãos finas de Stoner, que manuseia a única obra que fez na sua vida “aparentemente sem aventuras” – e é também o anúncio da sua despedida.
Temos aqui o instante em que a arte do romance revela a todos nós que o verdadeiro heroísmo e o verdadeiro amor podem ser eternizados no pequeno livro que está escrito no fundo da nossa alma. Mas, no Brasil, o que acontece nesse campo invisível está bloqueado justamente por quem deveria estudá-lo a exaustão, uma vez que é um mundo mal resolvido no seu próprio niilismo, onde se torna impossível contemplar a pedra rejeitada pelos construtores e que enfim tornou-se a pedra angular. Ao recusarmos, seja por culpa ou por omissão, a aventura da vida interior, silenciamos nada mais nada menos o herói que poderíamos ser.
——
¹ Von Holdefer foi também a única que percebeu a conexão das intenções de Williams com a tradição clássica, ao relacionar Stoner e a Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Contudo, creio que, no caso do romance ser uma intensa meditação sobre os diversos rostos do Amor, o livro mais apropriado para comparação seria o diálogo O Banquete (Symposium), de Platão.
² Trecho citado na introdução de John McGahern para a edição de Stoner da New York Review of Books, p. 11, 2003, por sua vez referendado por ninguém menos que Julian Barnes, um autor igualmente celebrado na blogosfera literária nacional.
Martim Vasques da Cunha
Autor de Crise e utopia: O dilema de Thomas More (Vide, 2012) e A poeira da glória (Record, 2015). Pós-doutorando pela FGV-EAESP.
[email protected]