Eduardo Giannetti nos provoca a repensar a especificidade brasileira no mundo.
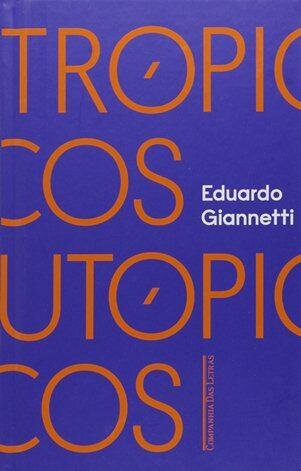
“Trópicos utópicos: Uma perspectiva brasileira da crise civilizatória”, de Eduardo Giannetti (Companhia das Letras, 2016, 240 páginas)
Quais os fundamentos da identidade de um povo? Em geral, um povo se reconhece por um passado comum, ainda que mítico – os ingleses e Albion, os chineses e o Império Han. Mas nem sempre. Os Estados Unidos construíram sua idade olhando para o futuro – o Destino Manifesto – e os judeus por meio de um mix de passado e escatologia – a herança de Abraão e a projeção futura em Eretz Israel, a terra prometida.
E o Brasil? Fato é que não temos um passado mítico, e nenhuma visão de futuro nos mobiliza como o Destino Manifesto ou Eretz Israel. Mas não faltaram tentativas de construção do mito brasileiro, de Gonçalves Dias a Gilberto Freyre. O que ficou disto tudo foi o reconhecimento de características comuns que nos definem, ainda que imprecisamente – o homem cordial, o sincretismo, a miscigenação, a gambiarra, a antropofagia.
Mais recentemente, nossas novas experiências nos levaram a um novo esforço de repensar o Brasil. Fernando Henrique Cardoso, em Pensadores que inventaram o Brasil, afirma:
É preciso inventar outro futuro para o Brasil que, sem negar a importância das temáticas do passado e os feitos concretos que dela resultaram, nem a identidade nacional que eles produziram, abra caminhos para compatibilizar os interesses nacional-populares com a inserção econômica global.
Em uma visão mais crítica, Martim Vasquez da Cunha, em A poeira da glória, conclui de forma ácida:
Não temos vida interior; nossos símbolos são ordens de ação, sem nenhuma referência a qualquer intimidade que se construa com nós mesmos e com quem está ao nosso lado. Quando surge algo ou alguém que vá contra essa atitude, é mais que uma surpresa: é quase um assombro. E, por isso, a literatura é a ferramenta que temos para preparar a nossa sensibilidade diante da possibilidade deste encontro. Até lá, ou decidimos ficar presos no garrote da social-democracia obscurantista, ou então buscaremos o pouco de virtude que nos resta.
Em comum, ambos os autores, tão diferentes entre si, veem a necessidade de repensarmos o lugar do Brasil.
*
De fato, somos um gigante esquisito e muito diferente mesmo de nossos vizinhos latino-americanos. Colonizados por um país de nobreza feudal frágil, e pelos padres mais renascentistas da Europa – os jesuítas – tivemos aqui não a reprodução das instituições medievais espanholas, mas a construção de modelos institucionais capitalistas e modernos. O sistema de plantações baseado na monocultura, o aldeamento indígena, a implantação dos cartórios e as companhias de comércio foram iniciativas mais modernas, racionalistas e capitalistas que os repartimientos e encomiendas da América Espanhola.
Entre os diversos aspectos que nos diferenciam, destaca-se o lugar do índio na sociedade. Na América Espanhola, as nações indígenas eram tratadas da mesma forma que a monarquia Habsburgo tratava as diversas nacionalidades na Espanha e no Sacro Império Romano Germânico. Sua submissão era feita conforme um contrato similar ao usado na Reconquista, e os indígenas recebiam um direito e governo completamente separado das áreas de colonização.
No Brasil, o aldeamento indígena organizado pelos jesuítas não isolava o índio, mas o inseria na sociedade colonial lado a lado com o português. Cidades e bairros surgiram como aldeias indígenas plenamente integradas ao sistema colonial – São Miguel Paulista (São Paulo, SP), Santarém (PA) e São Borja (RS) são exemplos de cidades e bairros nascidos do aldeamento ou das missões. O aldeamento recebia status de vila e aos poucos se tornava um local de convivência de índios e brancos.
Claro que não era uma convivência pacífica e tranquila, mas as relações que se construíram no Brasil colonial foram mais complexas e amarradas que a mera contraposição colonizador x negro e índio. Não construímos no Brasil uma elite criolla, como em nossos vizinhos, totalmente separada da população indígena e escrava, mas uma elite miscigenada. O bandeirante, tratado por uma historiografia de esquerda como o símbolo máximo da violência colonial, era ele próprio mestiço, rejeitado pelo português como indócil e desobediente, e o terror dos indígenas. Não foi à toa que recebeu o nome de mameluco, nome das crianças escravas que se tornavam os soldados mais cruéis do Império Otomano – algo como um stormtrooper turco.
*
A obra de Giannetti da Fonseca, Trópicos utópicos, analisa essa especificidade à luz das suas diferenças em relação à modernidade ocidental. Esta se definiria por uma “tríplice ilusão”:
a de que o pensamento científico permitiria gradualmente banir o mistério do mundo e assim elucidar a condição humana e o sentido da vida; a de que o projeto de explorar e submeter a natureza ao controle da tecnologia poderia prosseguir indefinidamente sem atiçar seu contrário – a ameaça de um terrível descontrole das bases naturais da vida; e a de que o avanço do processo civilizatório promoveria o aprimoramento ético e intelectual da humanidade, tornando nossas vidas mais felizes, plenas e dignas de serem vividas.
Construído sob a forma de aforismos, o livro propõe nas três primeiras partes refletir e, de certa forma, denunciar o que o autor chama de ilusões: a fé na ciência, na tecnologia e na economia de mercado. Desta forma, vai mostrando os limites da modernidade ocidental, apresentada como diante de uma crise sem solução aparente.
Na quarta parte, ele se volta ao Brasil, mais especificamente no desconforto existente entre ser brasileiro e ser moderno:
Ao ocidente do Ocidente, descobertos e colonizados por ele, somos no entanto um país de ocidentalização recalcitrante e imperfeita. Ao juízo da fria métrica ocidental o Brasil, se não chega a ser um malogro, não passa de um país medíocre (…) Enquanto os Estados Unidos tomaram a dianteira do mundo moderno, seguros na crença de que o resto da humanidade não sonha senão em chegar aonde chegaram e ser como eles são, o Brasil vai aos tropeços, como um passageiro de segunda na autoestrada de uma civilização à qual pertence mas à qual não toma parte no que ela tem de mais nobre e essencial.
É inegável esse desconforto. No jornalismo de negócios, no debate político, até nas músicas populares, aparece essa sensação de que falhamos como país, e que precisamos ser outra coisa. Afinal, já diziam os Sobrinhos do Ataíde nos anos 1990: “os americanos são muito melhores”.
*
Mas aí eles elegem o Trump. E isso nos faz pensar se o inconsciente coletivo yankee não está sofrendo um rebote de alguma droga pesada experimentada pelos pioneiros no Mayflower. Afinal, onde está o Destino Manifesto agora?
Como resultado da crítica à modernidade ocidental, Giannetti da Fonseca se pergunta:
Será desvairadamente utópico imaginar que temos tudo para não capitularmos à opressiva industriosidade geradora de objetos demais, alegria de menos do tecnoconsumismo ocidental? Que o Brasil, embora modesto nos meios, mantém viva sua aptidão para a arte da vida e a capacidade de cultivá-la a uma perfeição mais plena? Que podemos ousar modelos de economia e de convivência mais humanos e adequados ao que somos e sonhamos?
Não são perguntas banais? Não é incomum fazermos críticas à nossa desorganização, nossa incapacidade de planejar, de poupar, de trabalhar duro. Mas, para além do fato de que a exploração do trabalho corre solta por aqui como em qualquer lugar, ninguém observa o trabalho duro e intenso que dispendemos ao organizar uma festa. Qualquer festa: Carnaval, boi bumbá, micareta, peruada, Natal, Reveillon…
Neste sentido, a proposta de Giannetti soa óbvia e de certa forma repete os estereótipos construídos sobre nós. Mas os ressignifica como vantagens, e não como elementos críticos. Em um mundo que se fecha, somos capazes de acolher o diferente. Em um mundo que disputa mercados, somos capazes de avançar do PIB para o PIB para quê? Não é pouco.
*
No final de Como matar a borboleta azul, a economista Monica de Bolle lamenta que estejamos perdendo o joie de vivre, a alegria de viver que sempre nos caracterizou. Estamos nos tornando chatos patrulhadores da opinião alheia. De certa forma, isso significa estarmos abandonando aquilo que nos define como brasileiros. Já não somos capazes de fazer piada com qualquer coisa – há até quem defenda a criação de uma Agência Nacional de Piadas para decidir o que tem ou não tem graça.
A crítica de Martim Vasquez da Cunha à nossa ausência de vida interior é verdadeira, mas ela diz respeito principalmente às elites pensantes do país. Os mesmos que querem nos tornar menos brasileiros, mais calvinistas na relação com o trabalho, são os incapazes de olhar para o abismo da própria existência humana. São os que se escondem uma retórica de justiçamento social, de reforma institucional, enquanto nosso desafio é mergulhar no íntimo da alma brasileira e encontrar aquilo que nos define.
Só por nos provocar para isso, os Trópicos utópicos de Eduardo Giannetti da Fonseca já valeram a pena.
Paulo Roberto Silva
Jornalista e empreendedor. Mestre em Integração da América Latina pela USP.
[email protected]





