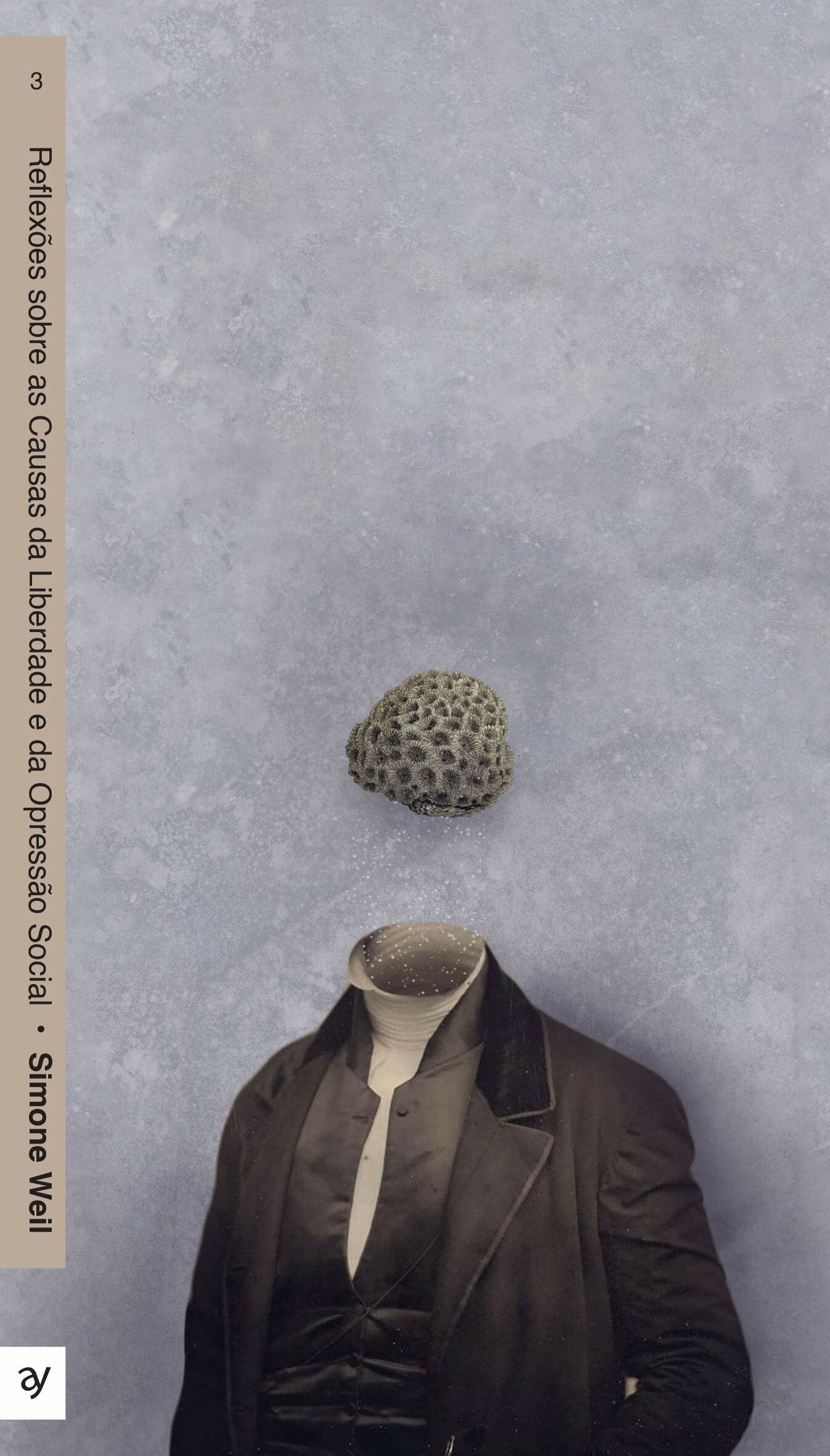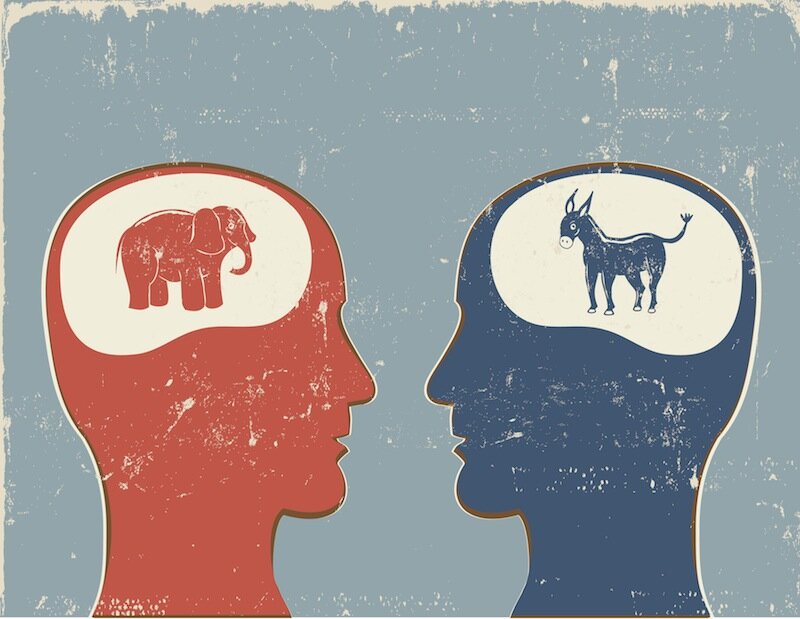Os 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos e nosso quase-silêncio a seu respeito.

Eleanor Roosevelt, viúva de Franklin D. Roosevelt, dirigiu o comitê responsável pelo esboço da Declaração. (Dezembro/1948)
Há cerca de dois meses, em 10 de dezembro de 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração de 1948, completou sete décadas, tenho a impressão de em grande descrédito. Fomos econômicos nas lembranças e até nas menções a ela; foi escassa a produção a seu respeito. Mas a Declaração me parece tanto mais necessária quanto menos descrentes em seus princípios nos tornamos. Por isso, sinto-me compelida a falar dela.
Neste artigo realço alguns momentos da história da septuagenária Declaração, nos limites de uma peça de engajamento público e de minha formação em direito, que se deu em contínuo trânsito entre o campo jurídico e o das ciências sociais. É curioso parar para pensar nela agora, apenas agora, ou só depois de mais de 10 anos de pesquisa em direito internacional, que tem sido minha área preferencial de atuação, pois, corrija-me o leitor se me engano, a Declaração é um dos poucos diplomas legais internacionais presentes em nosso imaginário moral. Tendo sua presença para além dos muros do mundo jurídico em mente, busco contar aqui como, a meu ver, ela se tornou popular em escala global e, ao mesmo tempo, parte de nossa cultura, ou seja, também um documento com leituras locais. Esse percurso compreendeu, no entanto, uma mudança de status da própria Declaração, que, ao contrário do que tendemos a pensar, não era, mas se tornou central para o direito internacional.
1.
Há distintas maneiras de contar a história da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e muitas delas foram publicadas nas últimas duas décadas. Uma – acredito que a mais difundida – é inseri-la na tradição das declarações de direitos, em que ela figuraria ao lado da Declaração de Direitos de Virgínia, de 1776, e da Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão, ou simplesmente Declaração Francesa, de 1789. Como as duas declarações de direitos do século XVIII, a Declaração de 1948 consiste em um catálogo de direitos considerados inatos a todo e qualquer ser humano, mas, diferentemente delas, não é um diploma de direito interno, e sim de direito internacional. Outra maneira de coloca-lo é que, enquanto o alcance das declarações oitocentistas é nacional, embora elas tenham pretensões globais e adotem uma linguagem a princípio geral em relação às pessoas, a Declaração de 1948 de fato e de direito se aplica à revelia das fronteiras. É irrelevante para os seus fins, portanto, se se é francês ou norte-americano, ou se se encontra na França ou nos Estados Unidos.
O renomado jurista italiano Norberto Bobbio, em um livro muito conhecido no Brasil, A era dos direitos, assinalou essa diferença da Declaração de 1948 em relação a suas duas predecessoras, e as dispôs, todas as três, em linha de continuidade. Seria consistente alinhá-las, entre outras coisas, porque elas consagram direitos naturais, o que possibilita a Bobbio argumentar que a Declaração de 1948 teria pacificado o problema do fundamento dos direitos humanos: para ele, a questão premente dos nossos tempos não era mais a fundamentação, e sim a efetivação dos desses direitos. Outros juristas, como Micheline Ishay, abordam os direitos humanos e a Declaração de 1948 de modo semelhante. Ishay, p.e., recua ainda mais no tempo, até a Antiguidade, e argumenta que os princípios que a Declaração consagra sempre habitaram entre nós. Percorrendo mais de dois milênios, diferentes espaços e sociedades, Ishay postula o caráter trans-histórico desses princípios e, indiretamente, seu fundamento natural. Nessa tradição, a Declaração de 1948 é um marco porque com a sua adoção constitui-se formalmente uma esfera de legalidade adicional à interna ou nacional.
Tecnicamente, a Declaração Universal de Direitos Humanos é uma resolução de um órgão da ONU adotada em 10 de dezembro de 1948. Como o próprio nome sugere, trata-se de uma declaração em torno da qual se construiu um consenso, embora ela não tivesse força vinculante. Sua elaboração era uma espécie de desdobramento da própria Carta de São Francisco, o tratado que institui a ONU em 1945. Nos três anos que a separam da Carta um comitê preparatório, reportando-se ao Conselho Econômico e Social, indicou um número de países para a Comissão de Direitos Humanos, encarregada de elaborá-la. Ele era composto por representantes do Canadá, China, Estados Unidos, França e Líbano. Esse comitê preparou o documento – um catálogo de trinta artigos – a ser submetido ao órgão plenário da ONU, a Assembleia Geral.
Na época a Assembleia era muito menor do que atualmente, sendo composta por cinquenta e oito membros. Aos olhos de hoje essa é uma composição restrita, mas ela refletia a sociedade internacional de então, da qual não era parte a maioria dos Estados que a integram agora e que eram, nos anos 1940, domínios imperiais. Entre outras coisas, isso significa que a Declaração e os direitos humanos são coetâneos do imperialismo, a despeito de suas pretensões globais, sua linguagem universal e do fundamento declaradamente inato dos direitos que ela enumera. Por essa coexistência aparentemente pacífica, e pela injustiça econômica dentro e fora dos Estados que ela tem se mostrado inapta a enfrentar, a universalidade da Declaração tem sido objeto de justas críticas, que procuram apontar as limitações com as quais a forma dos direitos humanos, logicamente abstrata, tem se deparado. No limite, argumenta-se, a Declaração concorreu para manter uma configuração internacional altamente assimétrica, em que inúmeros povos não só não eram sujeitos de direitos, mas eram tratados para certos fins como não-humanos ou sub-humanos. Uma maneira de responder a essas interpelações tem sido ressaltar que, apesar da composição do seu grupo de redatores e mesmo da sociedade internacional que a adotou, o pequeno comitê era liderado por pessoas pertencentes a ou oriundas de diferentes tradições religiosas. Sem me alongar muito, o argumento permanece válido, no entanto, uma vez que o representante libanês, Charles Malik, era cristão, de modo que nem todas as tradições tinham assento, de fato, se “tradições” abarca religiões, i.e., tradições religiosas.
Como disse, penso que essas são críticas justas, e aqueles elementos são importantes para pensar como se constituiu a relação dos direitos humanos com a esfera pública no momento inaugural da ordem onusiana, um objeto potencialmente de interesse numa quadra como a nossa, de antiglobalismo emergente e forte presença de religiosos no espaço público. É o que o badalado e profícuo historiador das ideias Samuel Moyn aborda em um de seus mais recentes livros, Christian Human Rights. Nele, Moyn argumenta que os direitos humanos, entendidos como um catálogo de proposições, mas também um conjunto de ideias com pendor moral, aparecem como uma solução de compromisso para contemplar demandas políticas e, ao mesmo tempo, assegurar o lugar da religião no espaço público. Com a Declaração de 1948 ter-sei-a logrado erigir uma barreira não-religiosa contra a laicidade comunista. Segundo Moyn trata-se, portanto, de uma barreira anticomunista; ela é liberal, mas não antirreligiosa. Bem ao contrário, os direitos humanos teriam assegurado um lugar público à religião e bloqueado o caminho para propostas de retirá-la do espaço dos assuntos comuns para a intimidade, da luz do público para o recesso do lar.
Dois traços da filiação cristã dos direitos humanos, tais como nós os conhecemos, na Declaração são as ideias de ‘dignidade humana’, primeiramente inscrita na Constituição da Irlanda de 1937, para contemplar demandas liberais sem prejudicar posição da Igreja Católica, e de ‘pessoa humana’, forjada pelo pensador francês católico radicado nos Estados Unidos Jacques Maritain, professor de Charles Malik em Harvard. E é uma coincidência interessante, pouco comentada, que no caso do Brasil a Declaração tenha sido aprovada durante o governo do presidente Dutra, um anticomunista ardoroso e católico fervoroso. Menos casual foi ela ter encontrado no jurista e político André Franco Montoro, um democrata cristão, seu defensor de primeira hora, que sacou os direitos humanos contra a ditadura, chegando a citar, diga-se, Jacques Maritain.
Mas, a despeito da justiça e utilidade da crítica que aponta para o eurocentrismo dos direitos humanos, sua afinidade com a tradição judaico-cristã e a política de poder, uma historiografia recente também possibilita pensar que a saga da Declaração, desde os anos 1940 aos nossos dias, também é uma história de transformação. Como dito parágrafos atrás, a Declaração não é um tratado internacional, e sim um documento elaborado em e emanado da ONU que se adensou juridicamente ao longo das décadas. A força normativa que ela adquiriu a distingue da maioria dos atos similares a ela e teria surpreendido os seus contemporâneos, desde Hans Kelsen a Hannah Arendt, que – note o⁄a leitor⁄a – falaram de direito internacional e da Carta da ONU, no caso de Kelsen, e de totalitarismo e “direitos do homem”, no caso de Arendt, sem lhe dar qualquer importância. Como pôde ser assim? Mesmo nos anos 1960, um internacionalista de renome, Ian Brownlie, sugere que a Declaração não é um instrumento jurídico no sentido que se costuma emprestar ao termo, apesar de algumas de suas proposições influenciarem os direitos nacionais e serem aplicadas pelos tribunais. Já atualmente a Declaração é citada em entrevistas e escolas, orienta programas e políticas de Estados e organizações internacionais; é invocada tanto em tribunais nacionais quanto em cortes e órgãos quase-judiciais internacionais. Se a importância que ela adquiriu nas décadas que nos separam de sua origem não implica afirmar sua desimportância nos anos 1940, encoraja a perscrutar o que mudou – e a literatura pode vir, aqui, em nosso auxílio.
Claude Lefort pode ter sido o primeiro a perceber a mudança. Em um ensaio de 1979 intitulado “Direitos do homem e política”, o pensador francês chama a atenção para a centralidade que os direitos humanos assumiam, paradoxalmente despontando como um elemento antipolítico, ou seja, contra a política partidária e de forte apelo moral. A ascensão dos direitos humanos desde os círculos jurídicos e diplomáticos para a grande cena pública se dá com sua apropriação por dissidentes do leste europeu e latino-americanos contra regimes autocráticos. Os direitos humanos, consagrados na Declaração, nos Pactos da ONU e no Pacto de São José da Costa Rica, os dois últimos dos anos 1960, facilitavam a construção da tortura como um problema de interesse mais geral da sociedade e a articulação com diferentes atores políticos, inclusive em rede transnacional.
Nesse processo temos, pois, a transformação dos direitos humanos de normas jurídicas em enquadramentos interpretativos, tendo sido necessárias três décadas e uma espécie de desdobramento da Declaração em outros diplomas para que eles, no final de uma hora para a outra, se tornassem princípios norteadores e recursos para a ação social. O sociólogo Luciano Oliveira mostra como isso se deu no Brasil. Em um artigo de 1992, inspirado em sua tese de doutoramento, Oliveira articula a transformação dos direitos humanos em um elemento de nossa linguagem cotidiana com uma mudança no seio da própria esquerda. Ele argumenta especificamente que, em meados dos anos 1970, grupos ativistas de esquerda se converteram em ‘batalhadores por direitos’ e ‘democratas convictos’, superando ou afastando sua tradicional desconfiança em relação a formas burguesas. Essa mudança teria aberto a possibilidade de que a prática da tortura por agentes estatais e o desaparecimento forçado fossem enquadrados como “graves violações de direitos humanos”. Falando desde as Relações Internacionais, Margaret Keck e Kathryn Sikkink analisam, em finais dos anos 1990, como redes transnacionais de advocacy se articularam na América do Sul com nós locais – como grupos ativistas – e regionais – como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos –, atuando para derrubar regimes ditatoriais. Keck e Sikkink mostram como os direitos humanos são apropriados em diferentes situações, com mais sucesso quando usados para enquadrar ações que causam danos físicos a grupos vulneráveis ou que neguem muito claramente qualquer igualdade perante a lei.
Mais de uma década depois do estudo seminal de Keck e Sikkink, Moyn argumenta, em seu polêmico estudo The Last Utopia, que os direitos humanos emergem de direitos positivados internacionalmente a quadros para ação social apenas nos anos 1970 e em dois espaços muito diferentes – o leste europeu e o continente sul-americano -, sem relação mútua, embora em sinergia. Nesse período se dá o que Moyn chama de vernacularização dos direitos humanos e, arrisco acrescentar, a transformação desses direitos em normas culturais, das quais todos nós temos alguma ideia, às quais todos atribuímos algum sentido. Moyn mostra bem como os sul-americanos, entre os quais os brasileiros, aproveitaram a rede católica para articular sua ação, e nessa linha, argumenta ele, os direitos humanos aparecem para o grande público como sendo eminentemente antitotalitários.
The Last Utopia inaugura um debate que permanece. Em seu Decolonization and the Evolution of International Human Rights, o historiador Roland Burke, p.e., fornece elementos para contestar tanto o argumento de Moyn segundo o qual os direitos humanos não foram relevantes no processo de descolonização quanto aquele, mais corrente, de que os direitos humanos são pura e simplesmente um instrumento do imperialismo norte-americano. Remontando à Conferência de Bandung, Burke dá uma contribuição ao debate ao perturbar essa história, em seu esforço por sustentar que a insurgência de países do Terceiro Mundo contra os direitos humanos e sua denúncia de que eles eram um instrumento do imperialismo acontecem não em meados dos anos 1950, mas em um momento posterior à descolonização, à medida que regimes autoritários foram se instalando em países recém-liberados.
Entre os anos 1970 e o fim da guerra fria, os direitos humanos se acercaram, ao seu turno, do direito internacional humanitário, as leis de guerra. Dessa aproximação resultou, por um lado, a aplicação dos direitos humanos em situações de beligerância, em conflitos armados, em especial naqueles que ocorriam dentro dos Estados, e, por outro, na formação do que Kathryn Sikkink chamou de norma da responsabilidade criminal individual por graves violações de direitos humanos, em processos de transição.
Com o fim da guerra-fria e a terceira onda democrática, os direitos humanos foram perdendo, entretanto, a sua feição antitotalitária e adquirindo uma feição mais comprometida com direitos de minorias, mais identitária. Nos anos 1990 eles passam, em outras palavras, a ser mais usados para construir demandas relacionadas com identidades de grupos sociais como problemas de justiça do que contra autocracias, que afinal rareavam. Essa mudança é flagrante, p.e., quando olhamos para as conferências da ONU na época e sua agenda, que contemplava basicamente os direitos de minorias étnicas, raciais e de gênero. Com isso, os direitos humanos se tornam, por um lado, mais plurais e a inclusão passa a ser um imperativo, mas, por outro, a igualdade se confunde com a não-discriminação, cujo escopo é mais restrito. A questão, então, já não é saber se os direitos humanos se aplicam ou não a determinada situação, e sim o que se entende por direitos humanos, quais direitos específicos eles compreendem e quem é sujeito desses direitos.
2.
Uma dessas questões, a dos sujeitos de direitos, tem sido central no Brasil e nos ajuda a perceber como o problema do fundamento dos direitos está ligado à sua efetivação: entender que tipo de direitos são os direitos humanos influencia o respeito que lhes guardamos. Penso, claro, na fala corrente de que “direitos humanos é coisa de bandido” ou, em sua forma mais recente, “direitos humanos são para humanos direitos”. Em um país com questões de segurança pública como o Brasil, os ecos que tais ideias encontram não chegam a espantar, mas, quando o que está em jogo é a pronta justificação do uso da força, creio que precisamos parar para pensar.
Em que se baseia a percepção de que só criminosos são protegidos pelos direitos humanos – o que sugere, ademais, que defensores de direitos humanos só se interessam pela defesa de criminosos? Um artigo de 1991 da socióloga Teresa Caldeira continua rendendo o que pensar. Nele, Caldeira pondera que os direitos humanos foram um recurso semântico empregado em defesa de presos e torturados pela ditadura brasileira contra o regime. Eles se referiam, portanto, a criminosos políticos, a pessoas cujos crimes decorriam a princípio de sua opinião; mais tarde, nos anos 1980, tais direitos se confundiram com os direitos pura e simplesmente, sendo usados em demandas que iam da moradia à sexualidade. Quando os direitos humanos começam a ser usados em relação a presos comuns, ainda que fossem defendidos pelos mesmos atores que atuaram em defesa dos presos políticos da ditadura, a reação social em São Paulo é muito diferente e grassa a ideia de que direitos humanos são “privilégios de bandidos”.
Essa diferença de resultados nos confrontaria, para Caldeira, com os limites da qualificação dos direitos, os limites da identificação entre direitos – os da cidadania – e os direitos humanos. Como falar em direitos humanos de pessoas que tinham sua cidadania restringida? Por outro lado, como falar em direitos sem apelar à humanidade em uma sociedade secular e em relação a pessoas cuja cidadania é restrita? Penso ser importante continuarmos pensando e falando a respeito, mas por ora me contento em ponderar que quando repetimos que direitos humanos são “privilégios de bandidos” estamos separando os que cometem crimes comuns de nossa comunidade, do “nós” que constitui o demos, bem como afastamos dele os elementos internos – defensores de direitos humanos locais – e estrangeiros – atores e normais globais – que nas últimas duas a três décadas têm nos ajudado a torná-lo um país mais democrático e mais plural. Não se trata mais de combater a criminalização da liberdade e da opinião, mas de negligenciar a política e afirmar a ordem como seu fim último, que é o que sugere, de resto, a ideia de que os direitos humanos são (apenas) para humanos direitos.
Diante dessas circunstâncias, tem sentido, a meu ver, afirmar a universalidade dos direitos humanos em relação às pessoas, não como um fato, mas como algo a se buscar, e perceber que insistir em seu caráter inato não nos leva necessariamente mais longe do que reconhecer que sua universalidade é ontologicamente ancorada – e buscar ancorá-la através da política. O debate público brasileiro mostra que direitos declarados inatos podem, afinal, ser culturalmente limitados, porque nós nos percebemos diferentes e não raro cremos que as nossas diferenças legitimam a desigualdade. Trata-se de um problema cujas saídas passam por encontrar outras formas de coabitação e pela política: pela reunião, o agir conjunto, as trocas e a igualdade formal, mas também a satisfação das necessidades vitais, que libera para a política, como nos ensina Hannah Arendt.
Foi, para concluir, por força de processos como esse que a própria Declaração Universal alcançou outro status jurídico. No seu caso, os intérpretes do direito internacional atualmente entendem que ela se aplica a todos os Estados, à revelia de seu consentimento, pois é um costume, e as normas que ela consagra seriam materialmente superiores às demais. Mas, hoje mais do que antes, não há garantias de que seguirá sendo assim. Que seja dependerá de a Declaração encontrar quem defenda os seus princípios, reconhecendo neles algum valor. Isso não impõe cerrar fileiras com movimento social ou com partido político. Também não impõe estabelecer uma relação acrítica com os direitos humanos, seja de entusiasmo cego, seja de cinismo irresponsável. Como nunca, precisamos tornar claros os limites, as possibilidades e as fragilidades desses direitos em um mundo em que os ocupantes do poder se mostram empenhados na construção de inimigos públicos.
Para o bem e para o mal, nosso mundo não é o dos anos 1940. Nele há parâmetros de legalidade globalmente disputados, mas também compartilhados, e, se eles não se sobrepõem aos do direito nacional, ao menos têm sido usados para controlar os Estados, em especial para que eles não se voltem nem contra seus pares nas relações internacionais, nem contra os seus nacionais. Toda uma arquitetura, formada por órgãos subnacionais, regionais e globais, foi construída ao longo das sete décadas de vida da Declaração para implementá-los. Da perspectiva do direito internacional, a transformação do Estado em um criminoso aparece como um processo que se pode frear: o Estado começa violando reiteradamente os direitos humanos, passa a violá-los mais gravemente, a praticar atos criminosos sistemática e⁄ou generalizadamente – p.e. atentando contra o direito à vida e a um julgamento – até chegar a adotar práticas-políticas criminosas. Os direitos humanos então podem ser úteis aos nossos esforços por coibir que o Estado aniquile ou permita que se aniquilem grupos, restrinja as liberdades, ou que trave uma guerra aberta contra parte de sua população. Nesta situação, os direitos humanos, particularmente os princípios inscritos na Declaração, seguem sendo para o Estado a primeira barreira a destruir; por isso não devemos estranhar que venham a ser aquela que nós primeiro precisemos defender.
Renata Nagamine
Doutora em direito internacional pela USP e pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UFBA.