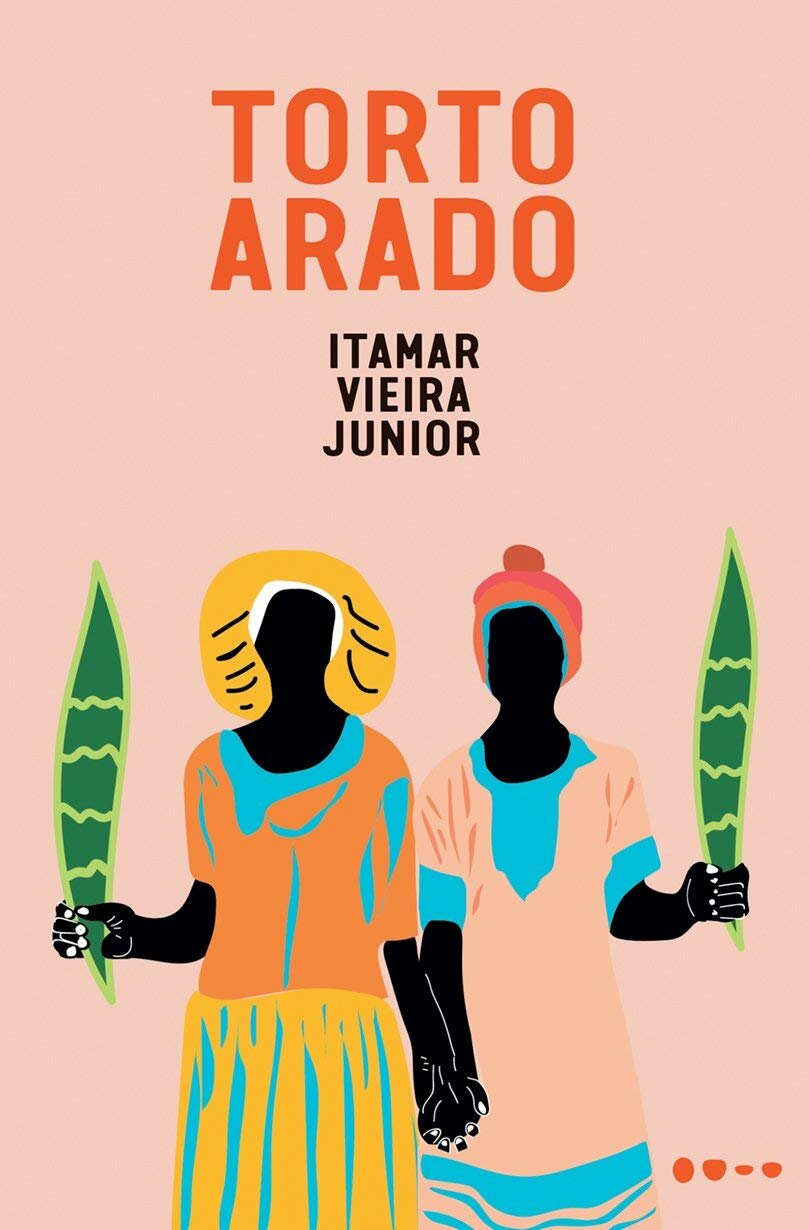Se as escolhas dos nativos de uma determinada cultura levarem à extinção dessa cultura, e daí?

-- Indígenas isolados na Amazônia (foto: Gleison Miranda/FUNAI) --
por Carlos Orsi
A noção de “origens” ou “raízes” — culturais, sociais, genéticas, etc. — é um fetiche caro tanto ao discurso de esquerda quanto ao de direita, ainda que cada um dos lados do espectro político seja bastante seletivo quanto ao tipo de “raiz” que deve ser valorizada (as tradições dos “povos oprimidos” num caso, as “raízes cristãs da Europa” no outro, por exemplo).
O apelo às raízes tem um poder retórico e emocional tão forte que muitas vezes surgem disputas sobre qual a “verdadeira raiz” disso ou daquilo: afinal, quem estava primeiro na Palestina, árabes ou judeus? A civilização evoluiu a partir de uma organização matriarcal ou patriarcal? O cinema (a literatura, a música, o teatro) que Fulano ou Beltrano faz é “nacional” ou “colonizado”? A figura do herói que “reencontra suas raízes” e, por meio delas, triunfa, é um dos clichês mais cansados de toda a ficção.
Há alguns anos, quando foi levantada a hipótese de que os índios da América do Norte teriam sido os autores do genocídio de uma população ainda mais antiga de habitantes do continente, a disputa deixou rapidamente as publicações sobre arqueologia e antropologia e virou um cavalo de batalha político.
Sem negar que o poder que a ideia de “raízes” tem de emocionar, motivar e mobilizar, eu me pergunto até que ponto ela realmente faz sentido — e até que ponto ela não passa de apenas mais um fator de manipulação dos afetos, uma bandeira vazia de conteúdo e que pode servir tanto para mobilizar belas revoluções quanto verdadeiros pesadelos (todo o discurso de Hitler, afinal, nascia do mito das “raízes arianas” do povo alemão).
Resumindo: é honesto invocar o conceito de raízes, ou ele não passa de mais uma falácia, como o ad hominem — o que Fulano diz não deve ser levado a sério porque ele é homossexual/negro/branco/hererossexual, etc.?
O apelo à tradição é uma falácia conhecida: aceitar que X, Y ou Z é verdadeiro ou correto porque era nisso que nossos antepassados acreditavam equivale a validar o geocentrismo, o sacrifício humano e a escravidão. Esse é o ponto em que o caráter falacioso das “raízes” fica evidente: ele exige o corte — arbitrário — de um ponto da história a partir do qual nossos ancestrais estavam errados.
Mas se eles estavam errados quando diziam que era certo ter escravos, porque não estariam errados também quando diziam que era preciso ir à missa? Imagino que as mesmas pessoas que hoje gritam em defesa das “tradições cristãs da Europa”, contra os avanços do islã e do secularismo, teriam gritado pelas “tradições pagãs do Império” diante do avanço do cristianismo, uns 1.500 anos atrás.
Tanto o apelo à tradição quanto o apelo às raízes se valem da noção de identidade de grupo para obter boa parte de sua força. É o apego a certas tradições e a posse de raízes (reais ou míticas) que permitem que uma pessoa se sinta e se declare um brasileiro, argentino, cristão, muçulmano, judeu.
Também são tradições e raízes que permitem que alguns códigos de comportamento bastante úteis à vida em sociedade (respeito aos mais velhos, às senhoras, modos à mesa, etc.) continuem existindo sem que seja preciso criar leis para impô-los.
Não estou, no entanto, convencido de que “identidade de grupo” seja algo tão valioso assim. Olhar para o outro como “um argentino”, “um negro”, “um burguês”, “um americano” é algo que desumaniza. Considerar-se membro de um grupo à parte do restante da espécie, por sua vez, desumaniza os que estão fora desse círculo.
Uma crítica, que me parece muito pertinente, ao programa de “preservação de culturas locais” é a de que ele reduz populações humanas a exibições de zoológico: vamos deixar aqueles primitivos ali isolados, com dentes podres, morrendo de tétano aos 15 anos de idade e sem a menor noção de tudo o que a humanidade criou e tem a oferecer, enquanto estudamos de longe seus maravilhosos costumes.
Me parece óbvio que culturas e modos de vida não devem ser impostos à força a ninguém, mas um corolário disso é o de que as pessoas devem ter o direito de escolher livremente um modo de vida alternativo ao que lhes foi legado pelo acidente do nascimento. Se as escolhas dos nativos de uma determinada cultura levarem à extinção dessa cultura, e daí? Pessoas são seres concretos, dotados de direitos. Culturas são abstrações, sem direito a nada.
A questão dos códigos de comportamento me parece ter mais mérito. Sou um apreciador das boas maneiras, mas certamente não gostaria de ver a polícia impondo-as a golpes de cassetete. Mas é falsa a dicotomia entre Estado ou tradição — a ideia de que, sem um ou outro, a convivência social torna-se insuportável.
Códigos de conduta e contratos informais de reciprocidade — as bases do comportamento social — surgem e evoluem a partir da interação entre seres racionais, e não há motivo para imaginar que venham a desaparecer um dia, mesmo se o arcabouço mitológico que sustenta algumas formas já testadas e aprovadas vier a ruir.
Carlos Orsi
Jornalista e escritor, com mais de dez livros publicados. Mantém o blog carlosorsi.blogspot.com.
[email protected]