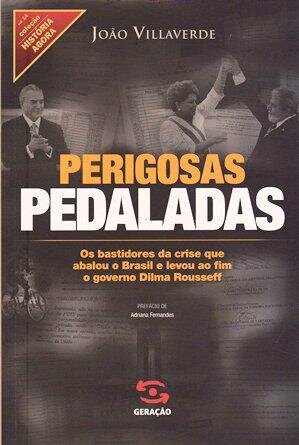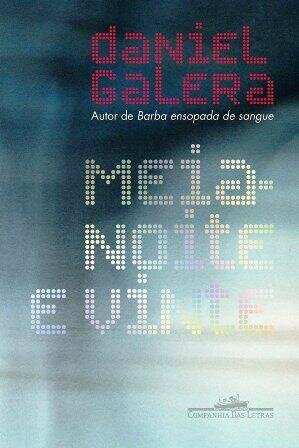Existe algo que depõe mais contra o senso de realidade que uma ideologia?

1.
Um dia, questionado sobre o que faria caso fosse o senhor absoluto do universo, o sábio chinês Lao-Tsé respondeu calmamente ao discípulo: “Restabeleceria o sentido das palavras.” Dimensionando a confusão desse vazio de percepção, incapaz de dar o devido nome àquilo que vê – algo como uma doença do espírito -, o poeta Richard Wilbur conseguiu revigorar a maestria de Lao-Tsé perante o discípulo: “É por meio das palavras e da derrota das palavras, em retrospectos repentinos da tentativa frustrada, que por um momento fugaz podemos ver por quais contradições o mundo é sonhado.” (An event, 1988)
Se, como pensavam os gregos, o senso do homem sensato (nous/mens) provém da realidade, ou seja, jamais das divergentes opiniões ao redor, logo aquele que carecer deste senso visual, e igualmente tátil, está doente; acometido de uma cegueira espiritual: em latim, demens, doravante, dementia.
A propósito, não é de admirar que, vindo do mesmo tronco indo-europeu, exista – segundo os linguistas – uma relação entre a raiz sânscrita ma de Maya e a latina mens, palavras que estão associadas ao senso de proporção e à medida, cujas consequências – quando afrouxadas pela vida cotidiana – incidem sobre a cômoda oscilação entre o prazer, o tédio e o falatório, subsidiados como véus por meio da opinião pública, que se retroalimenta de frases feitas, platitudes e lugares-comuns. Outrossim, preservar a medida da sanidade só é possível quando se transcende – para além das conveniências pessoais – os véus aliciantes da opinião pública, danosos quando encobertos por interesses político-partidários.
2.
Qualquer pessoa minimamente sensata que enfrente o ambiente ideológico ou demencial no Brasil atual, sentirá com incontida melancolia os efeitos de tamanha desagregação moral, porquanto o espaço público seja (como pensavam os gregos) o espaço do convívio; sendo o conviver um modo de participação daqueles que versam sobre assuntos comuns.
Dito de outro modo: onde quer que a política esteja presente, alentando o convívio entre semelhantes, algo em comum se assentará, surgindo assim a fala sobre a vida pública e suas eventuais (in)conveniências.
Entretanto, como a própria Grécia insinua, há um declínio quando a mens degenera em persuasão e o nous se perde no legéin (“dizer político”), cujo agravante na modernidade é, como diria Barrès, a arena dos engajados. Portanto, sempre que o dizer político se exacerbar no seio da opinião pública – contrariando os interesses comuns dos cidadãos e de seus sensos de realidade (mens), algo que segundo Aristóteles tem um apelo divino ou atemporal – os efeitos mais inesperados sempre serão confusos e contraditórios, ou melhor, sempre incidirão sobre a personalidade ideológico-professoral, cega e idiotizada sob os véus de certezas que lhes são inacessíveis: à maneira de quem defender um político milionário em um país miserável como o Brasil, sem sequer problematizar os custos morais de sua devoção àquela excelência.
3.
Para qualquer estudioso do discurso político, de Aristóteles a Harold Lasswell, talvez não surpreenda o fato de que os períodos mais decadentes da história são os com o maior grau de atividade político-partidária, mobilizados – da intelligentsia à opinião pública – por interesses escusos; por palavras de ordem, lemas, ideologias e chavões.
Como na clássica encenação do Rinoceronte (1959) de Eugène Ionesco, em plena Guerra de Independência na Argélia, em que os colonos franceses se acotovelavam no teatro com os separatistas locais, há em períodos politicamente turbulentos certo patetismo demencial (pathos ou paixão, em grego) que oscila entre o cômico e o absurdo, ou seja, a partir da impremeditada má-fé de palavras e gestos que há muito escapam à militância. Aliás, existe algo que depõe mais contra o senso de realidade (mens) que uma ideologia, ou, dito de outro modo, existe algo mais patético que defender o legéin ideológico de um político?
Na peça de Ionesco, quando o solitário herói Beránger (leia-se: o único que, entre os demais personagens, não se transforma em um disforme rinoceronte) pronunciou soberanamente “Je ne capitules pas“, ou “Eu não capitularei”, ambas as alas no teatro tomaram para suas respectivas causas o sentido político daquelas palavras, desconsiderando a sua evocação na trama.
Por certo, apenas pateticamente, ou seja, em períodos políticos acirrados, é que o nous, a coerência e a lógica cedem às conveniências, sem que os militantes suspeitem – de modo que em alguns casos, como na Argélia, quiçá estejam a defender a mesma coisa com aparente bom-senso sobre-humano. Neste caso, um dos lados age por demencial má-fé: sabe do seu erro, mas não ousa denunciá-lo, como o revolucionário que endurece ao fuzilar seus inimigos, mas ainda assim supõe amá-los com ternura. Aliás, isso se assemelha em tudo ao militante petista que, por má-fé demencial, jamais denuncia o apoio a regimes de exceção (estes, sim, golpistas), como os de Cuba e Coréia do Norte. Ademais, não depõe – com mea-culpa – contra o seu passado acusador quando na oposição, proponente de cinquenta pedidos de impeachment, segundo a senadora Ana Amélia, entre os anos de 1992 a 2002.
Com a mais cínica má-fé, não avulta ao militante petista algo no mínimo pontual, algo que os inconformados contra o governo já reiteraram desde as grandiosas manifestações do último dia 13: “Não defendemos nenhuma espécie de golpe” – clamor colhido por meio do Instituto Paraná, na ocasião, a partir de perguntas sobre uma eventual defesa de uma intervenção militar, em que 67,6% dos entrevistados disseram “Não”.
Por conseguinte, não há entre os que defendem o impeachment nenhuma insinuação golpista, e como se houvesse um paralelo com O Rinoceronte na Argélia, há uma ligeira concordância em uníssono entre ambas as alas, que logo cala pelo notório crime de responsabilidade: “Sim, não vai ter golpe.” Entretanto, como bem observou a advogada e uma das responsáveis pelo pedido, Janaína Paschoal, nas oitivas da Comissão Especial do Impeachment: “Havia um superávit anunciado totalmente fictício e, já sabendo disso, abriram créditos bilionários sem autorização desse Congresso sabendo que não poderiam ter recursos para cobri-los”.
Se isso for juridicamente suficiente, quem sabe a má-fé militante não restitua à desbotada palavra golpe o sentido constitucional que a invalida, pois que a transcende: impeachment, o mesmo remédio utilizado contra o não menos cínico Collor, às vésperas da renúncia. Afora isso, vale pontuar como um êxito inconteste que nenhum político tentou parecer o heroico Beránger daquelas manifestações do dia 13 de março, escorraçados como os demais paquidermes de todos os demais partidos: pesados, caricatos e inequivocamente insensíveis. Afinal, na fauna e na faina pública, existe algo mais patético que um paquidérmico político?
No mais, superada toda essa manada – de rinocerontes, idiotas úteis, corruptos e militantes – faça sempre essa pergunta quando for se assentar neste teatro do absurdo e recobrar eventualmente a sanidade: “Quantas vezes me embasei na Constituição para pedir o impeachment de todos os Presidentes democraticamente eleitos, de 1990 a 2002, inclusive, o fazendo publicamente? Por que, hoje, quando grito: ‘Eu não capitularei’, ouso afirmar – diferentemente de outrora – que impeachment é golpe?”
O resto é silêncio, ou má-fé.
Ivan Pessoa
Professor da UFMA, Mestre em Ética e Epistemologia.