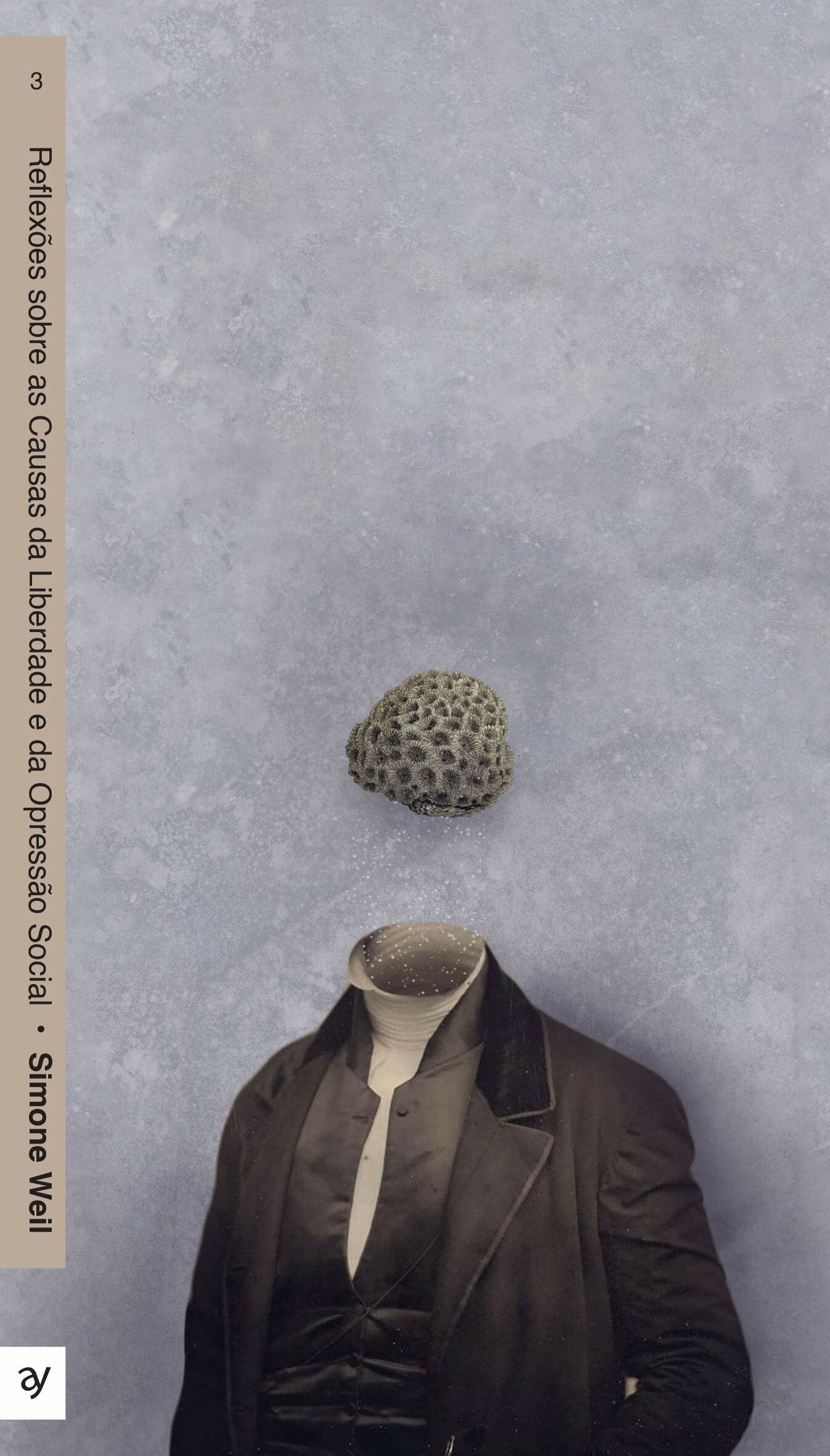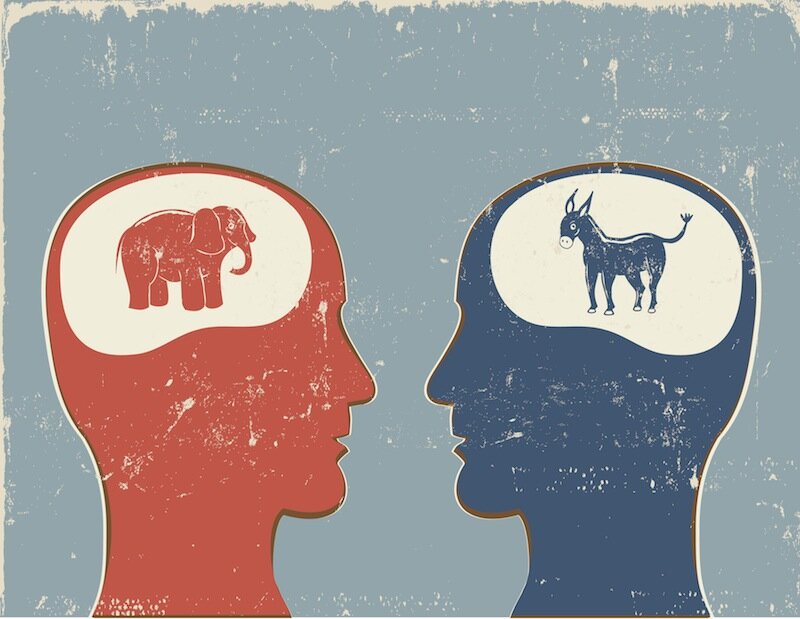Em "O Ruído do Tempo", Julian Barnes celebra a arte que consegue ser ouvida para além de seu contexto histórico.
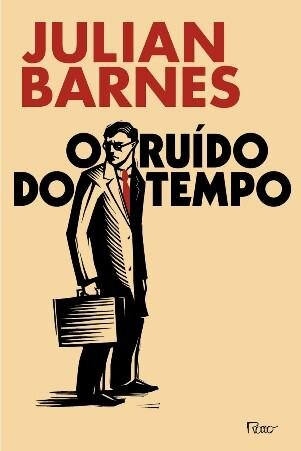
“O ruído do tempo”, de Julian Barnes (Rocco, 2017, 176 páginas)
De tão superlativos, os números da tragédia totalitária soviética causam uma miopia muito própria das experiências revolucionárias. Dramas pessoais tornam-se menores, quase invisíveis, se olhados na perspectiva das milhões de mortes motivadas por expurgos, carestias, torturas e esforços de coletivização. Como pensar na gota d’água que é a desgraça de um homem quando houve uma catástrofe que ceifou um oceano de tantos – e tantos, e tantos, e tantos – outros?
Mas o ponto de vista individual, rico em detalhes e nuances, expondo um sofrimento concreto e privado, é justamente a forma mais precisa de se entender o que ocorreu. É a chance de situar o desastre colossal à altura dos nossos olhos, trazendo uma perspectiva mais realista, que tenta diminuir a banalidade do horror.
No ano do centenário da Revolução Russa, data convidativa para qualquer tentativa lunática de revisionismo histórico, chega ao Brasil O ruído do tempo. Após Gustave Flaubert e Arthur Conan Doyle, Dmitri Shostakovich é personagem da obra de Julian Barnes – no melhor de seus livros desse gênero que mistura biografia, memória e ficção.
O compositor passou por muitos dos estágios possíveis sob o jugo de uma ditadura: do apoio cego na infância ao afastamento durante a juventude; da perseguição causada por uma obra malvista à redenção ocasionada pelo sucesso de outra; da humilhação dos interrogatórios ao autoflagelo por ter sucumbido às tentações e entrado na máquina do governo.
O início (embora tudo comece “em muitos lugares e em muitos momentos; algumas coisas até mesmo antes do próprio nascimento de alguém, em países estrangeiros, e na mente de outras pessoas”) foi com a ópera Lady Macbeth de Mtsenk. Em seu camarote no Teatro Bolshoi, Josef Stalin assistiu à peça e não gostou do que viu e ouviu. Dias depois, um editorial ameaçador no Pravda condenou Shostakovich por ter produzido “barulho em vez de música”, afastando-se de seu verdadeiro propósito: criar uma arte instantaneamente compreensível e agradável ao proletariado.
Instado a depor, o músico contou com um golpe de sorte: o marechal que faria o interrogatório foi, ele mesmo, denunciado, preso e fuzilado. Mas nada disso diminuiu seu temor de ter um destino semelhante. Passou a fazer uma vigília na frente do elevador de seu prédio durante as madrugadas – cena minuciosamente narrada por Barnes, que aproveitou seu simbolismo para torná-la o fio da meada da primeira parte do livro.
Toda a noite seguia a mesma rotina: esvaziava os intestinos, beijava a filha adormecida, beijava a esposa acordada, pegava a pequena valise das mãos dela e fechava a porta da frente de casa. Quase como se fosse para um plantão noturno. De certa forma, era o que estava fazendo. E então esperava, pensava no passado, temia o futuro, fumava no breve presente. A maleta encostada na perna estava ali para tranquilizá-lo e para tranquilizar os outros; uma medida prática. Dava a impressão de que ele estava no controle da situação e não de que era uma vítima dos acontecimentos. Homens que saíam de casa com uma maleta na mão geralmente voltavam. Homens arrastados das camas de pijama geralmente não retornavam. Se isso era ou não verdadeiro não importava. O que importava era o seguinte: parecia que ele não estava com medo.
As vigílias duraram dez noites. Ninguém veio buscá-lo, e ele voltou a viver e trabalhar.
No verão seguinte, compôs sua Quinta Sinfonia. Terminada em fortíssimo e em tom maior, era uma paródia de triunfo em meio ao caos e ao terror. Mas o Poder não entendeu a ironia, só percebeu o triunfo em si, vendo nela “algum endosso leal da música soviética e da vida sob o sol da Constituição de Stálin”. Foi um sucesso instantâneo e universal, devidamente analisado e celebrado pela Nomenklatura.
Com esse salvo-conduto, Shostakovich poupou sua pele e a de seus próximos – afinal, na “sociedade mais avançada da Terra”, os pais podiam pagar pelos pecados do filho, assim como tios, tias, primos, sogros, cunhados, colegas e amigos. Falando as frases certas, cometendo uma ou outra desonestidade intelectual, manifestando-se com palavras escritas por outros, até a música poderia se salvar.
Covardia ou coragem? Levantar-se e falar a verdade contra o Poder era algo admirável, mas igualmente fútil, pensava Shostakovich. Enquanto os fatos fossem contados pela voz do regime, qualquer morte seria recontada convenientemente por quem a ordenou. Ademais, quantos mártires ainda faltavam para provar que o regime era “verdadeiramente, monstruosamente, carnivoramente maligno”? E se ninguém morria sozinho, e o compositor faria qualquer coisa para salvar aqueles que amava, então não havia escolha.
Articulando magistralmente uma sensação de arapuca moral, a obra de Barnes possui o mérito de ultrapassar o julgamento dicotômico de seu personagem. Seria ele condescendente com a barbárie comunista ou um bravo sobrevivente de suas atrocidades? Um pouco dos dois, talvez.
É fato que, na velhice, o compositor se tornou tudo aquilo que na juventude mais teria desprezado: membro do Partido e da União dos Compositores, tinha empregados, um chofer e uma mansão. Aparecia enturmado nas fotografias da elite política russa. Assinara uma carta pública contra Alexander Soljenítsin, embora o admirasse e relesse constantemente seus romances.
Mais do que sentenciar sobre esse desenrolar dos fatos, o que o livro oferece é a visão melancólica daqueles que, mergulhados na selvageria, só queriam ser deixados em paz com sua arte, sua família e seus mais simples desejos. Shostakovich tentou isso a todo custo, mesmo que a consequência fosse ser conivente com um regime sangrento.
Vivendo imerso em um ensurdecedor ruído do tempo – o barulho do contexto trágico de que ele não podia fugir – o compositor tentou escapar disso pelo som da música:
A música que está dentro de nós – a música do nosso ser – e que é transformada por alguns em música de verdade. Que, ao longo das décadas, se for forte e verdadeira e pura o suficiente para abafar o ruído do tempo, é transformada no sussurro da história.
O que resta à arte de Dmitri Shostakovich é a certeza de que ela não pertenceu ao Partido, tampouco possuiu função específica ao Povo. Não foi composta para uma elite burguesa, nem para um mineiro cansado de trabalhar e precisando de um estímulo. Sua arte foi um instrumento de beleza para aqueles que melhor apreciavam aquilo que ele compunha – e que, dessa forma, conseguiu superar o ruído de seu tempo.
Tomás Adam
Jornalista e empresário.