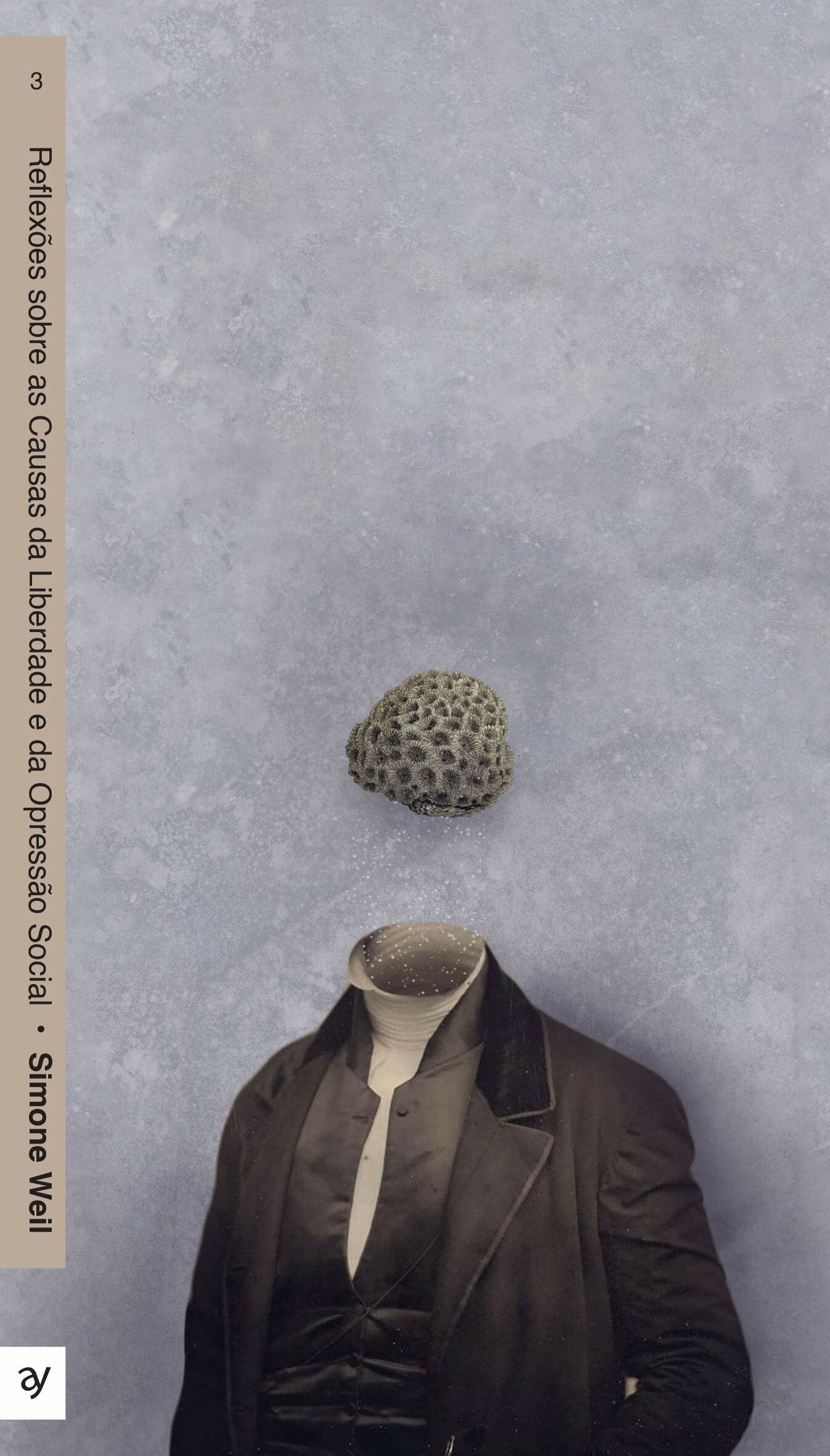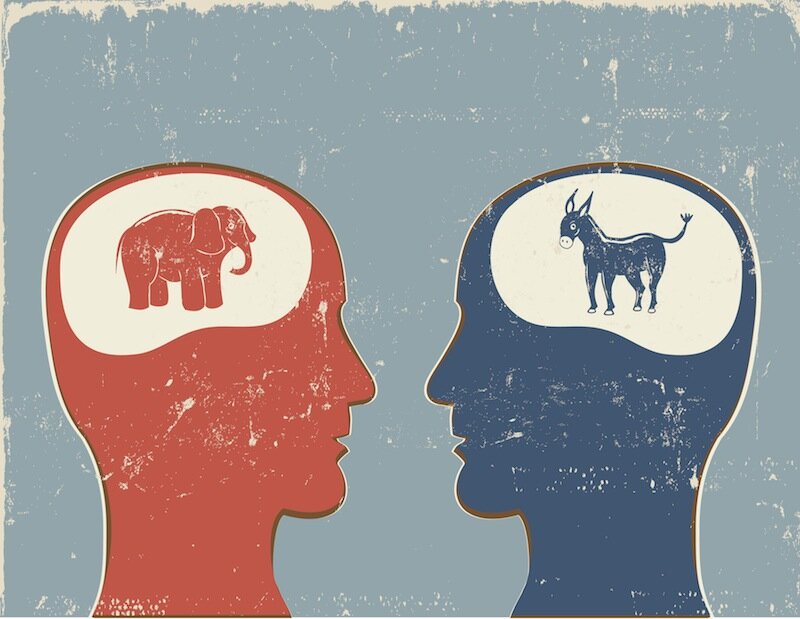Como Ulisses, Schofield tem de realizar uma tenebrosa viagem

Dirigido por Sam Mendes, premiado cineasta britânico, e celebrado pela destreza técnica de sua fotografia, o filme 1917 não oferece apenas um espetáculo gráfico. É um drama comovente, repleto de cenas emocionalmente intensas que se sucedem em movimento constante. Um ponto alto da trama é o contraste estabelecido entre o sentimento moral de abnegação e o impulso selvagem do homem à destruição. Essa dualidade é um tema eterno da Filosofia e aparece nas principais mitologias da história. Um espectador atento não sairá indiferente da sessão.
É verdade que nenhum filme pode ser reduzido a duas ou três lições de moral. Mas é igualmente verdade que as grandes obras de arte nos inspiram ética e espiritualmente, ligando-se aos sentimentos íntimos e às ideias profundas que nos constituem humanos. Por isso, as obras clássicas são, na feliz definição de Italo Calvino, aquelas que nunca deixam de dizer o que têm a nos dizer. São poemas, peças, romances, músicas e filmes que nos remetem à universalidade do ser humano. 1917 pode ser considerado um filme clássico. É uma obra que inspira, de forma auspiciosa, a imaginação moral do homem moderno.
O cinema e a imaginação moral
Assistir a um filme não é uma atividade fútil. Acompanhar os movimentos na tela por uma ou duas horas é um estímulo considerável à imaginação de qualquer um. Por mais desinteressado que o espectador suponha estar, ele não sai impune da poltrona, seu imaginário não permanece intocado, pois sua mente foi marcada por imagens e ideias sinuosas que adentraram seu espírito. Tais imagens e ideias passam a compor o repertório mental do qual se extraem os signos que tornam a existência inteligível.
É por essa razão que o consumo excessivo de determinado gênero pode deturpar a percepção do indivíduo, moldando-lhe insensivelmente os sentimentos e o pensamento, tornando-o dependente deste ou daquele elemento estético, como um glutão cujo paladar está viciado. Atualmente, um caso dramático de imaginação viciada talvez seja o dos consumidores compulsivos de pornografia, incapazes de manter relações sexuais saudáveis. Isso ocorre porque a arte audiovisual é elaborada com elementos arquetípicos que representam a vida concreta, reinventando a realidade no campo da imaginação. Se a imagem exibida na tela dialoga com nossas paixões e convicções, somos diretamente afetados por ela. Essa afetação produz, em nosso íntimo, um desejo imitativo ou uma repulsão imediata. Amar, odiar – ou os dois.
O arquétipo é uma unidade imagético-simbólica que nossa imaginação utiliza como a mais útil ferramenta para dar significado ao mundo. Autores como Carl Gustav Jung sustentam que o inconsciente coletivo é povoado por arquétipos desde tempos imemoriais. A invenção do cinema potencializou a fabricação de imagens arquetípicas, pois enriqueceu a narrativa artística com vídeo e som. É assim que a face de Jesus Cristo nos evoca sentimentos associados à fé cristã, e a face geralmente atribuída ao Filho do Homem é a de Robert Powell, ator inglês que interpreta o protagonista do filme Jesus de Nazaré, clássico de 1977. É pelo mesmo motivo que Don Corleone, interpretado magistralmente por Marlon Brando, é recordado como a encarnação do mafioso italiano.
Poderíamos citar inúmeros personagens arquetípicos que marcaram época no cinema. O que nos importa é que todo arquétipo é caracterizado por um conjunto mais ou menos evidente de valores e princípios. Por essa razão, a criação de um personagem de filmes e séries envolve a elaboração de uma moralidade própria. Bons personagens tendem a ser contraditórios ou ambivalentes, capazes de assumir um comportamento bom ou mau. É nesse sentido que se deve falar do impacto positivo ou negativo do cinema no imaginário coletivo.
A indústria do cinema atinge milhões de pessoas, em todos os cantos do globo, criando as condições para a afirmação ou a negação de bens culturais. Bens como os ideais de nobreza, bravura, responsabilidade e justiça – para não mencionar as instituições sociais fundadas nesses ideais. Esses ideais perfazem o que alguns autores chamam de imaginação moral. Que é isso?
Entendemos a imaginação moral, nos termos do filósofo e historiador Russel Kirk, como a capacidade de apreciar a ligação ética estabelecida entre pessoas cujas ações são intrinsecamente dotadas de significado. Desta perspectiva, nós interagimos em sociedade como seres interdependentes que partilham um grupo de normas e preceitos. É a observação desta constelação moral que permite ao indivíduo se orientar na vida coletiva, encaminhando-se em direção a fins superiores. Trata-se de uma faculdade do espírito a ser constantemente cultivada por meio da reflexão conscienciosa, da autocrítica sincera, da discussão entre o eu e o nós. Tudo isso com o fim de organizar a vida em sociedade. Uma imaginação moral consistente é um dos fundamentos da civilização, e, sem ela, os indivíduos vagam perdidos no labirinto em que todos os caminhos levam a lugar nenhum. Em seu A Política da Prudência, Kirk diz:
Meu argumento é que a cultura elaborada que conhecemos encontra-se em sério perigo; que a nossa civilização poderá acabar pela letargia, ser destruída pela violência, ou perecer pela combinação desses males. Os conservadores culturais, acreditando que a vida segue valendo a pena, estão começando a dirigir-se, insistentemente, aos meios pelos quais é possível restaurar a cultura recebida. Tal grupo (…) precisa da imaginação moral. A restauração do saber, humano e científico; a reforma de muitas políticas públicas; o esclarecimento dos pontos remotos em que tardamos – tais linhas de ação estão abertas àqueles da geração emergente que buscam um propósito na vida.
Um dos bens culturais em constante ataque nos últimos anos é o ideal de bravura, sobretudo a masculina. Trata-se certamente de um arquétipo enraizado na consciência coletiva. Ao longo de milhões de anos, a união de macho e fêmea possibilitou a padronização da conduta correspondente a cada sexo, o que satisfez as necessidades evolutivas. O macho típico, portanto, possui certas qualidades inatas e adquiridas que o caracterizam. São qualidades que o auxiliaram na luta pela sobrevivência em eras remotas, e que permitiram ao ser humano subsistir perante ameaças inimagináveis. Em meio ao mundo enorme, o homem teria de ser bravo.
As qualidades morais do homem não estão inscritas em seu código genético, devem ser ensinadas e aprendidas. São qualidades construídas ao longo de incontáveis gerações, como produto colaborativo, forjadas em meio a circunstâncias desafiadoras. São também qualidades mais ou menos voláteis, por sua natureza artificial, abertas a eventuais questionamentos. É nesse espaço aberto à afirmação ou à negação que todo debate ético se encontra. Esse debate sofre a influência da imaginação moral, dos valores dominantes que orientam o indivíduo.
Cabo Schofield contra o homem moderninho
1917 é uma obra capaz de estimular a discussão ética relativa à sociedade contemporânea. Não é mais um filme focado na grandeza mórbida das batalhas campais. Sam Mendes nos convida a acompanhar a trajetória pessoal do jovem cabo Schofield, que, em meio a explosões e ataques vindos de todos os lados, deve atravessar o território inimigo e entregar uma mensagem a um batalhão aliado. Se a mensagem não chegar a tempo, vidas serão perdidas. O tom intimista dos diálogos reforça a individualidade de Schofield, premido entre os horrores externos da guerra e seus pessoalíssimos demônios.
Como Ulisses, Schofield tem de realizar uma tenebrosa viagem. Diferentemente do herói de Homero, o cabo não poderá clamar aos deuses por ajuda para cumprir sua odisseia. Por terra, céu e mar – não há forças superiores dispostas a ajudá-lo. Schofield realiza sua missão com abnegação e heroísmo, como fosse um exército de um homem só. Ele está sozinho, isolado das tropas aliadas, caminhando em meio a corpos tombados sem vida, ruínas fumegantes, enormes crateras no terreno que serviu de palco ao espetáculo bárbaro da guerra. É na solidão que Schofield desenvolve os sentimentos nobres que elevam sua alma, apesar do inferno circundante. Solitário, o soldado tem consciência de que não está disperso no mundo. Ele representa um grupo de homens igualmente vulneráveis. O fato da guerra se impôs a todos, subjugando os homens, impondo-lhes deveres morais cujo cumprimento será doloroso. Nesse momento, Schofield devota integralmente a própria vida à salvação de seus compatriotas. Matar-se ou fugir implicaria na morte de centenas de homens. Urge ser responsável, cumprir seu papel na defesa do bem-comum.
Trata-se de ser responsável quando ninguém está olhando. Como escreveu Olavo de Carvalho, é a solidão que permite o autoexame e cria as condições para o exercício responsável de nossas funções:
Estou persuadido de que as vivências desse tipo – os atos sem testemunha, como costumo chamá-los – são a única base possível sobre a qual um homem pode desenvolver uma consciência moral autêntica, rigorosa e autônoma. Só aquele que, na solidão, sabe ser rigoroso e justo consigo mesmo – e contra si mesmo – é capaz de julgar os outros com justiça, em vez de se deixar levar pelos gritos da multidão, pelos estereótipos da propaganda, pelo interesse próprio disfarçado em belos pretextos morais.
Uma consulta ao dicionário etimológico nos mostra que a palavra responsabilidade é derivada do latim responsus, particípio passado de respondere, que significa responder. Trata-se de responder pelos próprios atos ou pelo estado de nossos semelhantes. Schofield é o arquétipo do soldado cuja valentia é fundada na responsabilidade. Abdicando de si, o cabo se lança bravamente à missão. O mesmo poderia ser dito de Desmond Doss, protagonista de Até o último homem, um médico do exército estadunidense disposto a salvar vidas sem pegar em armas. No caso de 1917, porém, o uso do rifle não pode ser dispensado por aversões pessoais ao combate de fogo. Schofield rapidamente descobre que um tiro desperdiçado ou omitido pode transtornar sua carreira, criando novos obstáculos. É indispensável atirar e abater o inimigo, pois, para o cabo mensageiro, morrer seria levar consigo uma multidão de homens à sepultura.
Como na guerra, o dever moral é um chamado à responsabilidade. Felizmente, no entanto, não vivemos em estado de sítio e não somos combatentes alistados em nenhum confronto armado. A vida civilizada nos permite escapar da carnificina, porém nos impõe exigências. São deveres diluídos na passagem das horas, esquecidos ou ignorados em meio ao cotidiano, que, embora não exijam sangue, não deixam de decidir a vida e a morte do homem comum. Schofield teve de enfrentar a perseguição de soldados inimigos, dispostos a trucidá-lo. Nós talvez tenhamos de enfrentar a tentação ao adultério, à chance lucrativa de um crime, ao abandono parental, à fúria homicida, etc. A moral civilizada pode ser sintetizada por meio da advertência do apóstolo Paulo: “tudo me é permitido, mas nem tudo me convém”.
Perante a tentação, o homem deve optar intimamente entre satisfazer seus desejos mesquinhos e sacrificar-se pela manutenção do contrato social. Resistir a si mesmo, controlar os impulsos primitivos, apreciar eticamente as relações sociais: tudo isso exige um ato diário de bravura. É nesse ato que o ser humano amadurece sua consciência moral e revigora suas energias para matar um leão por dia. Mas o homem moderno é frágil em demasia, não suporta o peso da própria responsabilidade, quer terceirizar os ônus e se apropriar de todo bônus, quer explodir o sistema sem antes forrar a cama. Qualquer padrão moral é prontamente rechaçado por esse bicho moderninho, convencido de que a masculinidade é, na verdade, um constructo prejudicial e tóxico, e não uma estrela-guia a ser seguida. As qualidades consagradas pela Igreja na forma das virtudes teologais e cardinais também são, como atestam Foucault e outros gênios, modos ideológicos de o dominante controlar o dominado. A bravura não significa nada.
O caráter pusilânime do homem moderno é reforçado por meio de filmes e séries que visam desconstruir, de modo sorrateiro e destrutivo, toda e qualquer identidade masculina. Não se limitam a exibir personagens femininas fortes e destemidas, como fizeram Nise – no coração da loucura ou Negação, dois filmes centrados em mulheres admiráveis. Ao contrário, títulos como Eu não sou um homem fácil ou Diz Croquettes exibem uma imagem emasculada e fraca de homem, temperada com críticas fáceis e inócuas ao estereótipo de machão. Ao que tudo indica, é inaceitável exibir nas telas um modelo ideal de masculinidade marcado por coragem, bravura e fortaleza.
É por isso que Thomas Shelby, protagonista da série Peaky Blinders, foi duramente criticado por um transexual da universidade North Texas, por supostamente ser a representação romantizada do homem oprimido pelos padrões de masculinidade. Não contente, o crítico diz ainda que a série estimula o desejo homossexual por seu protagonista para, logo em seguida, reprimi-lo. Logo, o espectador assíduo da série tem, na verdade, desejos recalcados por Thomas. Todo esse malabarismo retórico tem como fundamento a ideologia pós-moderna do desconstrucionismo, segundo a qual os tipos ideais de conduta são opressores. Em outras palavras, os arquétipos devem ser reestruturados, manipulados e eventualmente destruídos.
Acontece que nenhuma sociedade subsiste sem padrões morais e sem arquétipos de conduta que orientem o comportamento individual. Autores como Joseph Campbell e o já citado Carl Gustav Jung demonstram que, ao longo da evolução das sociedades humanas, a mente foi povoada por imagens e representações que permitiram ao homem encontrar sentido em viver e conviver. São esses arquétipos, cultivados por meio das tradições orais do folclore ou das produções audiovisuais, que nos mostram o horizonte que devemos perseguir. Em sua base há um grupo característico de preceitos e normas que regulam e ordenam as relações sociais. É verdade que há padrões mais ou menos desejáveis, e que a moralidade da sociedade não é um monólito inquebrantável. A revisão e eventual eliminação de certos tipos ideais faz parte do que chamamos de processo civilizatório. Porém, a padronização da conduta é inevitável, e, portanto, temos de avaliar criticamente que arquétipos necessitamos manter para a saúde do corpo social.
Parece indiscutível que o ideal de bravura masculina não é dispensável. Não basta, contudo, ser bravo no campo de batalha – muitos de nós jamais pegaremos em armas. Talvez seja necessário emular o heroísmo e a valentia de Schofield em nosso cotidiano, “no difícil exercício de viver em paz”. É preciso combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. Sozinho mas não disperso – um exército de um homem só.
Rafael Valladão
Professor de Ciências Humanas e Sociais. Foi colunista do Instituto Liberal e do Burke Instituto Conservador.