O “maoísmo tropical” do Escola Sem Partido e o “maoísmo freireano” se retroalimentam.
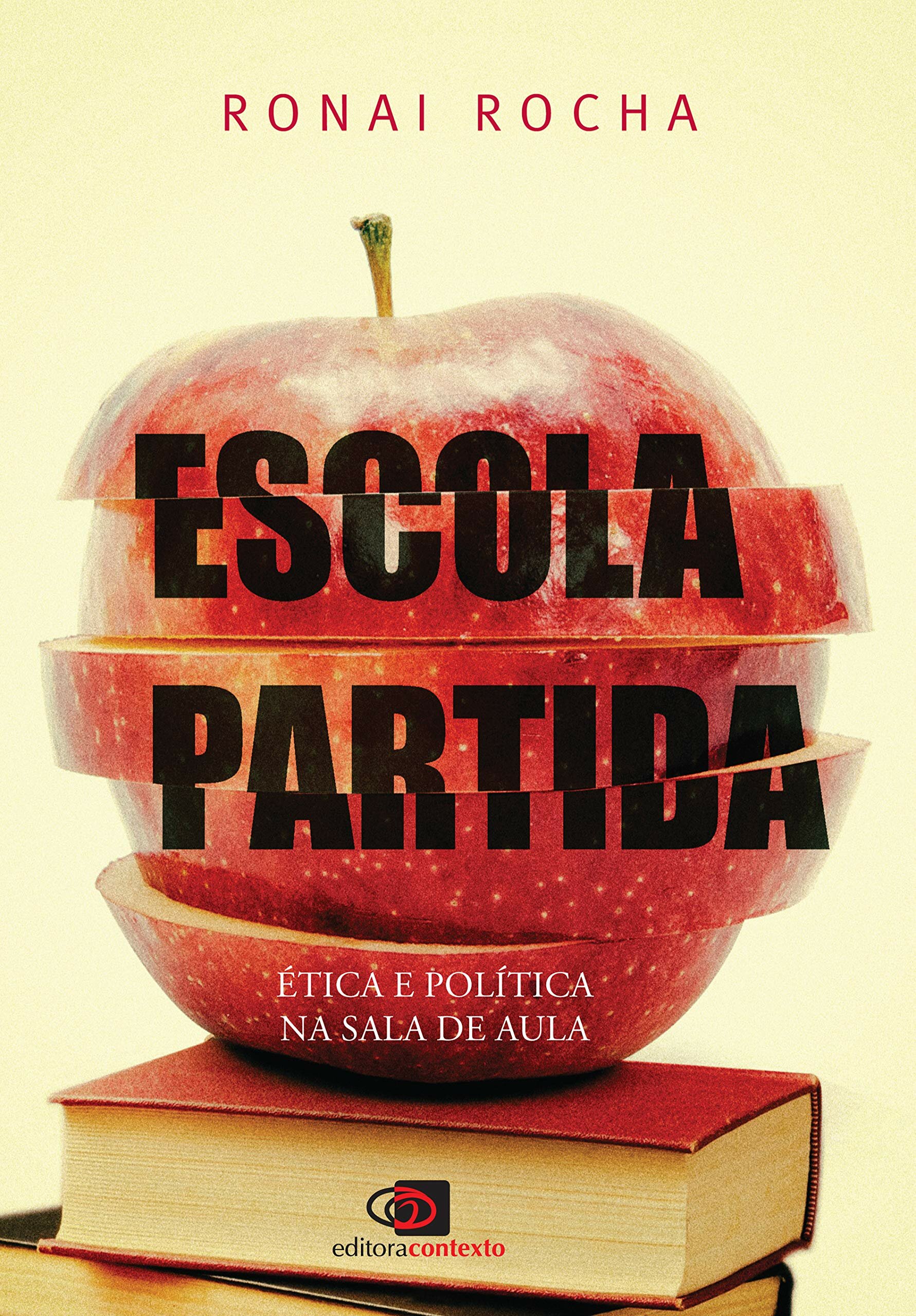
“Escola partida: Ética e política na sala de aula”, de Ronai Rocha (Contexto, 2020, 160 páginas)
A educação escolar tem sido uma das principais trincheiras afetadas pelo estado pernicioso e contraproducente de guerra cultural que tem tomado conta do Brasil nos últimos tempos. A proliferação de expressões como “ideologização do ensino”, “doutrinação marxista nas escolas”, “ideologia de gênero”, entre outras, tem dado o tom do falatório superficial que vem dominando a discussão sobre o tema no país. É para dar conta de realizar uma discussão mais qualificada e desapaixonada sobre o tema que Ronai Rocha – professor do departamento de Filosofia da UFSM, doutor em Filosofia pela UFRGS e especialista em questões de educação e ensino – nos brindou, neste início de ano, com seu breve livro Escola Partida.
O professor Rocha já havia atacado algumas das questões polêmicas que são tratadas nesse livro em seu Quando Ninguém Educa: qQestionando Paulo Freire, publicado em 2017 também pela editora Contexto. Desta vez, no entanto, o filósofo vai direto ao ponto: para ele, é preciso entender, acima de tudo, o que aconteceu no debate pedagógico brasileiro a partir dos anos 1970 que teria levado ao recrudescimento da guerra ideológica em torno da educação escolar e que culminou no surgimento do controverso movimento Escola Sem Partido, que, embora tenha ganhado força apenas nos últimos anos, foi fundado em 2003.
O autor escolhe como linha mestra de sua argumentação a crítica a duas tendências que foram dominantes na formação dos professores e na discussão acadêmica sobre a educação no Brasil. A primeira tendência é a noção, muito sedimentada por certa interpretação da obra de Paulo Freire, de que “A educação é um ato político”. Munido das reflexões de Weber, em seu clássico texto “A Ciência como Vocação”, publicado no longínquo ano de 1919, e dos textos de Hannah Arendt que fazem críticas explícitas à pedagogia progressista, em especial “A Crise na Educação”, publicado na coletânea Entre o Passado e o Futuro, de 1961, Rocha passa a problematizar a simplicidade dessa ideia esquerdista que vê a escola e a educação pública em geral como uma instância que deve ser mobilizada com o objetivo de, simplesmente, inculcar ideais progressistas para a politização precoce das crianças e jovens.
Para Rocha, o conhecimento e a experiência escolar carregam uma dimensão humana quase “mística” que não pode ser perdida em função de uma demanda progressista de conscientização ideológica para “mudar o mundo”. A função de conservação e transmissão cultural da escola, tal como enfatizado por Arendt no já mencionado texto, é anterior e mais fundamental do que a demanda de politização do educando para “transformar a realidade”. Rocha compartilha com Arendt a apreensão em relação às posturas dos professores que querem sujeitar as crianças e jovens às paixões políticas dos adultos e que moldam toda a sua prática pedagógica com vistas a atingir tal objetivo. O autor mobiliza Weber e lembra a distinção que o eminente intelectual alemão fez entre o professor universitário que expõe as questões sociológicas, políticas e culturais com as quais lida em seu ensino a partir da maior variedade de posições e pontos de vista possíveis que buscaram interpretar tais questões, e que deixa o estudante livre para formar a sua própria posição, e o demagogo, que se utiliza de sua cátedra para conquistar os corações e mentes dos jovens em favor da tomada de posição política prática para um lado determinado.
Para o professor da UFSM, a pedagogia progressista, com sua ênfase excessiva no papel que a educação escolar deveria ter para produzir disposições político-ideológicas (como é observável nos escritos de Paulo Freire, Demerval Saviani ou, mais recentemente, Gaudêncio Frigotto) favoráveis à demanda marxista de mudança radical da sociedade capitalista, teria incorrido nessa postura pedagógica demagógica que Weber, na Alemanha do início do século XX, identificou em seus pares que se utilizavam de suas posições acadêmicas para, ora fazer proselitismo militarista favorável à entrada do país na Primeira Guerra Mundial, ora praticar militância pacifista contrária à guerra. A hegemonia da visão progressista que postula que “a educação é um ato político” nos cursos de formação de professores teria inclusive, segundo o autor, contribuído para a ascensão do movimento Escola Sem Partido.
A segunda tendência dominante na formação de professores a partir dos anos 1970 apontada por Rocha é constituída pela força que as chamadas teorias “reprodutivistas” tiveram na estruturação dos currículos das faculdades de educação. Essas teorias, basicamente, buscavam elucidar como as relações de dominação e estratificação, predominantes na sociedade capitalista, se reproduziriam no microcosmo do cotidiano escolar, estando, portanto, entranhadas nas regras e nos valores da instituição (meritocracia, hierarquia, competitividade, relações verticais professor-aluno, valorização da cultura formal em detrimento das “culturas marginais”, etc). Tais teorias, que estiveram muito associadas à Sociologia da Educação, viam a escola como um mero instrumento de dominação e de inculcação de valores hegemônicos que visava produzir uma espécie de “adestramento” social dos estudantes de origem social modesta, eliminando assim – tal como preconizado pelos pedagogos marxistas – o seu suposto “destino histórico” derivado do fato de pertencerem a uma classe social destinada à “transformação social”.
A mistura de análise sociológica da instituição escolar com hipóteses marxistas vulgares é marcante em muitos desses estudos. Essa vulgata marxista chega, em alguns casos, ao ponto de transpor o binarismo opressor-oprimido (típico do discurso progressista mais panfletário) para a compreensão das relações entre professor e aluno, não raramente vendo o primeiro como um agente institucional da dominação “ideológico-cultural” da sociedade capitalista através da escola e o segundo como uma “vítima” da “cultura dominante” que teve a sua espontaneidade e os seus valores negados pela imposição da cultura “legítima” através da instituição escolar. Essa redução da escola a um simples dispositivo de dominação social teria levado, para o filósofo, a uma negação de sua função social básica enquanto instituição, que é, acima de tudo, a de promover o ensino de habilidades básicas como a escrita, a leitura e as operações matemáticas mais elementares; em síntese: uma função epistêmica de transmissão do saber, e não uma função política.
Em um contexto como o brasileiro, no qual essas teorias começaram a chegar e a influenciar a formação dos professores já a partir dos anos 1970, antes, portanto, que o país sequer tivesse expandido o acesso à escola básica para a maior parte de sua população, tal hegemonia teve um efeito bastante pernicioso. Aqueles que ficaram encarregados da pesquisa sobre educação na universidade e da prática docente nas escolas “desconstruíram” as rédeas de “dominação” que estariam por trás da escola como instituição social sem que sequer o Brasil tivesse construído uma rede de escolas públicas de qualidade razoável para as suas crianças e jovens. Foi feita uma “desconstrução crítica” dessa instituição sem que a maioria das crianças e jovens brasileiros soubesse ler, escrever e realizar operações matemáticas simples de forma satisfatória; ou seja: sem que tivéssemos construído a escola pública brasileira. Preconizou-se, de maneira utópica e irresponsável, a formação de “cidadãos críticos”, mas esqueceu-se que, para isso, era preciso, primeiro, ensinar os jovens a fazer coisas bem mais básicas.
Essa demolição crítica da escola criou uma situação que eu qualificaria como “esquizofrênica”, na qual, de acordo com Rocha, os professores, ao invés de vivenciar a escola no que o autor chama de “primeira pessoa”, isto é, a partir do trato com os problemas didáticos reais e da elaboração de uma ética profissional que dê conta dos dilemas práticos da profissão docente, a vivenciassem em “terceira pessoa”, isto é, agissem na escola o tempo todo como se estivessem preocupados em fazer uma análise crítica das relações sociais da instituição e de seus valores (sempre, evidentemente, estando influenciados por teorias reprodutivistas que denunciam a sua “perversidade”), tal como alguém que estuda a instituição de fora. A conclusão diante desse quadro é a seguinte: é difícil fomentar um debate mais consistente sobre problemas didáticos e ética profissional em um ambiente intelectual de formação de professores que, como sinalizado pelo autor, é dominado pela vulgata reprodutivista e pela tese de que a educação “é um ato político”.
Um dado bastante curioso do livro, e que representa, num certo sentido, a quebra de um tabu, é que o autor, ao contrário da maioria esmagadora dos acadêmicos brasileiros ligados à área da educação, resolveu escutar os argumentos do movimento Escola Sem Partido. Rocha analisa de forma meticulosa alguns documentos nos quais as posições do movimento estão expostas. E chega a uma avaliação bastante interessante e, num certo sentido, distanciada e desapaixonada do movimento. O autor acredita que existe certa razoabilidade em algumas demandas do Escola Sem Partido, especialmente quando, nos documentos da organização, é afirmada a demanda de que, no tratamento de questões ideológicas controversas, como ocorre com frequência no ensino de humanidades, seja exposta a máxima pluralidade possível de posições e leituras existentes para que o aluno possa formar o seu juízo de forma minimamente autônoma.
Contudo, na prática, a realidade das atitudes fomentadas pelo movimento, como, por exemplo, a incitação sistemática ao patrulhamento e à denúncia judicial dos professores acusados pelos alunos de praticar “doutrinação ideológica” (incluindo recorrentes episódios de filmagens com celulares nas salas de aulas com o objetivo de destruir reputações de docentes), é bem menos “liberal” e “civilizada” do que parece; isto faz o autor qualificar tais arroubos autoritários que visam controlar os docentes como manifestações de uma espécie de “maoísmo tropical”, fazendo clara referência à encarniçada perseguição aos professores acusados de difundir ideias “burguesas” que aconteceu durante a Revolução Cultural chinesa (curiosamente, o próprio Paulo Freire, ídolo máximo dos pedagogos progressistas, tal como demonstrado por Rocha, nutria simpatias explícitas ao maoísmo, como fica claro no texto da “Pedagogia do Oprimido”, fato que foi apagado por seus biógrafos que o tratam, segundo o autor, como uma espécie de “santo”). Para o surgimento desse “maoísmo tropical” reacionário, com suas propensões histéricas à radicalização de um estado de guerra cultural que tem a educação como trincheira de batalha central (como temos visto, atualmente, na desastrada e pouquíssimo profissional gestão do ministro Abraham Weintraub no MEC), contribuiu e muito, para Rocha, a hegemonia das teses reprodutivistas e da vulgata freireana de que a “educação é um ato político” na formação dos professores (é bom lembrar que o autor, como bom filósofo, em nenhum momento nega que existam dimensões “políticas” no ato educativo, mas, ao invés de endossar tal frase simplória, prefere realizar uma cuidadosa discussão semântica sobre o significado do termo “política” para concluir, na melhor filiação arendtiana, que a “política” que existe dentro da sala de aula é bem diferente da política feita pelos adultos própria a um espaço público que, quase sempre, a pedagogia progressista quer trazer, a qualquer custo, para dentro da sala de aula); o “maoísmo tropical” do Escola Sem Partido e o “maoísmo freireano” se retroalimentam.
Resta saber se, em meio a esse cenário bastante conflitivo no qual, de um lado, muitos professores acreditam piamente que a educação é, exclusivamente, um ato político e agem como se estivessem em “terceira pessoa” na escola, sempre tentando “desconstruir” seus mecanismos sociológicos de “dominação” e arrebanhar os alunos para a causa de “mudar o mundo”, e, de outro, existe certa obsessão pela ideia de que a escola brasileira está repleta de “professores doutrinadores”, que leva, como temos visto, a práticas persecutórias incompatíveis com um regime democrático e a uma quebra nas relações de confiança entre alunos, pais e professores, sobrará algum espaço para discutirmos ética profissional e nos preocuparmos com os milhões de jovens que saem das nossas escolas sem saber ler, escrever e contar de forma minimamente razoável. A pergunta “O que pode fazer um professor?”, sugerida pelo instigante e necessário livro de Ronai Rocha, é mais urgente do que nunca no nosso país.
Fernando José Coscioni
Doutor em Geografia Humana pela USP.








