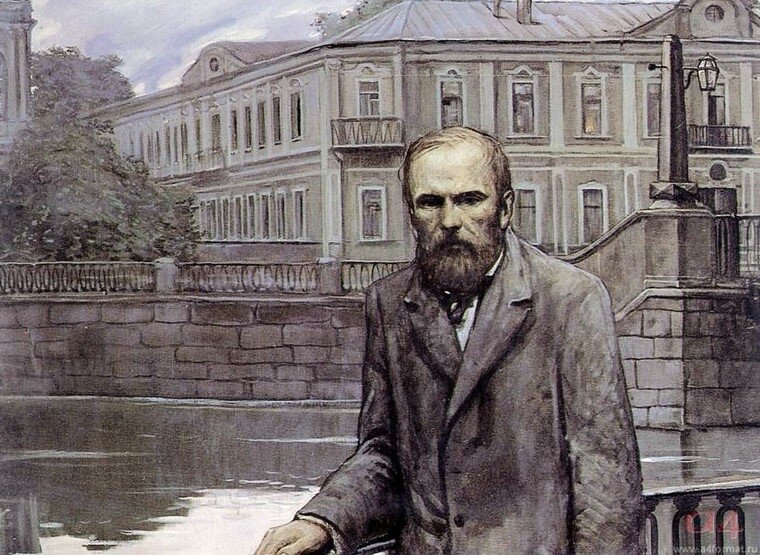Como o gerenciamento econômico lulopetista espelhou o dos militares.
Médici, Dilma e Lula
1.
Nasci nos anos 90. Década em que o Brasil já tinha uma democracia consolidada, na figura da Nova República, e ia se distanciando dos anos de ditadura militar. Nada experimentei dos chamados “anos de chumbo”. Ainda assim, estudar a política econômica destes dois períodos me despertou uma forte, inicialmente estranha, sensação de familiaridade.
No apogeu da ditadura (e da repressão) militar (aqui definida como o período entre o AI-5, em 1968, e o último ano de Geisel, em 1978), a política econômica foi marcada por um caráter claramente setorial, que beneficia determinados setores considerados estratégicos. Para isto, lançou-se mão de um sem-número de recursos públicos e legislações diferentes. Estatais ampliaram seu papel na economia, sob monopólios cerrados no mercado onde atuavam – Petrobras na exploração e distribuição de óleo e gás, Eletrobras na energia elétrica, CSN na siderurgia e metalurgia.
Leis de conteúdo nacional eram regra em contratos públicos e em diversos setores da economia, ameaçando paralisar muitas atividades industriais ao redor do país. Isto seria sanado com uma injeção massiva de subsídios.
A concessão da maior parte do crédito no país acabaria controlada pelo governo, de uma forma ou de outra, via bancos públicos ou privados nas linhas governamentais, e utilizada como moeda de troca para apoio político com o grande empresariado. Isto era simbolizado por um robusto banco de desenvolvimento estatal, que acabaria por sugar recursos de longo prazo no país e inibiria o progresso de um mercado de capitais privado para este fim. Este banco, veria-se posteriormente, iria aplicar seus recursos sobretudo em benefício de grandes conglomerados, e de forma inclusive deliberada.
Desonerações fiscais eram concedidas de forma crescente e com cada vez menos controle, junto de extensão do prazo de pagamento de impostos – sempre para alguns. Fomentou-se abertamente a concentração de mercado em torno de algumas empresas, e se alertava para os perigos da competição externa, vista como “predatória”, “injusta”, “desigual”. A ideia era criar ou fortalecer alguns grandes grupos nacionais, inclusive financeiros, com o objetivo posterior de se competir lá fora (ao menos era o discurso, já que isto sequer foi tentado).
Cortejavam-se ditadores de outros países subdesenvolvidos, como forma de fortalecer a legitimidade pública do regime mantido aqui dentro. Isto seria feito inclusive sob a desculpa de desenvolver o país e ampliar seu grau de alcance, tendo o objetivo declarado de solidificar o Brasil como uma liderança global.
Os discursos eram marcados pelo ufanismo e o nacionalismo, sempre ressaltando que o país rumava numa trajetória de se tornar uma grande potência, amparado na força de nossas estatais e na grandeza do Estado brasileiro e do general da vez, encaminhando a população brasileira para seu “grandioso destino”. A força do trabalho e o poder empreendedor sempre ficariam em segundo plano, como forma de acentuar o impacto do governo na população, em detrimento de esforços individuais e descentralizados.
O tom era assumidamente pró-intervencionismo, numa visão onde o planejamento estatal seria capaz de suprir as necessidades da população – e os objetivos declarados pelas facções no poder. Se falava da economia como se esta fosse determinada por decisões de burocratas e seus engenhosos planos – como a “decisão” da ditadura militar de crescer mais de 10% ano ano nos anos 70. O mercado nacional deveria ser “protegido” da competição internacional – leia-se: algumas empresas nacionais, onerando consumidores e o próprio desenvolvimento da indústria, em setores de ponta e na renovação de seus processos.
Haviam “planos nacionais de desenvolvimento”, pontuados por projetos de obras públicas megalômanos. Estas obras, como no caso da habitação e seu banco nacional, eram feitas com base em um modelo estabelecido em Brasília, aplicável para todo o país. Para sua execução, procurou-se concentrar mais recursos nas mãos do governo federal, que por sua vez usava a liberação de recursos como moeda de troca para apoio de políticos locais.
As pressões inflacionárias, que eram crescentes e ameaçavam o desenvolvimento de médio prazo do país, sempre tinham seu risco minimizado. As autoridades volta e meia declararam estar “em vias” de solucionar o problema – ainda que as ações iam em sentido contrário, com expansão da base monetária e do crédito subsidiado, barreiras tarifárias e não-tarifárias à importados, e crescentes custos de um cada vez mais defasado parque industrial. O “alto” empresariado industrial reclamava menos que a população, já que o governo controlava preços de itens estratégicos, como eletricidade, gás, e diesel.
O ensino superior público teria forte expansão no período, como forma de construir apoio entre as “elites pensantes” do país. Universidades federais teriam crescimento substancial de espaço no orçamento público para a educação, em detrimento do ensino básico, em especial os primeiros anos de escola. Isto teria impacto sensível na formação de capital humano no país, sobretudo nas faixas de renda mais baixas – e, por extensão, efeitos prejudiciais à produtividade do trabalhador e na distribuição de renda.
E talvez o mais grave: com o descontrole dos gastos públicos, que acompanhava um salto no endividamento do país, o governo começou a se servir de um expediente, digamos, informal de documentação das finanças públicas. Em meados dos anos 70, uma verdadeira orgia entre Tesouro Nacional, bancos públicos, e Banco Central impediria, por certo período de tempo, que se fizesse uma radiografia correta de como estava se utilizando o dinheiro da população. Este expediente incluía a redução da transparência nas tabelas oficiais do Tesouro, em especial no tocante a subsídios, que cresceram de forma exponencial no período.
2.
Todos estes elementos, de uma forma ou de outra, estariam presentes na política econômica levada a cabo pelos governos de Lula e Dilma a partir de 2007. Na verdade, a descrição acima, feita após leituras de diversas fontes documentando o período militar, poderia ser facilmente duplicada para descrever o que se passou nos últimos 10 anos no país. A inflexão na política econômica que transcorreu na segunda metade do governo de Lula, quando setores ideológicos do petismo tomariam as rédeas dos principais ministérios do governo, marcaria uma volta a um nível de intervenção que não se via desde a ditadura.
Mais de metade do crédito no país passou a ser controlado pelo estado, um aumento de mais de 20 pontos percentuais, em 2016, comparado a dez anos antes. Só no BNDES, com crédito voltado para, sobretudo, grandes empresários, o custo dos subsídios alcançou mais de R$ 40 bilhões ao ano.
A inflação voltou aos dois dígitos, após período de ilusão com o controle de preços administrados, em especial na energia – o que quase comprometeu a capacidade de geração de eletricidade no país. O aumento dos preços ocorreu (e se acelerou) junto de uma forçada queda nos juros que ocorreu mesmo sem fundamentação, com um Banco Central sob forte influência do governo federal.
Leis de conteúdo nacional no setor de óleo e gás afastaram grandes multinacionais do país – afastando, com elas, capacidade técnica e recursos externos que poderiam ter impulsionado aqui o investimento doméstico. O monopólio da Petrobras, já previsto na Lei do Pré-Sal em algum grau, se fortaleceria com a redução de atratividade ao investimento. Enquanto isso, uma série de empresas e consórcios foi criada sob medida para se servir do infinito bufê de programas do governo dentro do que se convencionou como política industrial – redução de impostos, subsídios diretos, gigantescos programas de construção superfaturados e com contratos muito mal desenhados para amplas concorrências (mas sob medida para reservar editais aos “amigos do rei”).
Desonerações fiscais para o empresariado custaram mais de R$ 175 bilhões só em 2016, e a maior parte delas não tem prazo específico para término. Foram feitas sem planejamento e com direcionamento setorial claro, numa sucessão de medidas que pareceu seguir o rastro de demandas setoriais no “balcão” do Palácio do Planalto. O governo inclusive deu garantias para estados e municípios se endividarem, com o então ministro da Fazenda, Guido Mantega, incentivando governadores a concederem incentivos fiscais para instalação de empresas – mesmo sem qualquer análise conhecida justificando o custo-benefício destas medidas.
O descontrole nas contas públicas talvez seja a herança mais nefasta do desenvolvimentismo voluntarista. A dívida pública bruta subiu 15 pontos percentuais em apenas dois anos (!), enquanto o resultado primário saiu de vigoroso superávit desde 1999 – um dos pilares do tripé macroeconômico – para um déficit na casa dos R$ 200 bilhões, desde 2014 – dado aqui já ajustado pelas pedaladas fiscais de Dilma Rousseff e equipe. Sua reconstrução é uma tarefa hercúlea, demandando o enfrentamento das corporações que já se acostumaram ao seu quinhão no orçamento público – para ilustrar o desafio: o caos iniciado em meados dos anos 70 só seria corrigido em fins dos anos 90.
O discurso, até o voluntarista ensaio nacional-desenvolvimentista implodir após as eleições de 2014, permaneceu o mesmo: os críticos são meros pessimistas, o país está comprando seu passaporte para um futuro glorioso, é importante garantir a soberania nacional e fortalecer nossos grandes campeões.
Os trabalhadores – que, frise-se, custearam com seus esforços toda a orgia com recursos públicos – querem mais benesses e garantias, e certamente se beneficiarão da avalanche de programas do governo e suas estatais. E se estiverem insatisfeitos com algo, podem passar numa agência da Caixa ou Banco do Brasil e tentar as linhas de crédito especiais que pipocaram no apogeu do lulopetismo.
Quando se examina política econômica, não se deve esquecer de um fato óbvio, como já várias vezes constatou Delfim Netto: ela é decidida quando o futuro ainda é futuro – ou seja, “é desconhecido, incerto, com base na confiança maior ou menor que se deposita nas informações disponíveis”. Muito tem de verdadeiro as constatações de uma das grandes figuras da economia brasileira, presente diversas vezes nos governos militares, entre Fazenda, Planejamento e Agricultura. Mas, é indispensável um adendo: os tomadores de decisão também não podem se esquecer de experiências passadas, ou em curso, dentro e fora do país.
E em matéria de esquecimento – ou de pura má-fé, considerando a massiva quantidade de informação disponível para o Poder Executivo e os apontamentos de inúmeros analistas – a equipe econômica da segunda metade do governo Lula e da primeira do governo Dilma foi pródiga.
3.
Os anos de superaquecimento da economia sob a ditadura militar desembocaram numa crise da dívida que paralisaria por uma década o país. Hiperinflação, contas públicas completamente dilapidadas, juros nas alturas, recessão econômica intensa. A indústria, acostumada há décadas à sua reserva de mercado, pouco espaço tinha para debelar a crise via exportações, já que pouco conseguiria competir.
O empreendedorismo estava em baixa, após anos se incentivando de diversas formas a concentração de mercado, e reduziu o dinamismo econômico do Brasil. Isso possivelmente explica em parte a demora do país em sair da crise, já que um dos elementos basilares de renovação da atividade econômica estava em muito enfraquecido.
Ademais, a experiência do “milagre econômico” se materializou em altas taxas de crescimento por uma série de fatores, grande parte independentes da burocracia estatal. Crescimento demográfico acelerado, migração em massa do campo para a cidade, conjuntura externa muito favorável (com liquidez sem precedentes até então) – são só alguns dos fatores que contribuíram para excepcional desempenho econômico à época do crescimento acelerado.
Assim como nos anos Lula-Dilma, o abandono da responsabilidade fiscal e de mínima prudência com a gestão macroeconômica (e com o orçamento público, por extensão) foi regra nos anos da festa das fardas. E, também repetindo os militares, adiou-se enquanto pôde um inevitável ajuste, mesmo com todas as informações à mesa revelando a premência de interromper-se a ciranda. Quando finalmente se buscou acertar as contas e voltar à normalidade, a dificuldade – e a intensidade – de sanear as contas públicas foram muito maiores do que se houvessem sido feitas anos antes.
Finalmente, vale a reflexão para a esquerda brasileira. Não digo isso em referência aos partidos ligados que se dizem afins à corrente ideológica, mas sim aos que dizem crer em um modelo de sociedade mais próximo destes ideais – e que insistem em misturar sua crença com a politicagem de estimação.
Como é possível defender um governo que empreendeu uma política econômica como o militar? Como ir para as ruas denunciando um “golpe das elites”, quando quem mais se beneficiou das medidas tomadas a cabo pelo governo “popular” petista foram justo os principais conglomerados econômicos do país? Como defender a concentração de renda, a destruição da capacidade de geração de oportunidades, a alta da inflação, a falta de transparência com o dinheiro público?
Perdemos uma década inteira em grande parte devido a equívocos de políticos teimosos e tecnocratas “mágicos”, que conseguiriam destruir parte do dinamismo econômico do país, prejudicando a geração de oportunidades por mais de uma geração, e legando um setor público estilhaçado em pedaços inúteis. Que a herança de Dilma e Lula pare de nos prejudicar antes disso – as muitas semelhanças entre o estatismo militar e o lulopetista, no entanto, deixam poucas esperanças.
Luiz Eduardo Peixoto
Graduando em economia na FEA-USP.