Os modos de censura na França do século XVIII, na Índia colonial e na Alemanha comunista.
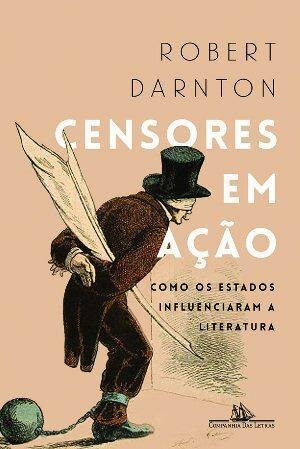
“Censores em ação: Como os Estados influenciaram a literatura”, de Robert Darnton (Companhia das Letras, 2016, 464 páginas)
A censura acontecia primeiro no coração do autor, escreve Robert Darnton em Censores em ação, ao tratar do contexto em que os autores de ficção tinham de trabalhar na antiga República Democrática Alemã (RDA), a infame Alemanha Oriental. Palavras eram muito importantes na RDA: não apenas aquele Estado stalinista declarava-se uma “República Democrática”, como ali o Muro de Berlim era o “Muro da Resistência Antifascista”. Assim como a economia, a literatura no socialismo real era planificada pelo Estado, não apenas em termos de produção industrial – quantos e quais livros seriam lançados a cada ano – mas também de tom e conteúdo.
O livro de Darnton, ele mesmo diretor da biblioteca da Universidade Harvard, debruça-se sobre três momentos históricos de censura estatal às letras: a França do Iluminismo, o Raj britânico na Índia e o regime comunista da RDA. O autor teve acesso a documentos internos dos sistemas de controle estatal da literatura dos três regimes e, no caso as Alemanha Oriental, chegou a entrevistar alguns dos censores que haviam perdido o emprego e a razão de ser com a súbita queda do “Muro de Resistência Antifascista” em 1989.
Há paralelos curiosos a serem traçados entre a França dos Luíses e a RDA, os dois momentos descritos por Darnton em que a publicação de livros dava-se não pela vontade do autor e de seu editor, mas por beneplácito do Estado, que mantinha uma burocracia própria para cuidar do assunto. Na França do século XVIII, isso era mais do que claro: a autorização para que se imprimisse um livro era um privilégio real. Formalmente, isso fazia do rei avalista de tudo o que saía das gráficas.
Tal situação transformava os censores, para além de inspetores da adequação política, moral e religiosa das obras, em críticos, revisores e preparadores de texto e, às vezes, coautores. No caso de tratados científicos, a censura francesa desempenhava um papel não muito diferente do da moderna revisão pelos pares: Darnton relata o caso de um censor que corrigiu as tabelas de quadrados e cubos de uma obra sobre geometria. Seria, afinal, uma afronta dar o selo de aprovação real a uma obra que não fosse correta e da mais alta qualidade!
Os censores da RDA entrevistados por Darnton viam-se num papel semelhante, defendendo a censura como mecanismo que fazia da Alemanha Oriental uma “terra de leitores”, em oposição ao mundo ocidental, onde vicejava a ditadura do mercado e sua imposição de livros de alta vendagem e baixa qualidade.
O autor é rápido em desfazer essa ilusão: primeiro, porque o máximo de dano que a “censura do mercado” pode fazer a um autor é obrigá-lo a arrumar um emprego chato para ganhar a vida; o “mercado” não manda ninguém para o gulag ou para a Bastilha. Segundo, porque o kitsch socialista promovido pelos burocratas das RDA não era em nada superior ao kitsch mercadológico do outro lado do muro.
Os paralelos entre o sistema francês do século XVIII e alemão do século XX também ajudam a evidenciar como os sistemas de controle e opressão avançaram ao longo dos séculos. O autor nota, com alguma ironia, que os censores da França das Luzes raramente tinham a oportunidade de vetar algum texto: livros considerados inofensivos, mas de qualidade insuficiente para ostentar o privilégio real, acabavam recebendo uma “autorização tácita” e eram impressos sob o olhar complacente das autoridades. Já obras ofensivas à moral, à Coroa ou à religião eram impressas fora do país e contrabandeadas, ou rodavam em gráficas francesas clandestinas fora do alcance das autoridades de Paris.
Um dos trechos mais interessantes do livro de Darnton é o que traz a descrição do aparato policial montado, na França, para coibir a literatura subversiva. Que, aos olhos do rei e da corte, não era a de Voltaire ou Rousseau, mas os romances pornográficos à clef que forneciam descrições – inventadas ou, às vezes, baseadas em relatos de aias e de outros serviçais – da vida privada da família Real e da alta nobreza.
Para combater a circulação desse material, surgiu um sistema de repressão e inteligência envolvendo informantes, policiais infiltrados, inúmeras oportunidades de corrupção – com policiais às vezes vendendo proteção ou tornando-se, eles mesmos, editores ou distribuidores – que não fica nada a dever ao aparato atual de combate às drogas ilícitas. E que provavelmente era, no frigir dos ovos, tão ineficiente quanto.
Na RDA, não havia sistema literário clandestino: todas as gráficas e editoras eram propriedade do Estado ou a ele respondiam. Um autor poderia enviar seus originais, ilegalmente, para publicação fora do país, mas sofreria sanções por isso. A relação entre censor e autor era uma relação de vara e cenoura, na qual a conformidade era premiada com viagens ao exterior, bons empregos públicos (em escolas, bibliotecas) e outros privilégios, enquanto que a rebeldia era paga com o ostracismo literário, empregos ruins, péssimas condições de saúde e moradia.
No limite, havia a Stasi, a temida polícia política da Alemanha Oriental, suas salas de tortura e celas infectas. O livro de Darnton descreve em algum detalhe o processo de tortura e humilhação pública do editor Walter Janka, pelo “crime” de defender o filósofo húngaro George Luckács durante a revolta húngara contra a URSS em 1956.
Entre os polos da censura prévia estatal da França absolutista e da Alemanha comunista, Darnton insere o Raj, o regime imperial britânico na Índia. O autor nota que os ingleses encarregados de administrar a Índia entre meados do século XIX e o início do século XX viam-se tolhidos numa contradição: eram agentes de uma cultura liberal impondo uma ordem imperial.
Não havia censura prévia do Raj: em veza disso, uma operosa burocracia intelectual acompanhava de perto a produção literária indiana, elaborando relatórios que às vezes se desdobravam em tratados críticos-hermenêuticos de alta erudição. A repressão, quando ocorria, dava-se nos tribunais, tendo esses relatórios como base. Literalmente, não havia censura: havia punições por crimes contra a honra ou a ordem pública.
Trata-se de uma solução tão eficaz para conciliar uma consciência democrática com uma prática autoritária que é adotada até hoje em lugares como, por exemplo, o Brasil: Darnton cita o preâmbulo de uma longa sentença em que o juiz se esmera em protestos de admiração à liberdade de expressão, antes de esmagá-la, que faria inveja a mais de um jurisconsulto nacional.
Além disso, os processos contra livros e autores no Raj eram marcados por um grau elevado de sofisticação hermenêutica e linguística – em que contexto a reelaboração literária do relato mitológico da morte de um demônio-tirano torna-se um ato de sedição? Qual o sentido apropriado desta raiz sânscrita nesta passagem? – que fazem muitos dos debates atuais sobre os usos politicamente (in)corretos da linguagem parecerem constrangedoras paródias.
Darnton também mostra que, a despeito da opressão, o espírito humano encontra suas brechas. Ele cita o caso de um manual de anatomia humana da RDA em que, por três edições consecutivas, e aparentemente sem que ninguém notasse – ou, talvez, num acordo/conspiração silencioso envolvendo autor, compositor, revisor e, sim, até o censor –, o nome do principal músculo da nádega, gluteus maximus, saiu grafado gluteus marximus. Se até num dos regimes comunistas mais opressores da história foi possível publicar um trocadilho entre Karl Marx e a bunda, a humanidade ainda tem alguma esperança.
Carlos Orsi
Jornalista e escritor, com mais de dez livros publicados. Mantém o blog carlosorsi.blogspot.com.





