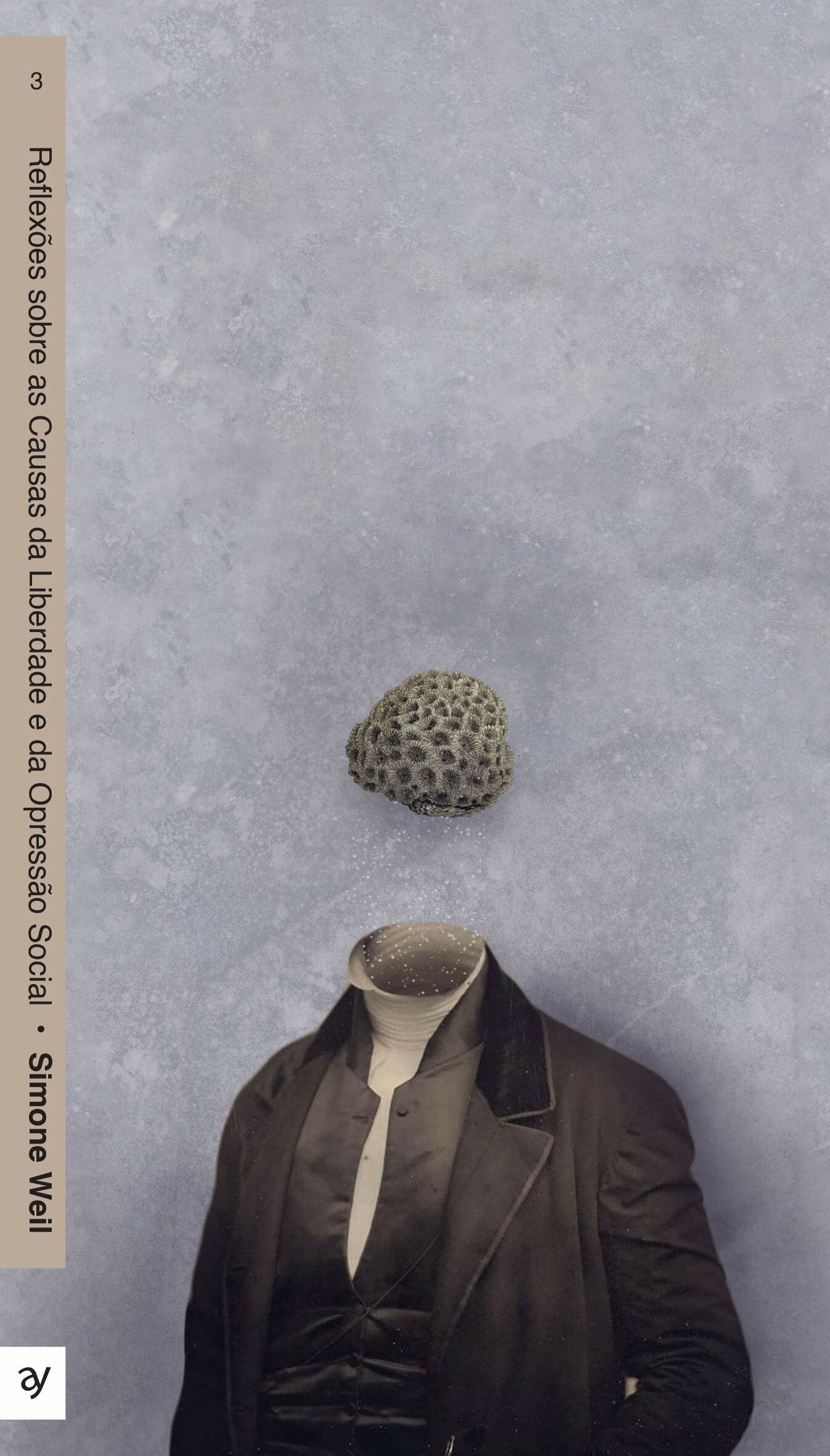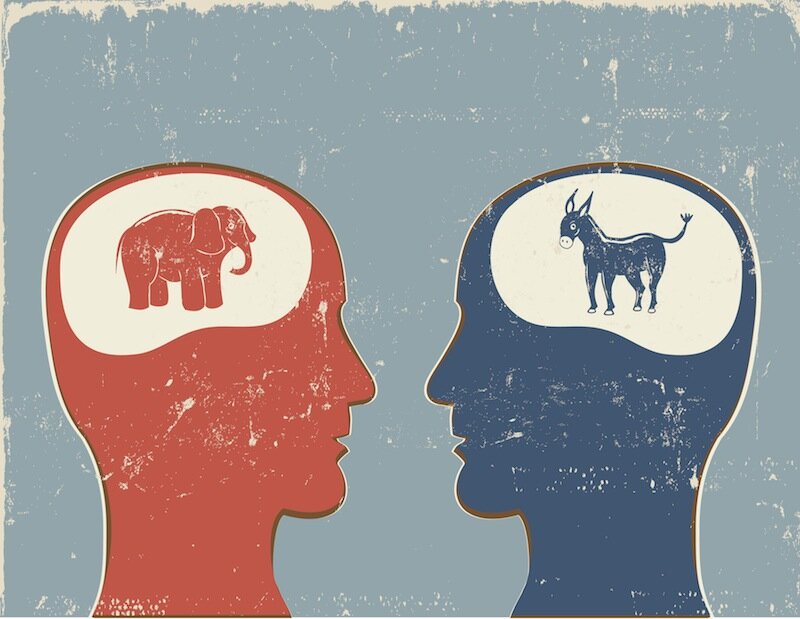"O Violão Azul", de John Banville, é uma composição com movimentos de tempos e temas distintos.
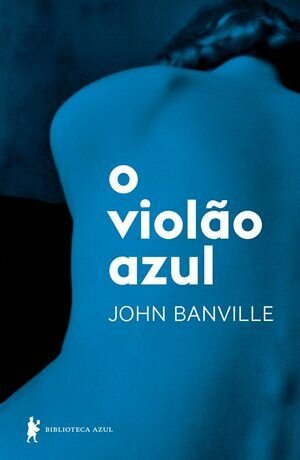
“O violão azul”, de John Banville (Biblioteca Azul, 2016, 272 páginas)
Leitor devoto de Nabokov, John Banville admitiu à Paris Review que um aspecto de sua obra o incomoda: “não há música”, “é tudo pictórico, é tudo baseado em imagens. Não é pior por causa disso, mas sua prosa não canta. Para mim, uma linha deve cantar antes de fazer qualquer outra coisa”.
A crítica ao escritor russo pode ser exagerada, mas é fato que Banville, em seus próprios livros, leva a dimensão musical da palavra muito a sério. Do início ao fim, O violão azul é prova disso: mais do que escrever linhas que cantam, com palavras harmônicas e frases bem ritmadas, o autor criou uma espécie de composição que apresenta movimentos de tempos e temas muito distintos.
O primeiro deles é rápido, irônico, zombeteiro, articulado, com algum floreio. É o momento em que Oliver Orme, o narrador, escreve sua confissão ao leitor: pintor renomado, levou um pouco mais longe sua atividade secreta – a do roubo – e surrupiou a mulher do melhor amigo. Prestes a ser desmascarado, esconde-se na casa abandonada de seus pais. Com eloquência e sarcasmo, faz uma digressão sobre o que o levou até ali.
Sempre falamos do amor clandestino em termos de um roubo. Ora, escamotear, digamos, ou mesmo subtrair, em seu uso menos comum – sim, andei pilhando o dicionário outra vez –, são termos que posso aceitar, mas roubo, acho uma palavra forte demais. O prazer, não, prazer não, a gratificação que extraí de empalmar a esposa de Marcus não foi nem sombra do júbilo sombrio que obtive com meus outros mui sigilosos furtos. Não teve nada de sombria, na verdade, mas veio banhada em uma luz balsâmica.
Há uma clara inclinação ao amargor e à antissociabilidade nesse prelúdio, quase sempre pontuada com humor autodepreciativo. Solitário, Orme recorda da infância e das primeiras pilhagens – um tubo de tinta branca na ferragem do bairro, uma estatueta na pensão da Srta. Vandeleur. Relembra com ternura do menininho que fora na época e descobrira, na essência dos furtos, “a natureza do sensual, em toda sua quente e túrgida, esmagadora, irresistível intensidade”.
Como se o ato da escrita fosse uma terapia, o narrador vai se tornando mais contemplativo conforme avança em seu manifesto. Na composição de Banville, começa a aparecer gradualmente um segundo movimento. Quando sua amante o reencontra, Orme demonstra uma atenção maior aos detalhes, aos sons e às imagens, em uma voz mais melancólica, reflexiva e obscura.
É fato visível, tátil, apreensível da carne feminina, vestida de forma tão aconchegante sobre seu arcabouço ósseo – é disso que estou falando. O corpo pensa e tem sua própria eloquência e o corpo de uma mulher tem mais a dizer do que o de qualquer outra criatura, infinitamente mais, ao meu ouvido, em todo caso, ou ao meu olho. Eis o motivo para eu querer que Polly se livrasse das roupas a fim de que eu olhasse para ela, não, que a escutasse, enlevada e enlevadamente despira, quero dizer, escutasse seu eu corpóreo, se é que tal coisa seria possível. Olhando e escutando, escutando e olhando, isso, para alguém como eu, são os modos mais intensos de tocar, acariciar, possuir.
Sofrendo um bloqueio criativo que o impede de pintar, o narrador vê no jogo de palavras um refúgio. Suas frases são repletas de referências literárias (Keats, Lord Byron, Shakespeare, Coleridge) e artísticas (“Polly sentava com o punho pressionado contra a bochecha, com um olhar fixo e austero, como aquele anjo esquisitamente corpulento na Melancolia de Dürer”). Até mesmo descrições de determinadas cenas, atentas a cores e movimentos, parecem muito mais pinturas do que páginas de um livro:
O vento fazia a copa das árvores balançar furiosamente e folhas voavam para todos os lados, pintalgando o ar, amarelo com manchas verde-jade, marrom-terra queimado, vermelho de assoalho polido. Estrias de água da chuva brilhavam nos campos encharcados e um bando de passarinhos escuros, lutando contra o vento, parecia voar vigorosamente de ré contra um céu peltre manchado.
À primeira vista, pode soar pedante e pirotécnico – mas esse estilo tem toda a razão de ser. O que Orme tenta, com isso, é mais esconder aquilo que realmente pensa, crê ou lamenta do que mostrar sua visão acurada do mundo ao redor.
Só que, aos poucos, essa afetação verbal vai dando lugar a um relato mais honesto – que admite falhas, culpas e decepções. Surge, finalmente, um terceiro movimento: com suas tragédias descortinadas, Orme diminui gradualmente o cinismo e o narcisismo do início. Ao perceber que perdeu de tudo um pouco – a mulher, a filha, a amante, o amigo, a própria capacidade de pintar –, ganha uma visão mais resignada e atenta aos pequenos detalhes que tentam dar sentido à vida.
Uma das coisas dos meus tempos de pintor de que mais sinto falta é uma certa qualidade de silêncio. Conforme avançava o dia de trabalho e eu mergulhava cada vez mais fundo pelas camadas da superfície pintada, o palavrório do mundo recuava, como uma maré vazante, deixando-me no centro de uma grande imobilidade vazia. Era mais do que a ausência de som: era como se um novo ambiente tivesse surgido para me envolver, algo denso e luminoso, um ar menos penetrável do que o ar, uma luz que era mais do que luz. Nesse meio eu ficava como que suspenso, a um só tempo em transe e desperto, vivo, atento ao nuance mais tênue, ao jogo de pigmento, linha e forma mais sutil.
Oliver Orme é o arquétipo de um protagonista de Banville: homem irlandês de meia-idade, classe média e talento para as artes, em luto pela morte de alguém próximo. Mas há algo que os aproxima ainda mais – a obsessão pelo passado. A digressão está sempre presente no pensamento e na voz dessas personagens, além de suas próprias ações.
O violão azul é uma composição sobre retornos. Retorno ao lar da infância, ao descobrimento dos vícios, ao local de desgraças, ao início de amores. Mas, igualmente, é uma ode à evolução – a seguir em frente, enfrentando demônios do passado e buscando algum significado para essa jornada. Na música que John Banville espera criar, é em seu senso de progressão que a beleza reside e ecoa com mais força.
Tomás Adam
Jornalista e empresário.