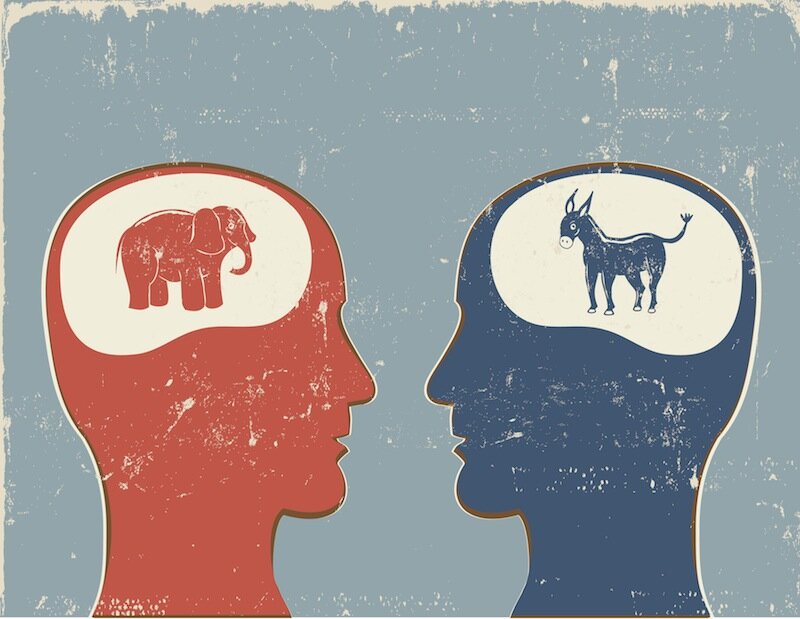O minimalismo das últimas décadas apenas acentuou os vícios apontados por Bandeira nos anos 30

Dentre os artigos de Nelson Ascher na Folha de S. Paulo, sempre recordo de “O grande romance brasileiro”, publicado em 11 de outubro de 2004. Partindo de um suposto encontro com certa escritora, finlandesa ou búlgara, Ascher constrói rara, irônica reflexão sobre o nosso romance.
Meses depois do encontro, em que o articulista expôs à escritora os “esplendores de nosso vernáculo”, esta lhe escreve, pedindo-lhe não “obras historiográficas ou tratados sociológicos”, mas romances que retratassem o Brasil. Ascher envia, então, alguns livros à curiosa escritora: “Machado, Mário, Oswald, Graciliano, Guimarães Rosa e Clarice”.
Passado algum tempo, ele recebe novo e-mail: “Obrigada. Os autores que você me mandou são magníficos e, se tivessem escrito em inglês ou francês, seriam universalmente reconhecidos. Lendo-os com atenção e concentrando-me nas entrelinhas fui capaz de vislumbrar algo da especificidade de seu país. Não me entenda mal: mesmo quem não saiba nada sobre sua terra pode se deliciar com eles. Mas aí é que está o problema, pois, embora eu tenha me deliciado, nem por isso creio saber hoje mais a respeito do Brasil do que antes de lê-los”.
Coloca-se, dessa forma, o problema do romance brasileiro, a sua falha: onde estão as “narrativas que, sem prejuízo da qualidade estética, oferecem um painel amplo e razoavelmente explícito do período histórico e da sociedade em que se ambientam”?
E a escritora insiste: “Quais são os melhores romances brasileiros sobre a era Vargas, a construção de Brasília, o golpe de 64, a ditadura militar e a transição para a democracia? Onde estão as sagas que descrevem a trajetória de diversas gerações de uma família italiana, árabe, japonesa ou judia desde sua chegada a Santos no início do século 20 até os anos 90? E as histórias de ascensão e queda individual cujo pano de fundo sejam as transformações de São Paulo ou do Rio?”.
Ela também observa que não há, no Brasil, “uma única variante local notável de um subgênero tipicamente latino-americano, o romance sobre ditadores como O Outono do Patriarca, de García Márquez, ou O Senhor Presidente, de Miguel Angel Asturias”. E completa, indignada: “Impossível, afinal vocês tiveram o ditador mais interessante de todo o subcontinente: quem são Perón, Trujillo, Pinochet e Castro comparados a Getúlio?”.
A resposta de Ascher expõe, com ironia, uma das nossas fissuras culturais: “O dr. Samuel Johnson disse certa vez a um jovem autor que seu manuscrito era bom e original, mas a parte boa não era original e a parte original não era boa. Pois bem: o Brasil produziu ficção boa e realista, mas a ficção boa não é especialmente realista e a ficção realista…”.
Nelson Ascher, que é poeta, tradutor e ensaísta, reflete um pouco mais sobre a questão e faz interessantes suposições sobre os motivos dessas lacunas: “[…] Talvez o país seja demasiadamente extenso e incompreensível, talvez o material necessário para estudá-lo nem sempre estivesse à mão, talvez os autores se sentissem intimidados pelos mestres europeus e norte-americanos ou se dirigissem a um público que, além de reduzido, conhecia o contexto tão bem quanto eles, talvez achassem o país maçante, repetitivo, imutável”.
O artigo não se esgota aí — e, tenham certeza, é muito mais perspicaz do que o injusto resumo que tentei construir.
Fantasia e imaginação no romance brasileiro
Hoje, passados mais de dez anos, o que poderíamos responder às justas cobranças da personagem de Nelson Ascher? É o que me pergunto desde que li e guardei o artigo. E até hoje só penso num autor que talvez pudesse satisfazer a insistente escritora: Érico Veríssimo — e seu O tempo e o Vento.
Mas, como em tantos outros casos, a exceção confirma a regra. Uma só obra é muito pouco para a literatura que tem mais de três séculos. À parte os nomes que, porventura, estejam me escapando, a pergunta central ainda não tem resposta: que outras razões poderiam existir, além das sugeridas por Ascher, para nossos escritores não produzirem o grande romance brasileiro?
Sete décadas antes desse artigo, Manuel Bandeira, numa crônica publicada no Estado de Minas, no dia 9 de setembro de 1933, tratou do mesmo problema.
Bandeira diferencia “imaginação” de “fantasia”, citando o filólogo e crítico literário João Ribeiro, para quem a “pura imaginação” é “aptidão a reproduzir no espírito as sensações, na ausência das causas exteriores que as provocaram”, enquanto define “fantasia” como a “capacidade de organizar as imagens na unidade de uma obra”.
Sobraria imaginação aos romancistas brasileiros, segundo Bandeira. E eles teriam lá o seu tanto de fantasia, suficiente para “representar uma vida, algumas vidas”. Mas o poeta completa: “Desde, porém, que elas são numerosas e as relações se multiplicam e complicam, falta-nos a força do contraponto para compô-las, e nem mesmo se tentará a obra”.
Nossos bons romancistas, salienta Bandeira, apresentam mais “as qualidades de observação e crítica, de introspecção ou de construção e estilo”, mas com um “trabalho da imaginação pouco sensível”. Esclarece: “Sem dúvida, os brasileiros somos bem imaginosos. Mas falta-nos a aptidão de combinar tanta abundância de imagens e, sobretudo, de as exteriorizar artisticamente num entrecho que nos dê a ilusão da vida em toda a sua rica versatilidade”.
Manuel Bandeira, contudo, também não tem certeza sobre os motivos desse defeito, ainda que aposte em alguns: “Será por falha fundamental da capacidade criadora ou simples vício de composição, falta de aplicação ou ausência de estímulo?”.
De minha parte, descarto uma “falha fundamental da capacidade criadora”, pois isso seria nos condenar a um atavismo próprio dos piores naturalistas. Aposto mais no “vício de composição” e na “falta de aplicação” — problemas, aliás, que o minimalismo das últimas décadas só acentuou, desculpando a lacuna com justificativas pretensamente estéticas.
Os questionamentos da escritora de Nelson Ascher talvez tenham sido parcialmente respondidos por Manuel Bandeira. Mas as insistentes cobranças dessa “finlandesa ou búlgara” continuam de pé: onde estão os nossos romances “espessos, cerrados, florestais”? “Não há nenhum”, responde Bandeira, “ainda que péssimo”.
Rodrigo Gurgel
Ensaísta e crítico literário do jornal Rascunho. Autor, entre outros livros, de Muita Retórica, Pouca Literatura.