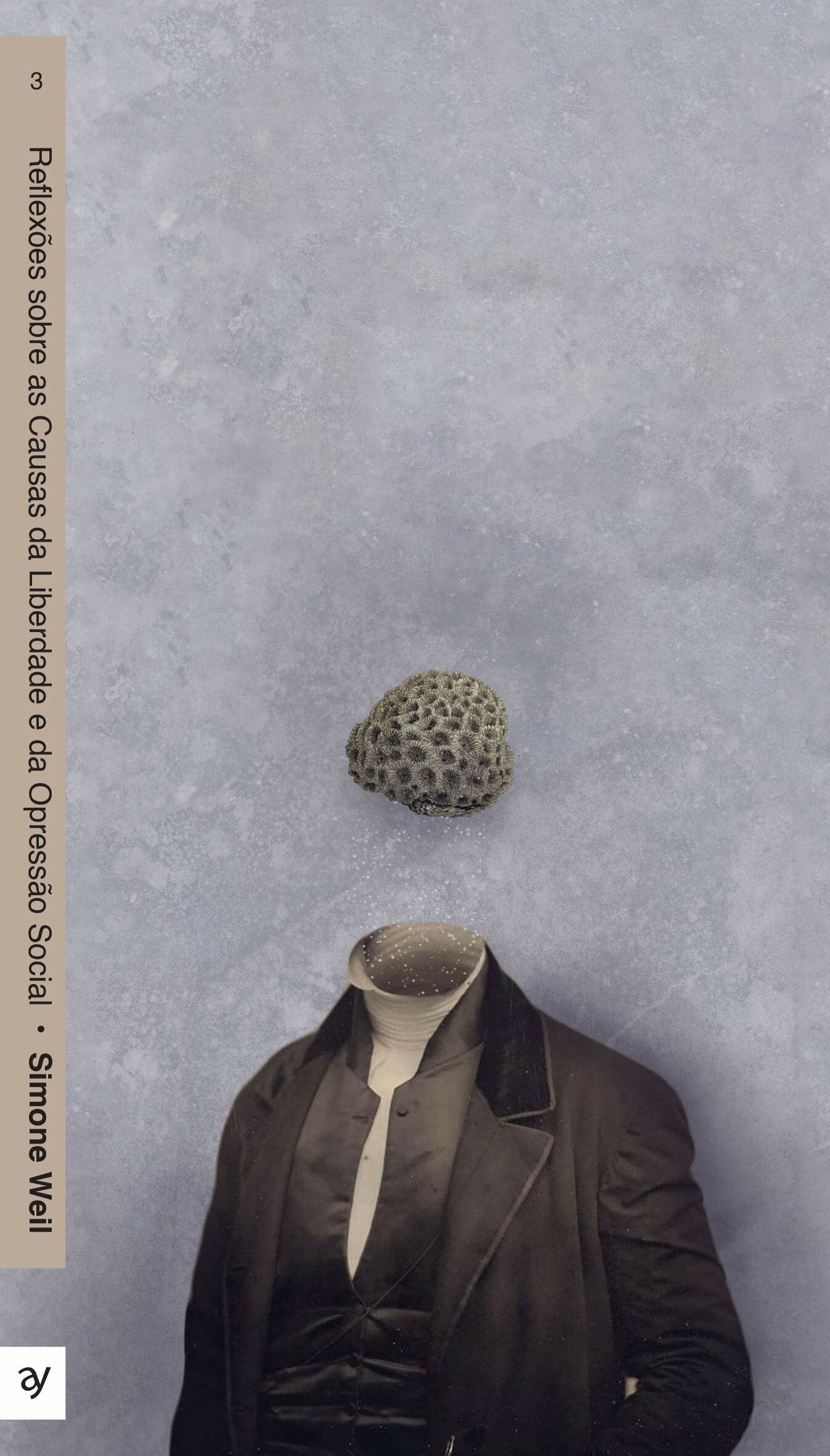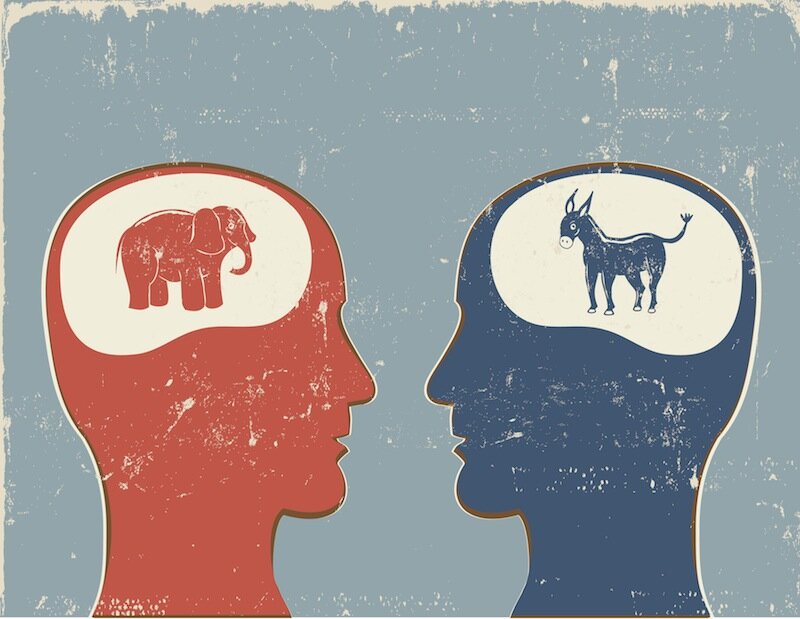Mais importante que a sensibilidade intelectual é o uso que fazemos da faculdade da imaginação.
“Poesia completa”, de Orides Fontela (Hedra, 2015, 448 páginas)
“O mundo sitiado: A poesia brasileira e a Segunda Guerra Mundial”, de Murilo Marcondes de Moura (Editora 34, 2016, 376 páginas)
“Através da filosofia, devemos mergulhar no caos arcaico
e lá sentirmo-nos bem.”
Ludwig Wittgenstein (apud Bento Prado, Jr.)
1.
Ao ler as primeiras páginas do livro Direita e esquerda na literatura (Âyiné, 2016), do crítico literário italiano Alfonso Berardinelli, lembrei-me, não sei por qual motivo, tanto da obra da poetisa Orides Fontela como do longo ensaio O mundo sitiado, de Murilo Marcondes de Moura, professor de Literatura Brasileira na FFLCH da Universidade de São Paulo. É claro que, no caso de Orides, o uso dos termos direita e esquerda sempre será fora de propósito, uma vez que ela ficou além deste dualismo pueril, graças a uma poesia que lidava basicamente com temas metafísicos e, pelo menos na aparência, a-políticos; e o mesmo se aplica ao livro de Marcondes de Moura, um estudo de fôlego feito por um scholar universitário, que leva a sério o modo como a literatura reflete a destruição provocada pela guerra em um mundo que não se importa mais com a “luta vã das palavras”.
Contudo, neste caso, até mesmo o título da publicação de Berardinelli é igualmente enganoso. Porque, afinal de contas, o italiano não está preocupado com o que significa a direita e a esquerda na literatura europeia – na verdade, este é apenas um dos seus temas – e sim com a manifestação de três tipos de intelectuais que influencia o modo como pensamos não só a cultura, mas também como lidamos com o uso da imaginação em uma obra de arte. Eles são o metafísico, o técnico e o crítico – e Berardinelli logo se antecipa e defende que “não encontramos esses três tipos in natura, quero dizer, na sociedade, em estado puro. Às vezes se misturam e se tornam híbridos. Existem muitos metafísicos que se creem e se consideram críticos: ou melhor, os mais ‘essencial e fundamentalmente’ críticos de todos, visto que, para eles, o conhecimento mais verdadeiro é o que concerne aos princípios primeiros, tudo aquilo que talvez não se veja, mas que constitui a intangível origem e raiz, o objetivo definitivo e o destino de todos os fenômenos dos quais nossos sentidos tomam conhecimento e que fazem a matéria da experiência comum”.
É provável que Orides Fontela guardaria para si essa definição de ser uma poetisa “metafísica” que tinha também o seu pendor para ser “crítica”, apesar do fato dos seus versos não apresentarem nenhuma espécie de crença nos “princípios primeiros”. Para ser exato, seu assunto principal, desenvolvido com máxima habilidade artística em cada um dos seus poemas, é nada mais nada menos que o caos. Na perspectiva de Orides, como ela própria explica no primeiro poema que também dá título a seu primeiro livro (Transposição, de 1966-67), o importante é perceber que “na manhã que desperta” o jardim da existência “não [é] mais geometria”, como a nossa racionalidade técnica pretende, mas sim uma “gradação de luz e aguda”, uma “descontinuidade de planos” em que “tudo se recria e o instante/ varia de ângulo e face/ segundo a mesma vidaluz que instaura jardins na amplitude// que desperta as flores em várias coresinstantes e as revive/ jogando-as lucidamente/ em transposição contínua”. Esta mesma geometria que regula a nossa vida cotidiana, estruturada em uma ordem das razões, seria, na realidade, um “mosaico” que cria “o texto labirinto/ intrincadíssimos caminhos/ complexidades nítidas” e que ao “transpor-se” em uma “beleza/ além dos planos no infinito/ e o texto pleno indecifrado”, transforma esse mesmo mosaico em uma “flor ardendo” – e mais: em “um caos domado em plenitude/ a primavera” (cf. “Arabesco”).
Por querer, mais do que tudo, domar este caos sobre o qual ela se baseia para realizar a sua poesia, Orides funde a visão metafísica com a crítica para se contrapor à visão intelectual técnica da cultura. Ser alguém de sensibilidade crítica significa, na definição de Berardinelli, ter o sentimento nesses mandarins de serem “maximamente realistas, concretos e sem preconceitos, antes de mais nada porque encarnam a sacrossanta antítese à metafísica, por elas considerada pensamento confuso e desencarnado, reino das sombras, mundo do além-mundo que pode ser objeto apenas de vácuas hipóteses indemonstráveis ou de fé cega, dogmática, irracional”.
Esta oposição demonstra que, provavelmente, a verdadeira guerra cultural que acontece nos últimos quinhentos anos da modernidade se dá, sobretudo, entre os que defendem a visão metafísica e os que defendem a visão técnica. Os críticos, neste caso, agiriam como uma espécie de árbitro moderador. Contudo, isto também não reflete a realidade. Se, no lado dos metafísicos, o importante é a exploração diante dos mistérios do Ser (classificado igualmente como Deus) e, no lado dos técnicos, o que vale a pena é analisar o mundo igual a uma máquina que tem a função exclusiva de ser decomposta em suas partes, o crítico também tem o seu part-pris. Afinal de contas, ele se considera a própria “bandeira da modernidade”. É por sua culpa que, finalmente, temos “o nascimento das democracias liberais, das sociedades abertas, das utopias sociais, da pesquisa científica livre” – enfim, tudo aquilo que podemos classificar sob o maravilhoso guarda-chuva de palavras resumido por Lionel Trilling como “a imaginação liberal”.
O crítico se apresenta como o ápice da moderação, mas se revela também como o maior opositor do metafísico e do técnico porque ele age de acordo com a crença de que “os indivíduos” só existem “enquanto individualidade” – ou seja, “não são apenas aparências, ou contingências, ou imprevistos infaustos, erros que devem ser eliminados, distorções subjetivas superáveis em uma visão mais vasta e uma perspectiva mais elevada. Para os críticos, a singularidade das vidas individuais é um terreno e um instrumento de conhecimento do qual não se pode prescindir. […] O eu do crítico é um instrumento para ser honesto com os outros que, por sua vez, não são desprovidos de um próprio eu. Não é nem uma descoberta recente nem um paradoxo provocador notar que […] os grandes escritores modernos [como, por exemplo, Kierkegaard, Baudelaire e Giacomo Leopardi] foram também dos mais memoráveis críticos da modernidade. Os críticos correm o perigo da solidão. Precisam da solidão. Melhor dizendo, representam-na publicamente como um valor público que é publicamente desconhecido”.
Ora, descrito dessa forma, não seria um exagero colocar Orides Fontela como alguém que também faz parte desta sensibilidade crítica. Ao mesmo tempo, chegamos aqui a dois pontos, um de convergência e o outro de divergência, sobre o tema deste ensaio. No primeiro ponto, reconhecemos que uma verdadeira poetisa, como é o caso de Orides, sempre será a fusão dos três tipos de sensibilidades apresentados por Berardinelli; e no segundo, temos de desviar um pouco do caminho pretendido, e percebermos que, talvez, não devemos falar de sensibilidade intelectual – e sim de algo muito mais amplo e muito mais importante: o uso que fazemos da faculdade da imaginação, em especial nos nossos dias tão conturbados.

Orides Fontela
2.
É difícil fazermos uma definição precisa do que é a imaginação. Para muitos, ela não pode ser limitada pela nossa experiência anterior das coisas concretas, pois podemos imaginar coisas que nunca percebemos e que muito provavelmente jamais seríamos capazes de fazer; ainda assim, mesmo que a imaginação vá muito além da nossa percepção humana (por meio dos quatro sentidos, como o tato, a visão, o paladar e a audição), ela também se baseia na experiência do material concreto que usa em suas elaboradas construções. Não é por acaso que Thomas Hobbes, um sujeito que via um perigo intenso na forma como a imaginação poderia afetar o funcionamento de uma sociedade, tratava-a como “nada além de uma sensação decadente [decaying sense]” e preferia catalogá-la como a “memória” que “expressa essa decadência, significando que esta sensação é evanescente, antiga e ultrapassada”.
De qualquer maneira, esta faculdade do pensamento é baseada na imagem, que pode ser um devaneio ou provocada pela memória, e que re-produz ou re-presenta um material oriundo das sensações. A imagem pode ser mais ou menos vívida, mais ou menos nítida em seu formato, e menos definida em seus detalhes do que as sensações ou as percepções sobre as quais ela é derivada. Contudo, pelo menos em um aspecto, a imagem não é diferente da impressão original provocada pelas sensações. Isso diz respeito sobre quais ideias e quais conceitos se diferenciam dessas mesmas impressões provocadas pelas sensações, pelo menos de acordo com aqueles pensadores que afirmam que as ideias ou os conceitos têm certa universalidade e uma abstração que não encontramos nas sensações ou nas imagens provocadas por estas últimas.
Portanto, apesar da existência da teoria aristotélica de que as operações do pensamento são sempre dependentes de (mas jamais reduzidas a) atos de imaginação, ela não implica que a imaginação é sempre acompanhada pelo pensamento abstrato ou racional. É comum ver que o pensar e o conhecer humanos fazem parte de um trabalho que combina tanto a sensação como o intelecto, tanto a razão como a imaginação, mas algumas vezes até mesmo a imaginação de um homem pode ser ativada sem as faculdades do juízo ou do raciocínio. Segundo Aristóteles, os animais são majoritariamente guiados por suas imaginações “porque não há uma mente racional” neles. Todavia, quando a imaginação substitui o lugar do pensamento nos homens, isto ocorre “por causa do eclipse temporário que suas mentes sofrem com o surgimento das paixões, das doenças ou do sono” (cf. The Great Ideas – A Syntopicon, Vol. II, p.133-139).
Até então, esta era a versão tradicional que se tinha do papel da imaginação entre nós. No início deste século XXI, especialmente após o atentado terrorista do World Trade Center que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, a função de imaginar atos imprevisíveis, impensáveis e, mais, inimagináveis se tornou algo similar a um papel público de entender realmente quais são os perigos enfrentados pela sociedade ocidental.
3.
No ensaio “The need of imagination in international affairs”, o scholar Joel Fishman explica em detalhes essa mudança de paradigma no estudo do que significa atualmente a tal da imaginação. De acordo com suas próprias palavras, se antes o exercício dela implica somente em uma maneira de fugir do tédio e agradar os desejos de uma determinada audiência, agora ela deve ser compreendida como um “componente vital” na condução dos assuntos de interesse geral, pois ela nos permite aprender com a experiência do passado para assim intuir e antecipar o que pode acontecer no futuro desconhecido. Quem não admitir isso sofrerá graves consequências no rumo histórico de seus países – como foi o que aconteceu, por exemplo, com a Inglaterra na década de 1930, onde a doutrina do “apaziguamento” (appeaseament), defendida pelo então primeiro-ministro Neville Chamberlain, quase provocou a sua rendição voluntária diante do poderio militar da Alemanha nazista (e que foi impedida, no último minuto, graças à força retórica e política de Winston Churchill); ou na “estranha derrota” da França, analisada pelo historiador Marc Bloch, que se deixou ocupar pelas tropas de Hitler e permitiu, sem nenhuma reclamação, que o país fosse contaminado pela “síndrome de Vichy”, apelido dado àqueles colaboracionistas defensores do governo ocupado pelos alemães.
Mais recentemente, os historiadores classificaram a tragédia do 11 de setembro como um “fracasso da imaginação”, pois ela poderia ter sido perfeitamente impedida se os analistas de segurança tivessem um entendimento adequado do que os jihadistas radicais eram capazes de fazer para levar a cabo a destruição do Ocidente – na qual foi devidamente representada por um dos símbolos mais notórios do progresso americano: torres semelhantes a de Babel. O mesmo pode ser dito de outros eventos históricos terríveis, como o Holocausto e os atuais ataques que acontecem na Europa, em especial Londres e Paris – e que são classificados adequadamente como atos de “terrorismo catastróficos”.
Este “fracasso da imaginação” sempre acontece quando alguém que está no comando de qualquer tipo de poder resolve diminuir deliberadamente a compreensão sobre a gravidade da ameaça. Para disfarçar essa falha, o sujeito passa a se esconder por meio de teorias ou conceitos que apenas petrificam a estrutura dinâmica da realidade. No caso histórico de um Chamberlain ou de um Jimmy Carter (que jamais anteviu o desastre que seria o atrapalhado resgate dos membros da embaixada no Irã, em 1981), ambos têm as características comuns de serem homens que “podem até ter boas qualidades” para tocar um país, mas lhes falta uma “experiência do mundo, além de terem uma ausência de imaginação que poderia muito bem suprir as lacunas dessa inexperiência”. Para esses sujeitos, a Europa ou os EUA são “um livro fechado” onde eles eram absolutamente incapazes de perceber como seria a natureza humana de fato. Trata-se, na verdade, de uma “rigidez do espírito” que os impede de terem uma “adaptabilidade”, de serem “flexíveis” quando as circunstâncias exigem e que colocam a “auto-satisfação” acima de todos os interesses públicos. A desculpa para todos esses déficits se encontra na insistência de ver esses problemas fundamentalmente humanos como “técnicos”, e não como “históricos”, dependentes de posterior aprendizado, o que impede esses “burocratas do saber” de ter a completa falta de curiosidade de como a história se comportou no passado e como ela pode se comportar no futuro.
As falhas no uso da imaginação para os assuntos públicos, seja no caso da Europa nos anos 1930 ou na maneira como entendemos os ataques terroristas dos nossos dias, comprovam que a “estranha derrota” que sofremos agora é, antes de tudo, uma derrota intelectual e não apenas militar ou financeira. E isto acontece não apenas no âmbito internacional, e sim sobretudo no nacional. Afinal de contas, o exercício adequado da imaginação também nos seria de grande valia se, em 2002, já tivéssemos percebido a corrupção sistêmica que se alastraria no Estado brasileiro, graças a um partido que dominaria todos os estratos políticos e culturais, com a justificativa que praticava um projeto de poder que traria “igualdade para todos”. O que aconteceu foi algo além: sem o uso correto da imaginação, nos deixamos enredar num buraco sem fundo que insistimos de chamar apenas de uma “crise política”, mas que, na verdade, ao desprezar a imaginação como algo importante para a nossa sobrevivência, implodimos a ponte que liga o presente do futuro. A organização criminosa liderada pelo PT, e depois seguida pelo PMDB, PSDB, PP e outros partidos, não apenas destruiu as nossas finanças. Ela destruiu a nossa sensibilidade e sabotou completamente a nossa imaginação. E fez algo que parecia ser impossível, improvável e inimaginável: colocou-nos em uma paralisia existencial em que até mesmo quem se rebela contra os resultados dessa organização criminosa parece trilhar o mesmo caminho desesperado.
A falta de entendimento dos usos da imaginação é o fundamento deste “mundo sitiado” em que vivemos. A referência aqui ao livro de Murilo Marcondes de Moura não é aleatória. Talvez não tenha sido a sua intenção explícita, mas o que o professor de Literatura Brasileira faz em seu livro é descrever em detalhes como se deu esse processo de desintegração nas nossas sensibilidades. Neste ponto, ele seria alguém mais próximo de um temperamento “crítico”, segundo a definição de Alfonso Berardinelli. Por outro lado, o seu aparato metodológico é certamente voltado para o lado “técnico” – o que nos leva a afirmar que não há nenhum ponto de sua análise que aborde qualquer perspectiva “metafísica”. Se isto é ou não é prejudicial ao resultado do seu trabalho, pouco importa agora. O que queremos analisar, a partir deste momento, é como a dissecação da origem deste “mundo sitiado” tem a ver com a falência da imaginação nos assuntos públicos das políticas internacional e nacional. E não seria um exagero afirmar que um dos melhores exemplos deste fenômeno encontra-se na vida e na obra de Orides Fontela.
[CONTINUA]
Martim Vasques da Cunha
Autor de Crise e utopia: O dilema de Thomas More (Vide, 2012) e A poeira da glória (Record, 2015). Pós-doutorando pela FGV-EAESP.