O "Otelo" de Shakespeare é uma lição prática do que é e do que deve ser a arte.
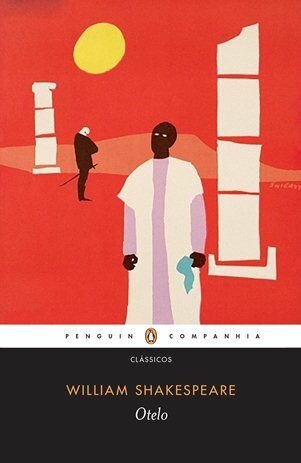
“Otelo”, de William Shakespeare (Penguin/Companhia, 2017, 368 páginas)
“Haverá no céu mais pedras
Além das que servem o trovão?”
Otelo, ato V, cena II
Eu estava em casa naquela manhã de domingo – o sol batia de leve na pilha de livros sobre a mesinha da varanda –, quando o telefone apitou com a mensagem do Daniel Lopes, incansável editor da Revista Amálgama: “Topa resenhar a nova tradução de Otelo, lançada pela Penguin/Companhia das Letras?” Eu disse “sim, claro”, meio que no automático, animado e pensando apenas que seria ótimo poder ler a versão do excelente Lawrence Flores Pereira para a tragédia de Shakespeare.
De modo que a ficha só caiu mesmo alguns dias depois, quando recebi o envelope pardo com o livro: em tradução nova ou não, o que eu teria a dizer sobre Otelo que já não houvesse sido dito ao longo dos últimos quatrocentos anos por todos os scholars, poetas e críticos literários do universo? Eliot uma vez lembrou que ensaios sobre Shakespeare normalmente revelam muito mais do autor do ensaio do que da obra de Shakespeare em si – e ali era impossível deixar de imaginar o poeta da Wasteland me encarando com toda desaprovação: “Resenhar Otelo? Você? Really?”, ele dizia sob o rosto enrugado, os óculos redondos e o cabelo empastado partido de lado, no preto-e-branco da foto das Obras completas que habitam a minha biblioteca.
Mas, ultrapassado aquele ponto em que não havia mais volta, ajeitei-me na mesma varanda da pilha de livros, folheei as primeiras páginas e então toda a cilada da resenha perdeu relevância. Porque ali me voltavam as imagens assombrosas, a grandeza da linguagem de Shakespeare em movimentos tão vastos quanto o mar, divertimentos curtos, sutis, paixões descomedidas e toda a tragédia da experiência humana. Ao modo de uma sinfonia familiar, mas surpreendentemente revigorada.
Eu tomava notas, tirava da estante bibliografias lidas anos atrás, e talvez já começasse a entrar no espírito da missão. No fim das contas, o próprio espírito corajoso de publicar novas edições de Shakespeare no Brasil, tendo às costas o trabalho de Onestaldo de Pennafort, Carlos Alberto Nunes (melhor com Homero e Platão, é verdade), Barbara Heliodora, Millôr e Beatriz Viegas-Faria. Mas, com ensaios, notas e tradutores extraordinários, como José Francisco Botelho (Romeu e Julieta) e Lawrence Flores Pereira – que, além deste Otelo, havia encarado Hamlet para a mesma coleção –, a verdade é que não tinha muito como dar errado.
E foi assim que, ainda sob o impacto da leitura, contaminado pelo frescor da nova tradução, e afastando a vergonhosa tentação de fazer a resenha em versos alexandrinos, sentei-me para escrever essas breves impressões de um leitor comum – afinal, as únicas que me cabem –, fiel à proposta de C.S. Lewis no admirável Um experimento na crítica literária: julgar livros não apenas por si mesmos, mas especialmente pela experiência do leitor e as diferentes leituras proporcionadas. Sim, T.S. Eliot continua me olhando, mas agora é tarde demais. Adiante.
*
Para os bárbaros ou desavisados, Otelo conta a tragédia do general de Veneza que dá nome à obra, um mouro cristianizado que se casa com a filha mais linda da nobreza local. Desdêmona é a própria virtude personificada, mas passa a sofrer os ciúmes incontroláveis do marido, provocados por um plano monstruoso de Iago, alferes de Otelo. De vagas insinuações iniciais, Iago aos poucos passa a sugestões mais incisivas, depois arma flagrantes mentirosos, e enfim forja a prova material do adultério de Desdêmona – um lenço que Otelo dera de presente à mulher. A dúvida do general cresce numa espiral, transforma-se em paranoia, e enfim chega à certeza da traição. Enganado, cego e furioso, ele mata Desdêmona e depois tira a própria vida, ao descobrir a verdade por trás da maquinação de Iago.
Durante os últimos quatrocentos anos, Otelo já foi analisado sob todos os pontos de vista possíveis, e, pessoalmente, interessam-me bem pouco as discussões sociológicas de raça & gênero que ainda hoje fazem a obra ser atacada em certos ambientes acadêmicos burros do politicamente correto.
O que me importa, sob um aspecto mais imediato – e peço desculpas de antemão pela platitude – é a força da expressão artística de Shakespeare, o alcance de uma linguagem assombrosa (dicção e melodia, diria Aristóteles) que cria imagens tão bonitas, um lirismo tão comovente e trágico, que aproxima o leitor do próprio mistério da existência. Parece pomposo e arrogante, mas é verdade, juro que é verdade. Em Otelo, a experiência estética é de fato misteriosa, muito próxima da imitação da música de que fala Bruno Tolentino.
E não apenas nas passagens grandiosas, mas também e especialmente em cada pequeno detalhe ou descrição de paisagem sugerida. E esses detalhes importam muito, porque são eles que no fim dão vida ao mundo criado por um grande autor. Tomando um de muitos exemplos possíveis, vejam o relato da tempestade que assola Chipre, sob o vento que “bradava com a terra” e que “pune as águas do oceano”:
Vá lá até a praia espumante e olhe: as ondas,/ No repuxo, parecem açoitar as nuvens,/ E o aflito vagalhão, de crina alta e hórrida,/ Parece esborrifar a Ursa flamejante,/ Extinguindo os guardiões do polo sempiterno./ Eu nunca vi tanto tumulto sobre o mar/ Em fúria (ato II, cena I).
Se você não consegue enxergar a beleza disso, você está morto por dentro. Agora façam silêncio para ouvir as aventuras passadas de Otelo:
De eventos oscilantes no campo e no mar,/ De fugas por um fio por brechas despencando,/ (…)/ E de cavernas vastas e desertos vagos,/ De agras penhas, pedras, cumes que arranham os céus,/ Disso tudo falei. Eis a história. Falei/ Dos canibais, os Antropófagos, que comem/ Uns aos outros, de homens cujas cabeças crescem/ Por debaixo dos ombros (…) (ato I, cena III).
E também a ira de sua vingança:
Levanta, negra Vingança, boca do inferno,/ E entrega, Amor, teu trono amado e tua coroa/ Ao Ódio atroz. Infla, peito, com tua carga,/ Crivada de línguas viperinas (ato III, cena III).
São passagens tremendas, em que a linguagem atinge níveis poucas vezes igualados, entregando ao leitor acessos e corta-caminhos ao belo e ao sublime, e expandindo a sua própria existência.
Uma lição prática do que é e do que deve ser a arte.
E aqui é impossível deixar em segundo plano o trabalho monumental de Lawrence Flores Pereira ao recriar – fiel ao original – a linguagem de Shakespeare, no ritmo, forma e na escolha das palavras exatas. A tradução é primorosa e, sem nenhum demérito aos que o antecederam, parece superar a qualidade das suas versões. A tabelinha abaixo mostra isso de maneira direta e intuitiva, ao comparar, lado a lado, as descrições para a mesma cena da tempestade, com as duas traduções que eu tinha à mão, em casa (Carlos Alberto Nunes e Beatriz Viegas-Faria):
Com todo o respeito, vênias, etc. etc., I rest my case.
*
Agora é também interessante notar que a altura dessa linguagem, em representação do que há de mais bonito e sublime na realidade, envolve e retrata uma história inteira em torno do Mal – e que, naturalmente, não há nada de contraditório nisso.
Flannery O’Connor costumava recitar uma passagem de São Cirilo de Jerusalém para resumir sua visão da literatura: “O dragão senta–se ao largo da estrada, olhando aqueles que passam. Tenha cuidado para que ele não o devore. Nós caminhamos ao Pai, mas é antes preciso passar pelo dragão”. Ela dizia justamente que as grandes histórias de ficção sempre enfrentarão essa passagem misteriosa pelo dragão: a relação do homem com o Mal.
Otelo trata essencialmente disso.
Em “O curinga do baralho”, ensaio brilhante que também integra a nova edição da Penguin/Companhia, W.H. Auden diz que peça está toda centrada na figura monstruosa de Iago. Porque é o vilão que age e conduz a trama, com seu plano terrível de destruir Otelo e Desdêmona. As razões de Iago não são claras, o que levou Coleridge a falar de uma malignidade imotivada. E é isso em grande parte que causa o efeito tão impressionante da tragédia no leitor. Porque não há margens de segurança contra o mal puro, um mal terrorista que não precisa de motivos ou pretextos. Ele simplesmente existe e quer te destruir.
Na análise simbólica muito interessante que Martin Lings faz de Otelo, em A arte sagrada de Shakespeare, (i) Desdêmona representa o espírito divino, (ii) Otelo é o mundo, e (iii) Iago o demônio, o mal que procura perturbar e destruir o casamento sempre de maneira indireta: ele tenta, convence, sugere, como o diabo. Se o seu glorioso general tirou conclusões daquilo tudo, foi apenas por sua livre vontade. Como bem diz o poema de Bruno Tolentino, em A balada do cárcere, “e Otelo põe a bela na berlinda:/ Iago ri, Desdêmona se espanta/ e um lenço faz o resto…”. É isso: Iago ri, dissimula e mente, na sua perversa aspiração ao nada: “eu não sou o que sou”, ele se autodefine, na inversão satânica da atribuição de Deus na Bíblia.
E, não por acaso, o mal escolhido para destruir Otelo e Desdêmona é o ciúme, esse “monstro de olhos verdes” diabólico por natureza: a tentação de uma dúvida que gera espirais e rastilhos de dor e destruição: “olha aqui – é sinistro, é o inferno”, diz Otelo à mulher. A mesma dor que Brabâncio, pai de Desdêmona, já havia exprimido tão bem antes: “minha dor pessoal/ É de natureza tão vasta e esmagadora/ Que acaba devorando todas as outras mágoas,/ Sem se modificar” (ato I, cena III). E tudo culmina no final trágico em que Otelo asfixia a mulher e depois se mata, ao descobrir a verdade.
Segundo Bruno Tolentino, Otelo via a traição como ideia, e por isso talvez tenha sido incapaz de perceber a inocência de Desdêmona. Mas, expandindo esse insight, a verdade é que Otelo incorporava na vida o próprio mundo como ideia de que nos falava Tolentino. Harold Bloom assim diz muito bem: “Ele apresenta-se como uma lenda viva ou mito ambulante, mais nobre do que qualquer Romano antigo”. A negação da realidade por excelência.
E a opção pelo suicídio é o ápice dessa recusa radical da existência, a recusa da redenção. Shakespeare constrói a clássica sequência de impostura, cegueira, erro trágico, esclarecimento, arrependimento e expiação. Mas sem redenção, que o suicídio não redime ninguém, ainda que emoldurado pelos versos de um adeus sublime: “(…) Oh, adeus,/ Relinchante corcel e estridente trombeta,/ Flamejante tambor e estrepitosos pífaros,/ Adeus régio pendão/ e toda a qualidade,/ Orgulho, pompa e ritos da gloriosa guerra!/ E vós, engenhos mortais cujas goelas ásperas,/ Imitam o atroz clamor de Jove eternal,/ Adeus – a profissão de Otelo não é mais” (ato III, cena III).
Há grandeza em cada linha, mas – assim como nos casos de Romeu e Julieta, Marco Antônio e Cleópatra, Anna Kariênina, Emma Bovary e tantos outros suicídios literários –, é impossível aqui não pensar no poema de Vinicius de Moraes sobre a morte de Hart Crane, que se jogou de um navio no meio do Golfo do México: “Quando mergulhaste na água/ Não sentiste como é fria/ Como é fria assim na noite/ Como é fria, como é fria?/ E ao teu medo que por certo/ Te acordou da nostalgia/ (Essa incrível nostalgia/ Dos que vivem no deserto…)/ Que te disse a Poesia?”. São versos apavorantes, que mostram o brutal equívoco do suicídio romântico, o suicídio como ideia.
Eis aí a obra do Mal, completa e acabada. Como diz Ludovico a Iago: “Oh, cão espartano/ Mais selvagem que a angústia, que a fome ou o mar,/ Olha bem o fardo trágico desse leito:/ É obra tua.” (ato V, cena II).
“É obra tua”, obra de um mal que triunfou naquela casa. Otelo mostra que o Mal existe, às vezes vence e pode de fato nos destruir. Mas retratar esse aspecto da existência não significa a adesão a uma espécie de pessimismo, como entendia Otto Maria Carpeaux, por exemplo. A verdade dura é que nem sempre há redenção no mundo, especialmente para aqueles que a recusam deliberadamente.
A obra de Shakespeare é vasta como a vida, irredutível a gavetinhas ideológicas compartimentadas. Seus personagens sofrem, lutam, alegram-se, vencem, e às vezes fracassam como nós. Ao ler e reler Otelo, tornamos um pouco nosso o vislumbre do belo e do sublime que há nesses personagens, nas portas estreitas, dores e tragédias do mundo. E, assim, nos saltos de identidade transcendente entre a estética e a ética, a beleza pungente que há ali talvez nos permita também alcançar vestígios de resposta à dúvida metafísica de Otelo no ato final: apesar das misérias e do Mal que nos rodeia, há no céu mais pedras além daquelas que servem o trovão¹.
______
¹ “Haverá no céu mais pedras/ Além das que servem o trovão?” (ato V, cena II)
Rodrigo Duarte Garcia
Foi articulista e membro do conselho editorial da revista Dicta&Contradicta, e é autor do romance Os invernos da ilha (Record, 2016).








