As ideologias caminham sempre para a justificação da violência, conforme a percepção e experiência individual de Albert Camus.
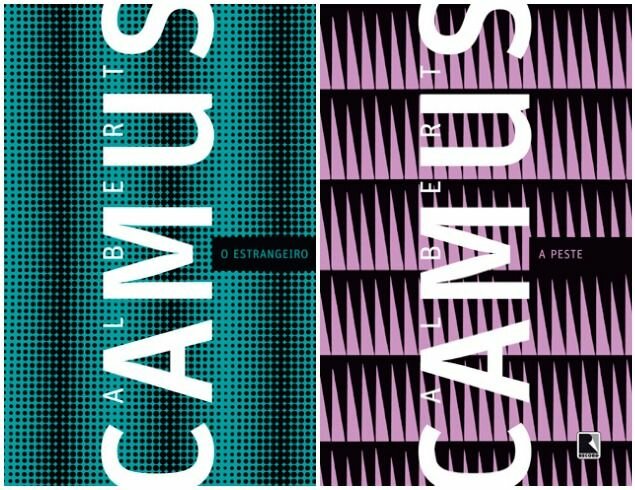

“O estrangeiro” (Record, 2017), “A peste” (Record, 2017), “Estado de sítio” (Record, 2018) e “O homem revoltado” (Record, 2017), de Albert Camus
É celebre a afirmação de Albert Camus de que a composição de romances é umas das mais eficazes formas de produzir-se filosofia. O que não significa, no entanto, que o filósofo argelino tenha necessariamente escrito romances de tese, ainda que por vezes vejamos alguns de seus questionamentos (o absurdo, o suicídio, a violência e a revolta) encarnando-se nas figuras quase arquetípicas de Meursault e Tarrou, personagens de O Estrangeiro e A Peste, respectivamente. Neste último romance, especificamente, vemos a assolação que aflige a cidade de Orã, na Argélia, isolando seus habitantes do restante do mundo e erradicando-os ao longo de vários meses.
Os esforços do dr. Bernard Rieux, que é quem vivencia o drama sisifiano de salvar uma cidade condenada de antemão por uma epidemia que somente recrudesce, é visto por alguns como um símbolo da resistência de grupos franceses em relação ao avanço do nazismo. Obviamente não se exclui essa percepção, embora a peste de Orã também remeta à terrível epidemia que afligiu Marselha em 1720 (que é hoje conhecida como “A Grande Peste de Marselha”), cuja foco propagador foram os marinheiros do navio Grand Saint Antoine, que traziam consigo o bacilo de Yersin. A tripulação fez pouco caso da quarenta imposta pelas autoridades, e pouco depois a peste já matava cerca de mil habitantes por dia; de modo que, ao fim da epidemia, mais de 200.000 dos 400.000 moradores caíram vítima da doença.
Dito isso, propõe-se aqui que a leitura do romance talvez seria enriquecida caso levasse em conta três domínios simbólicos que habitualmente estão relacionados com a peste, a saber, nas literaturas religiosa, antropológica e política. No primeiro caso, a peste é vista como flagelo, como azorrague da ira de uma divindade que castiga e pune uma sociedade indistintamente, quando o nível de corrupção transbordou-se de tal modo que o julgamento individual é impossibilitado pelas circunstâncias. Em segundo lugar, e não necessariamente descolada do primeiro aspecto, a peste é um análogo da violência, em razão de sua natureza expansiva, incontrolável e imprevisível. É uma associação presente no pensamento de René Girard, por exemplo, especialmente em sua obra Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago. Em terceiro lugar, e de certo modo englobando os pontos anteriores, a peste, como em outra obra camusiana, Estado de Sítio, é um símbolo do poder totalitário (e do medo, que é uma das paixões que embasam os totalitarismos). Procederemos com uma breve explanação dessas três possíveis associações na obra de Camus.
A literatura apocalíptica (que não se resume ao livro da Revelação ou Apocalipse da Bíblia) é repleta de ameaças de cálices a serem derramados e de flagelos enviados do céu como juízos aos pecados coletivos de uma sociedade – isto é, a falta de hospitalidade, as relações econômicas fraudulentas, o assassinato, o suborno e que tais atraem o furo divino para a coletividade que os pratica. Mesmo na obra de um Buñuel, por exemplo, mais especificamente em O Anjo Exterminador, vemos uma releitura do julgamento da sociedade burguesa, que se vê incapaz, como o povo de Israel na noite da Páscoa, de sair de seu recinto sem deparar-se com o próprio extermínio. Como é óbvio, porém, na película do diretor espanhol naturalizado no México, a causa do encerramento de toda uma classe se dá por sua própria alienação e estreitamento intelectual.
O ponto, entretanto, é que o flagelo – seja numa leitura secularizada, seja na tradição bíblica – incide sempre sobre uma classe, comunidade ou grupo que se tornou tão homogêneo e indistinto em si a ponto de inviabilizar o julgamento de indivíduos distintos. Na obra de Camus, o padre Paneloux dirige-se, num primeiro momento, como um Jonas à Nínive, concebendo a peste como o castigo imediato de Deus contra Orã:
“Meus irmãos”, disse com ímpeto, “é a mesma caçada mortal que hoje prossegue nas nossas ruas. Vede-o, esse anjo da peste, belo como Lúcifer e brilhante como o próprio mal, erguido acima dos vossos telhados, empunhando a lança à altura da cabeça, designando com a mão esquerda uma das vossas casas. Neste mesmo instante, talvez, o seu dedo estende-se para a vossa porta, a lança ressoa sobre a madeira: mais um instante e a peste entra em vossa casa, senta-se no vosso quarto e espera o vosso regresso. Ela está lá, paciente e atenta, segura como a própria ordem do mundo”.
No contexto de A Peste, não faz sentido a indagação ou mesmo a crítica à religião; a grande questão que se levanta com a mensagem do padre Paneloux e sua posterior contribuição ativa para a supressão da peste e no cuidado com os doentes é a concepção teleológica da epidemia. Isto é, há um propósito em meio à mortandade e à extinção de pessoas aos magotes? Essa absorção do absurdo a um sistema religioso ou mesmo metafísico, que implica sempre uma teleologia, é intelectualmente aceitável, porém resvala, como no caso do padre, na questão da teodiceia, ainda hoje candente na tradição cristã. Portanto, caberia a afirmação de que, mais do que um símbolo, a visão da peste como flagelo é um posicionamento perante o real, uma tentativa de conciliação da fragilidade da vida humana e a portentosa ameaça do mal (o moral, o físico e o circunstancial).
Quanto ao segundo ponto (a associação entre peste e violência), René Girard, na obra supracitada, analisando o pensamento de Nietzsche e as relações antropológicas do mundo antigo, cita o relato de Filóstrato sobre o milagre perpetrado por Apolônio de Tiana, no século II d.C. Segundo é narrado, a cidade de Éfeso estava sendo assolada por uma epidemia que também dizimara grande parte da população. Após várias tentativas e recursos inúteis, os cidadãos dirigiram-se a Apolônio, que lhes prometeu a cura e o fim da peste. Reunindo uma multidão num teatro onde se encontrava uma estátua do deus protetor da cidade, Apolônio aponta para um mendigo aparentemente cego e diz que se trata do demônio propagador da peste. Cercando-o a multidão, o taumaturgo ordena a lapidação do indigente, que, ainda segundo a narrativa, enquanto era golpeado, fitou-os subitamente com olhos que então brilhavam como fogo, e tão logo morreu, metamorfoseou-se num molosso do tamanho de um leão.
Nesse ponto, as reflexões de Girard são cruciais para o entendimento de nosso ponto, e por isso o longo trecho é justificado:
O prestígio de Apolônio é ainda mais sinistro pelo fato de não ser totalmente infundado. A lapidação passa por milagrosa por acabar com as queixas dos efésios. Mas, vocês me dirão, aqui se trata de peste. Como o assassinato de um mendigo, por mais unânime que fosse, poderia eliminar uma epidemia de peste?
Estamos num mundo em que a palavra “peste” é frequentemente empregada num sentido que não é estritamente médico. Quase sempre a palavra comporta uma dimensão social. Até a Renascença, em qualquer lugar que surjam, as “verdadeiras” epidemias perturbam as relações sociais. Sempre que as relações são perturbadas, a ideia de epidemia pode surgir. A confusão é ainda mais fácil pelo fato de as duas “pestes” serem igualmente contagiosas.
Se a intervenção de Apolônio tivesse acontecido num contexto de peste bacteriana, a lapidação não teria vencido a “epidemia”. O astucioso guru deve ter se informado, e sabia que a cidade estava tomada por tensões internas suscetíveis de serem descarregadas sobre o que nós mesmos chamamos de bode expiatório.
Em A Muralha da Peste, de André Brink, por exemplo, o sugestivo título é uma referência à violência do apartheid, um regime que de fato impõe um muro brutal entre duas partes, representadas no romance pelo quaternário Paul e Andrea (um europeu e uma sul-africana), assim como por Brian (o ex-amante britânico de Andrea) e Mandla. De todo modo, a violência é, como a peste, contagiosa, algo que a simples correlação dos sentidos da palavra “cólera” permite-nos entrever. Essa relação, entretanto, pressupõe uma antropologia filosófica que considera a violência como elemento inerente à condição humana e, em parte, uma das pedras fundacionais na civilização.
De modo conciso, esse dificilmente seria o entendimento de Camus, tendo em vista que, para ele, a existência em liberdade não permite um tratamento da essência humana, propriamente dita. O que há é uma revolta metafísica, um furor contra o absurdo da própria condição humana. É por isso que, como o próprio filósofo concebe em O Homem Revoltado, a violência coletiva é uma reação inapropriada da liberdade à tirania e à injustiça. Nesse sentido, e nos dizeres do próprio Camus, nas ideologias de massa, “o mal que apenas um homem experimentava torna-se peste coletiva”; é por isso que sua crítica à cumplicidade dos intelectuais ao stalinismo rendeu-lhe a antipatia de Sartre e de outros grandes nomes da época. A revolta justa é livre, jamais determinada pela “balança moral” das agendas, como queriam as vozes de todos os espectros políticos da época de Camus. A violência generalizada, portanto, é sempre fruto da ignorância e da incompreensão da situação metafísica do homem, como se vê nas justificações de Tarrou:
Mas o narrador fica mais tentado a acreditar que, ao dar demasiada importância às belas ações, se presta finalmente uma homenagem indireta e poderosa ao mal. Isto porque deixaria então supor que essas belas ações só valem tanto por serem raras e que a maldade e a indiferença são forças motrizes bem mais frequentes nas ações dos homens. Essa é uma ideia que o narrador não compartilha. O mal que existe no mundo provém quase sempre da ignorância, e a boa vontade, se não for esclarecida, pode causar tantos danos quanto a maldade. Os homens são mais bons que maus, e na verdade a questão não é essa. Mas ignoram mais ou menos, e é a isso que se chama virtude ou vício, sendo o vício mais desesperado o da ignorância, que julga saber tudo e se autoriza, então, a matar. A alma do assassino é cega, e não há verdadeira bondade nem belo amor sem toda a clarividência possível.
Disto segue-se que a violência totalitária, a posse absoluta da brutalidade pelo Estado, é a peste suprema. A bem da verdade, e englobando os sentidos anteriores, a obra de Camus sugere que os totalitarismos são as grandes pragas da modernidade, agora que o Ocidente dificilmente é aflito por moléstias físicas, como no passado, as quais, de um modo ou de outro, conduziam os homens à reflexão teleológica ou antropológica.
No romance, toda a cidade de Orã torna-se eventualmente uma prisão, um campo de concentração, um forno crematório. Torna-se, pois, um ambiente totalitário, encerrado em si, autorreferencial e sombrio. Os cadáveres são transportados pela via ferroviária, e todo o espaço da cidade é então operada industrialmente, com o fim de livrar-se das marcas da peste e represá-la em seus efeitos:
Sim, era preciso recomeçar e a peste não esquecia ninguém por muito tempo. Durante o mês de dezembro, ela ardeu nos peitos dos nossos concidadãos, iluminou o forno, povoou os acampamentos sombrios de mãos vazias, não deixou, enfim, de progredir, paciente e sincopada. As autoridades tinham contado com os dias frios para deterem esse avanço e, contudo, ele passava pelos primeiros rigores da estação sem desanimar. Era preciso esperar ainda. Mas, depois de tanto esperar, não se espera mais – e a nossa cidade inteira vivia sem futuro.
As ideologias caminham sempre para a justificação da violência, conforme a percepção e experiência individual de Camus; e o totalitarismo, em especial, busca a superação do absurdo coletivo num projeto histórico a longo prazo, sendo, por isso, também imoral, já que sua ação não se pauta na solidariedade para com a dor humana, como a revolta (segundo Camus) o faz.
Assim, a luta do médico Rieux perante a expansão da peste e contra a consequente perda do valor da individualidade face ao número crescente de mortes é análoga à revolta legitimada por Camus, que rejeitou tanto o messianismo de alguns de seus companheiros quanto a indiferença totalitária que busca na história a justificação para sua própria brutalidade.
No mundo contemporâneo, por exemplo, não é temerária a comparação da peste com o terrorismo, que não é senão a violência que busca a justificação num momento futuro. E embora a maestria sobre a natureza leve o homem à crença de que se encontra completamente precavido contra as súbitas alterações da natureza, a verdade, entretanto, é que ainda permanece vulnerável a toda sorte de pragas, como já disse Teju Cole sobre outras marcas de violência:
Famílias que perdiam três dos sete membros não eram de forma nenhuma coisa rara. Para nós, a ideia de três milhões de nova-iorquinos mortos por uma doença nos primeiros cinco anos do milênio é algo impossível de apreender. Achamos que seria a distopia total; portanto pensamos em tais realidades históricas apenas como notas de rodapé. Tentamos esquecer que outras cidades em outras épocas viram coisas piores, que não existe nada que nos imunize de alguma peste, de um tipo ou de outro, que somos tão suscetíveis quanto qualquer civilização do passado, mas estamos particularmente despreparados para isso. Até mesmo na maneira como falamos sobre o pouco que nos aconteceu, já esgotamos nossas hipérboles.
Fabrício de Moraes
Tradutor, doutor em Literatura (UFJF/Queen Mary University of London).
[email protected]





