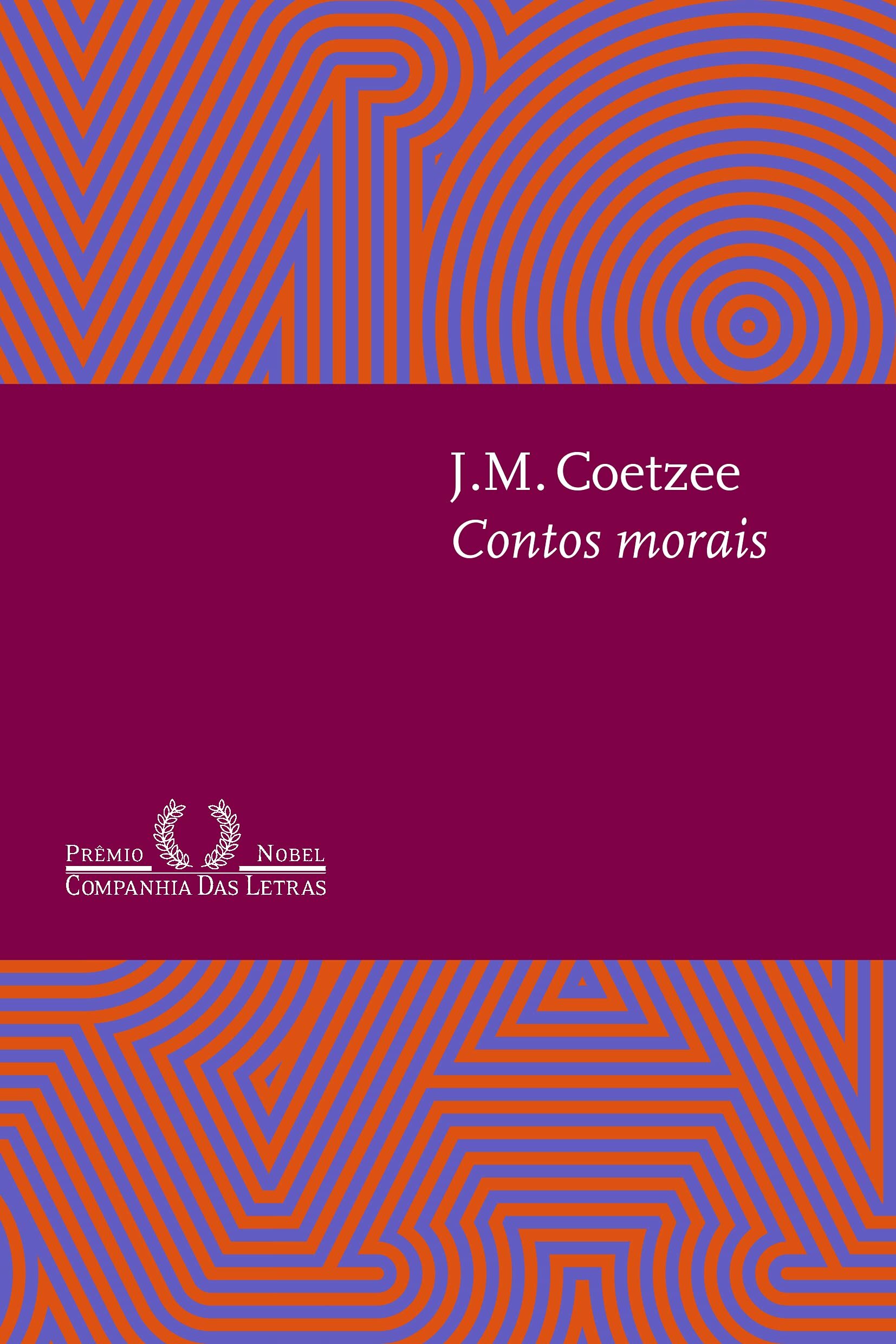Vladimir Safatle propõe a pulverização das instâncias decisórias

“A esquerda que não teme dizer seu nome”, de Vladimir Safatle
1.
Se precisarmos definir o novo livro de Vladimir Safatle, diremos que se trata de um texto de intervenção. Preço acessível, simplificação da linguagem e dos problemas (que, não obstante, ainda surgem complexos como são), circunscrição bem clara e definida dos assuntos, todas são características de uma tentativa de ampliação do número de leitores, com a intenção de atingir uma intervenção decidida no campo político. Para isso, é vital reafirmar o ideal heideggeriano: “o pensamento age quando pensa”, retomado logo no início do livro e afirmado como a forma por excelência de definição do processo intelectual em meio à sociedade. Como toda intervenção, não se trata apenas de conseguir o público, mas de marcar a posição a partir da qual se fala e qual o objetivo da enunciação.
É possível dizer com clareza qual é o objetivo de Safatle com o livro: reafirmar o pensamento de esquerda, definindo-o e desenvolvendo suas implicações na realidade, buscando um diálogo principalmente com a própria esquerda – o que significa muitas vezes alienar interlocutores possíveis e importantes, risco bastante presente aqui – e caracterizando o que o autor chama de “decisão a respeito do que será visto como inegociável”, um termo bastante útil em dias de abandono de princípios em nome de governabilidades e outras utilidades mais ou menos necessárias do jogo político.
Entretanto, a boa definição dos objetivos ainda carece de igual marcação a respeito do lugar da enunciação. Apesar de o livro dar as indicações de praxe – trata-se de um filósofo da USP, colunista de jornal, além das referências bibliográficas espalhadas pelo texto, que indicam a filiação intelectual do autor –, ficamos sem saber de fato de onde surge o discurso que incita a uma “esquerda que não tema dizer seu nome”. Vem da Academia? De um partido político por vir (seja ele existente ou não hoje)? Da própria sociedade civil, cansada de falsas aporias contemporâneas? A pergunta não é ociosa, pois mesmo a defesa de princípios inegociáveis precisa estabelecer claramente seu chão histórico e social, sob pena de nascer irrelevante. Nesse sentido, a intencionada “cartografia inicial de questões” empreendida por Safatle deverá ser interpretada de acordo com o exemplário oferecido pelo autor como ilustração dos princípios e a partir de suas características objetivas, delineadas em boa medida pelo leitor.
Por esse motivo, é relevante que eu diga meu lugar de enunciação e meu objetivo. O primeiro está intrinsecamente ligado a Safatle, visto que ele é um forte representante do “prédio do meio” e eu sou um novo rebento do prédio ao lado (para quem não conhece a USP, os prédios da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas são três: o do meio é de Filosofia e Ciências Sociais, o do lado é o de Letras e no outro lado ficam História e Geografia). Em parte, falar sobre o autor de A esquerda que não teme dizer seu nome é falar sobre minha própria formação (em andamento) e sobre as relações decorrentes dela. Por outro lado, meu objetivo é discutir as questões apresentadas no livro não do ponto de vista de um representante da esquerda (mais sobre isso adiante), porém como interessado nos assuntos abordados e em como as correntes de esquerda têm elaborado suas visões de nossa realidade atual.
2.
Começando pela introdução do livro, já bastante sugestiva, somos apresentados pelo autor aos dois grupos de pensadores que, de alguma forma, assinalaram o esgotamento das alternativas à esquerda tanto no plano intelectual como no plano de intervenção social. Segundo o autor, o primeiro grupo é constituído por aqueles felizes pela derrota intelectual da esquerda, algo que lhes possibilitou afirmar sua vitória ideológica na esteira da queda do Muro de Berlim e do colapso soviético. O segundo grupo é o que se pode chamar de “ex-esquerda”, aqueles que desistiram de um ideário visto hoje como utópico e se submeteram à participação na ordem democrática liberal contemporânea, aceita como a “menos pior” das possibilidades.
Nesse contexto, Safatle encontra motivos suficientes para o questionamento desse diagnóstico a partir da volta ao paradigma “esquerda-direita”; para o autor, o pretenso apagamento das diferenças entre esses dois campos serve apenas aos grupos de cima e ignora as reais clivagens de visão de mundo que existem até hoje, capazes de estabelecer com clareza as filiações dos participantes na sociedade e na política.
E aqui cabe uma primeira ressalva: o embaralhar dos campos ideológicos se deve muito mais à dificuldade em estabelecer uma identidade inequívoca pautada por um eixo principal de análise. Ou seja, diferentemente do que o autor defende, presenciamos hoje uma dificuldade ímpar em associar completamente este ou aquele ator social a um campo ou outro, ainda que em alguns casos seja bastante fácil – penso logo em Francisco de Oliveira e Reinaldo Azevedo como exemplos “puros” de ambos os lados, lembrando que os dois de forma alguma se equivalem.
Este ponto me é especialmente caro por ser eu mesmo um defensor da ideia de que a antinomia “esquerda-direita”, embora ainda presente nos debates e nas considerações sobre política dos atores mais destacados, perdeu sua capacidade de descrever com fidelidade a miríade de posições e construções ideológicas, organizadas ou não, na sociedade contemporânea. Ainda que seja possível, grosso modo, perceber que algumas construções ideológicas orbitam mais claramente em um lado ou outro do antigo espectro, muitas outras se organizam ao centro ou mesmo à margem da divisão clássica, gerando inclusive dificuldades de compreensão do que verdadeiramente está em jogo nos debates públicos.
De todo modo, a introdução do livro busca estabelecer quais serão os pontos inegociáveis do discurso de esquerda na atualidade, para desenvolvê-los em seguida. São basicamente dois, acrescentando um terceiro de natureza diversa: defesa do igualitarismo e defesa da soberania popular (seguida pelo direito à resistência), por assim dizer temperados por uma compreensão mais complexa da experiência esquerdista do século passado. Desenvolveremos estes pontos em separado, assim como estão no livro.
3.
O igualitarismo, segundo Safatle, passa por reconhecer o “paradoxo” das sociedades capitalistas: a concentração de riquezas de um lado implicando a pauperização de camadas populares. A desigualdade de renda, inegável pelos dados, também leva à famosa “luta de classes”; o posicionamento da esquerda nesse quadro deve ser uma defesa radical de fórmulas criadas com o sentido de igualar mais os atores sociais em termos econômicos, e o principal exemplo citado foi a proposta de Jean-Luc Mélenchon na última eleição francesa: uma lei do “salário máximo”, impondo que uma empresa não pague mais do que vinte vezes mais do que as pessoas com o menor salário recebem.
A defesa do igualitarismo econômico, entretanto, soa muito normativa no livro. Uma sociedade pode até funcionar bem com tamanhas desigualdades (a ideologia é que dá conta disso, diriam marxistas), e não fica em nenhum momento claro porque deveríamos apoiar políticas radicais contra isso. A falta de coesão social, por exemplo, é algo causado diretamente pela desigualdade; mas o texto explora muito pouco fatores como esse e ficamos com a impressão de que mais igualdade econômica é boa em si, sem levar muito em conta seus efeitos posteriores, seus reais objetivos.
Mas o ponto nevrálgico do capítulo está no diálogo com a esquerda (outra esquerda?) por meio da defesa da “segunda perna” do igualitarismo: para além da defesa do fim das desigualdades econômicas, estaria a necessidade de pensar uma “indiferença às diferenças”. Ou seja, políticas calcadas na afirmação de “diferenças”, a maior parte delas culturais, mas também de raça, teriam de ser abandonadas em nome de um universalismo que estaria na base da esquerda desde sua fundação moderna.
O objetivo declarado de Safatle está em, ao constatar o esgotamento das políticas de diferença e sua “captação” por setores conservadores da sociedade, buscar uma maneira mais firme de superar o paradoxo de que “a organização discursiva do campo social das diferenças [seja] sempre solidária à exclusão de elementos que não poderão ser representados por esse campo” (p.29, grifo no original). O objetivo real da inclusão das diferenças na política seria atingir “condições [em que] a diversidade pode aparecer como a modulação de uma mesma universalidade em processo tenso de efetivação” (pp.29-30, grifo no original).
Trata-se da ideia mais polêmica de todo o livro, pois implica repensar uma série de pressupostos fortíssimos da esquerda na atual conjuntura. Além disso, é uma clara tomada de posição contrária ao multiculturalismo inspirado, entre outros, pela obra filosófica de Jacques Derrida e sua afirmação da “différance”, a diferença marcada contra uma oposição linguística estabelecida (poderíamos traduzir por “diferensa”?). Mais sobre Derrida e Foucault adiante, lembrando que Safatle não cita os dois neste capítulo.
A discussão sobre como as diferenças podem participar da política e se devem ou não ceder a uma ideia de universalismo é uma discussão bastante ampla e perigosa. É inevitável pela própria natureza impessoal do Estado que se intente algum grau de universalismo; por outro lado, não há como negar certa dimensão opressiva da “indiferença às diferenças”. Caetano Veloso, em coluna de jornal, diz que o que incomoda no livro é exatamente essa “indiferença” que teria origem nos partidos comunistas de sua juventude, tão machistas e avessos a homossexuais quanto os reacionários que combatiam.
Quanto a isso, faço apenas duas provocações. A primeira é que curiosamente o reconhecimento da diferença passa, no limite, por uma aceitação de diversidades tão amplas dentro de um mesmo Estado que poderia, se radicalizada, levar ao reconhecimento pleno do indivíduo como célula indivisível do processo político. É quando Derrida pode encontrar o liberalismo (ou pelo menos algum liberalismo). Talvez isso possa ser mais bem trabalhado em próximas intervenções.
A segunda provocação é a constatação de que os exemplos usados para garantir a visão de que a defesa das diferenças foi capturada por conservadores são, enfim, exemplos muito ruins. A frase de Tony Blair sobre tolerância foi mal analisada e é muito mais ambígua e complexa do que o autor dá a entender. Mas o que mais incomoda é a citação ao Papa Bento XVI e seu diálogo recente com a escola de Frankfurt. Safatle considera um “impropério” Ratzinger “citar Adorno e Horkheimer em suas bulas, como se a crítica frankfurtiana […] levasse diretamente às suas pregações […]” (p.32). Bom, vejam por si sós se Ratzinger mobiliza realmente Adorno e Horkheimer para confirmar pregações católicas em sua encíclica Spe salvi. Meu diagnóstico é que o trato da diferença é ainda um processo mal resolvido pelo autor, talvez melhor explorado em seu livro recente Grande Hotel Abismo, enquanto aqui a defesa radical da “indiferença” tende a ser algo dogmática.
4.
O capítulo seguinte, sobre soberania popular, me parece o mais bem acabado dos três principais, embora suas propostas não sejam tão bem definidas. Ora, isso decorre da própria natureza dos assuntos tratados. Para falar da soberania popular, Safatle começa recorrendo a Lefort, Derrida, Calvino (pois é!) e outros para entendermos que nem tudo que não esteja previsto dentro do Estado de Direito é necessariamente ilegal. Além disso, essa ideia não leva inexoravelmente ao totalitarismo – ao contrário, a desobediência a um poder constituído “legalmente”, mas antipopular, é prevista em todo sistema democrático que preza por seu nome. Aqui, a citação me parece eloquente:
Mesmo a tradição liberal admite, ao menos desde John Locke, o direito que todo cidadão tem de se contrapor ao tirano, de lutar de todas as formas contra aquele que usurpa o poder e impõe um estado de terror, de censura, de suspensão das garantias de integridade social. (p.41)
O direito à resistência constitui-se, então, como o direito cidadão por excelência, ao impedir que a sociedade seja feita refém de políticas autoritárias. O próprio Direito, admitindo que sua circunscrição não pode prever todas as situações, compreenderia que há momentos em que sua jurisdição é insuficiente. O que nos faz lembrar imensos debates recentes sobre ações que poderiam ser classificadas como “ilegais”, em que os próprios limites da execução de determinadas leis estavam em questão em nome de princípios mais gerais. O caso do Pinheirinho me parece sob medida para essa discussão.
Nesse sentido, seria vital para a esquerda defender esse lugar além do direito em que a soberania popular se manifesta, sob pena de gestarmos uma sociedade que deseje “substituir a política pela polícia” (p.48). O que não implica sucumbir, segundo Safatle, à tentação de instituir plebiscitos para a resolução de questões centrais. Embora alguns plebiscitos sejam bem-vindos, há políticas e legislações que não podem ser resolvidas desta forma para evitar a “ditadura da maioria”, conceito não usado no livro, porém adequado à situação.
Em troca disso, o autor propõe, de forma acertada a meu ver, a pulverização das instâncias decisórias, rebatendo firmemente as objeções que levantam o medo de chegarmos a um assembleísmo imobilista. Não deixa de ser curioso que novamente aproximemos uma ideia de esquerda de ideais liberais, sendo que a descentralização das decisões que dizem respeito às comunidades menores sempre foi uma bandeira liberal. Isso ocorre, em minha opinião, por não haver detalhes mais aprofundados sobre como se daria essa pulverização de instâncias decisórias – e podermos então explicitar as diferenças para com um projeto liberal. Safatle argumenta que uma democracia não precisa de instituições fortes, mas de poderes instituintes fortes, o que nos leva a pensar que a fundação popular de seu sistema precisaria ser arquitetada com o máximo de rigor. Precisaremos de um Sólon?
5.
Após estabelecer os marcos inegociáveis da esquerda, cabe refletir como a esquerda deve pensar sua história recente e como se apresentar perante a ela. E é aqui o momento mais ambicioso do livro: fornecer uma gramática que permita assimilar os defeitos dos regimes passados (ou seja, a compreensão dos calcanhares de Aquiles das ideias comunistas e suas experiências de poder, quase todas resultando em ditaduras) e ainda reivindicar o legado positivo das lutas passadas.
Para definir a necessidade de repensar o socialismo real (isto é, alguns dos piores regimes ditatoriais do século passado), precisamos abandonar a crença de que ideias, uma vez postas à mesa, devem funcionar instantaneamente. O processo histórico caminharia por tentativa e erro, importando mais o aprendizado com os erros do que a busca de novos paradigmas.
Nesse sentido, não devo deixar de assinalar o caráter algo saudosista e pouco moderno dessa asserção. Não é nada necessário à esquerda continuar inspirando-se nas conquistas de Pirro de alguns processos revolucionários ou tentando limpar parte da reputação de alguns de seus heróis complicados de defender. Temos diversos exemplos de governos de esquerda, e até de inspiração marcadamente comunista, bem-sucedidos sem sucumbir às tentações totalitárias dos regimes de inspiração soviética ou maoísta. Em suma, inspirar-se em Kerala, na Índia, talvez seja melhor para a esquerda do que ser constantemente assombrada por velhos fantasmas.
Nesta discussão sobre a visão que a esquerda tem de si mesma, joga papel decisivo a superação da dicotomia – falsa ou real? – entre reformistas e revolucionários. Para Safatle, a divisão é falsa e interessa apenas ao imobilismo da esquerda, dado que a verdadeira característica da esquerda é aposta em uma nova humanidade. Ou, nas palavras de Alain Badiou, o século XX foi o “século do advento de outra humanidade”. Nesse sentido, a crítica ao modo liberal de enxergar o mundo está posta em primeiro plano.
Um dos traços fundamentais da esquerda […] está na recusa em compreender a sociedade como uma associação entre indivíduos […] a fim de realizar, da melhor maneira possível, seus interesses particulares. […] [A] consequência fundamental dessa distorção é a compreensão da ‘liberdade’ simplesmente como o nome que damos para o sistema de defesa dos interesses particulares dos indivíduos, de suas propriedades privadas e de seus modos de expressão. (p.68)
Assim, a mudança da sociedade precisa ter objetivo claro, e os meios para a modificação importam menos, até porque a História provou que processos revolucionários não podem ser criados artificialmente. É preciso fugir à “elevação da revolução [como] modelo único de acontecimento dotado de verdade” por transformar nuances em poeira e ser “a maneira mais segura de a esquerda caminhar para o raquitismo eleitoral”. Em sentido contrário, mas buscando a mesma síntese, Safatle discorda de Ruy Fausto na tentativa deste de determinar se os momentos revolucionários já engendram em si seu próprio autoritarismo. A base da posição do autor frente às revoluções é não procurar sua criação, e ao mesmo tempo não recusar seu surgimento.
Afinal, se há um grande problema à esquerda, e é para onde aponta Safatle no final de seu livro, é que esta não tem uma teoria de governo, embora tenha presente sua teoria de poder, na esteira das considerações foucaultianas sobre os mecanismos de opressão. Uma vez no poder, a esquerda falhou seja em desmantelar esses mecanismos, seja em buscar uma política que os superasse, reproduzindo em muitos casos a própria dinâmica da direita. Assim, a busca de uma teoria do governo da esquerda precisaria levar em conta que, à diferença da ideologia liberal, considera-se que “o indivíduo não é a medida de todas as coisas”, o que “não significa afirmar que ele não é medida de coisa alguma” (p.81).
O ponto, para mim, é que as ideias liberais têm o indivíduo por base por este ser, como eu disse acima, a célula indivisível da política, para além de classes, estamentos, castas ou qualquer outra categoria sociológica, que podem explicar movimentos amplos e macroeconômicos, mas falham constantemente em elaborar o papel e a visão do sujeito dentro de uma dada condição social – algo que os “não indiferentes à diferença” até poderiam fazer, se não fosse o fato de eles criarem ainda novas categorias que, embora menos abstratas, não deixam de ser limitantes. Os limites do pensamento de esquerda também estão aí, e infelizmente Safatle não parece considerar isto uma questão verdadeiramente relevante.
6.
Que as discussões e as censuras acima não levem a dois equívocos: o primeiro, menos provável, de considerarem que não nutro respeito imenso pelo filósofo Vladimir Safatle. Em todas as vezes que o ouvi falar, aprendi e pensei muito sobre suas colocações, e com este livro não foi diferente. O segundo erro, do qual busco resguardar-me decididamente, é considerarem a partir desta resenha que o livro não tem interesse algum àqueles que porventura conheçam bem os assuntos tratados na obra de modo leve. Nada mais falso; este livro alcança seu objetivo: fomentar o debate. Será injusto não debatê-lo para muito além desta resenha e do âmbito da universidade. Caso contrário, para quê livros, afinal?
::: A esquerda que não teme dizer seu nome :::
::: Vladimir Safatle :::
::: Três Estrelas, 2012, 88 páginas :::
::: compre na Livraria Cultura :::
Vinícius Justo
Mestre em Teoria Literária pela USP.
[email protected]