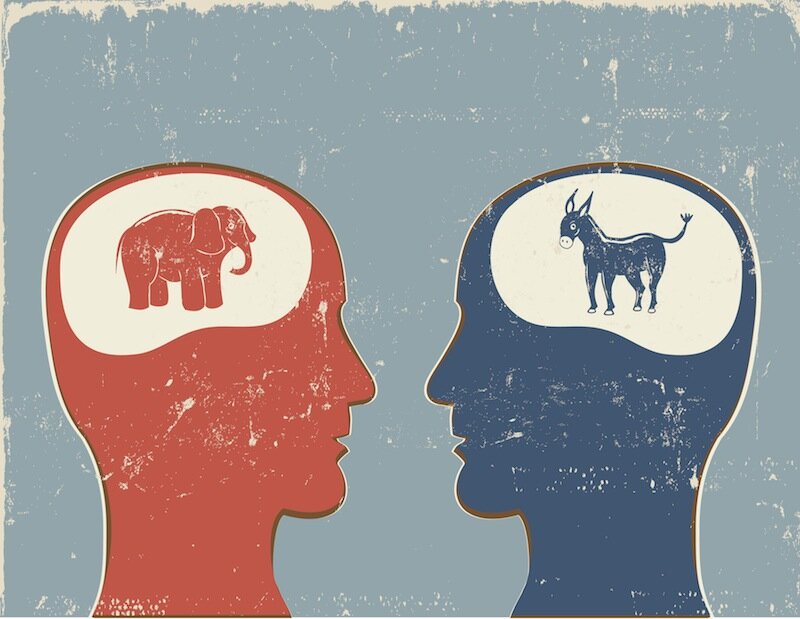Agora que um capítulo da nossa história chega ao fim, pode-se tentar fazer um balanço do que representaram esses anos do lulopetismo na frente diplomática e no terreno da política externa.
Razões de um depoimento pessoal de caráter acadêmico-diplomático
Diplomatas costumam ser, salvo as exceções de praxe, funcionários discretos e disciplinados por natureza. Típicos servidores de Estado, eles também costumam servir indistintamente – com proficiência, proverbial discrição e sentido de responsabilidade – a todos os governos que, legitimamente ou não, ocupam, de forma temporária ou quase permanente, as rédeas do poder político, de preferência na saudável alternância das democracias normais. Apenas essas características explicam que o Itamaraty e os diplomatas profissionais tenham atravessado os anos exóticos do lulopetismo, tendo sabido preservar de modo relativamente incólume sua reputação de qualidade, em face dos problemas acumulados pela maneira sui generis de fazer política – e “negócios” bizarros também – que caracterizaram quase três lustros de anomalias funcionais e disparates institucionais em praticamente todas as áreas da administração pública. Também com as exceções de praxe, os diplomatas procuraram, nesses anos, conciliar a qualidade técnica de seus serviços especializadas com algumas opções na política externa que certamente destoaram, e muito, do modo de ação diplomática que sempre distinguiu a Casa de Rio Branco. Mas, os governos passam e os diplomatas ficam.
O autor deste depoimento é uma das exceções de praxe, talvez uma das poucas pessoas a terem atravessado a trajetória quase completa de opções possíveis no largo arco de aventuras políticas que marcou a ascensão ao poder, em janeiro de 2003, de um governo de esquerda, típico representante dos movimentos esquerdistas da região (e do movimento socialista mundial) que lutaram contra as ditaduras militares da América Latina, desde a era da Guerra Fria até o atual período de turbulências na terceira onda da globalização. Tendo pertencido aos movimentos que lutaram contra o regime militar, e por isso mesmo conhecido um longo exílio de sete anos nos anos mais sombrios da ditadura castrense (entre 1970 e 1977), tendo ingressado logo após no serviço exterior brasileiro, ao mesmo tempo em que manteve, paralelamente, uma intensa carreira acadêmica, e tendo acumulado reflexões e observações escritas sobre os mais diferentes regimes políticos e econômicos no decorrer de mais de meio século, quem subscreve o presente depoimento acredita possuir credenciais, conhecimento ou maturidade suficientes para efetuar um julgamento pessoal (mas fortemente embasado numa experiência direta dos fatos narrados) sobre o que foi aqui designado como “auge e declínio” do lulopetismo diplomático (este um conceito de duvidosa existência).
Os argumentos alinhados a seguir refletem, portanto, uma vivência de algumas décadas na diplomacia profissional, combinada com atividades acadêmicas as mais variadas, além de um conhecimento pessoal da trajetória das organizações de esquerda que perfilaram na luta contra o regime militar e que ascenderam ao poder federal na aliança com o PT como resultado das eleições presidenciais de 2002. A postura política assumida neste depoimento é fortemente crítica dessa hegemonia de esquerda, em geral e no tocante ao assim designado “lulopetismo diplomático”, sem que no entanto seu autor possa ser classificado como um representante da “direita”, ou de “forças conservadoras”, muito pelo contrário. Tendo ao início assumido uma postura simpática ao governo que tomou posse em janeiro de 2003 – como revelado em reflexões iniciais sobre essa atitude no livro A Grande Mudança: consequências econômicas da transição política no Brasil (São Paulo: Editora Códex, 2003) –, o que transparece claramente nas observações críticas formuladas abaixo é a simples constatação de que, além e acima de todos os crimes comuns, dos crimes políticos e dos “crimes econômicos” perpetrados principalmente pelo PT e partidos associados, o Brasil que agora é legado pelo regime lulopetista em declínio enfrenta a pior crise (política, econômica, moral) de toda a sua história, o que se reflete igualmente no terreno da diplomacia e da política externa.
Ao fazê-lo, o autor deste depoimento tem plena consciência de que oferece uma espécie de “relatório de minoria”, uma vez que, tanto no ambiente profissional quanto nos meios acadêmicos, tal postura crítica constitui, justamente, antes a exceção do que a regra, o que apenas confirma uma atitude contrarianista em relação a certos consensos que parecem contraditórios com uma exposição honesta dos fatos. Ser minoria nunca me parece um problema, quando se pretende defender um serviço profissional, como o do Itamaraty, em condições adversas de manutenção dos princípios permanentes da política externa brasileira, nesses tempos “não convencionais”, quando a luta era pela preservação de valores fundamentais da carreira diplomática, por alguém que, por acaso, é também acadêmico, e que sempre levou um duplo combate, nas duas frentes, em prol da ideia de honestidade intelectual e do princípio do interesse nacional.
O lulopetismo como expressão de um projeto político integral
Sempre é conveniente, e necessário, esclarecer termos e conceitos ao início de qualquer debate de natureza subjetiva, como as reflexões que agora seguem. A despeito do fato que alguns dos ideólogos do regime que agora parece tocar no seu termo – após uma trajetória ascendente que representou um parênteses notável na história política brasileira – tenham procurado identificar a política externa praticada nos governos do PT como sendo uma “diplomacia ativa e altiva”, parece legítimo ao observador externo (e, a fortiori, ao interno) não acatar designações feitas pro domo sua, mas procurar exercer seu senso crítico em função das interpretações dominantes ao longo de toda uma fase deprimente dessa história política. Esse termo “lulopetismo” (sem copyright aparente), parece servir bastante bem para designar uma fase dessa trajetória política que combina os traços característicos do petismo com idiossincrasias próprias a seu chefe inconteste, talvez o único a ter podido unir correntes e movimentos diversos – dos quais os mais importantes foram lideranças sindicais alternativas, depois pelegas como todas as outras, seguidas daqueles que eu chamo de “guerrilheiros reciclados”, além de seitas diversas da fauna esquerdista – num partido que chegou a exercer uma hegemonia real no sistema político brasileiro, ainda que não tenha sido sempre a força dominante no Congresso ou nos diversos rincões do mapa eleitoral brasileiro. O chefe inconteste desse partido exibiu, em todo caso, um capital pessoal eleitoral superior inclusive ao do petismo, o que habilitou observadores políticos a realizarem essa junção desses dois termos, o lulismo e o petismo, num movimento que conheceu seus momentos de glória e de aparente consagração nos anais da história. Parênteses fechado? Difícil dizer…
Agora que se aproxima o fim desse capítulo da trajetória política contemporânea brasileira – certamente um dos menos memoráveis, dada a profundidade e a extensão das atividades corruptas da verdadeira organização criminosa que tomou de assalto o poder em 2003, como revelado nas investigações da Operação Lava Jato, e em outras, paralelas, igualmente devastadoras –, pode-se tentar fazer um balanço do que representaram esses anos do lulopetismo na frente diplomática e no terreno da política externa, começando justamente por fazer essa necessária distinção entre diplomacia e política externa. A primeira é simplesmente uma técnica, uma ferramenta, uma modalidade de ação estatal, que congrega recursos humanos e capacitação especializada na interface do relacionamento do país com o mundo exterior, nos planos bilateral, regional ou multilateral. A segunda é o conteúdo que se imprime a essa ação, feita de opções políticas legitimadas pelas escolhas básicas feitas pelos eleitores, em função de sua percepção sobre os interesses nacionais e as prioridades sociais, muito embora essas escolhas raramente envolvam grandes questões da agenda internacional do país.
Não é incorreto dizer que a área da política externa é uma das menos exploradas nos embates eleitorais, tanto pela sua aparente distância em relação aos problemas mais prementes da cidadania – geralmente de caráter econômico e social – quanto pela complexidade da agenda internacional aos olhos da cidadania. A política externa, com, também, exceções de praxe, geralmente passa ao largo dos debates nas campanhas presidenciais, e assim costuma permanecer ao longo de um mandato político qualquer. O Itamaraty raramente aparece nas polêmicas políticas. Não foi certamente o caso nos anos bizarros do “lulopetismo diplomático”, quando ele esteve associado a várias iniciativas que marcaram esses anos com certa pirotecnia internacional (e intencional), mas que se afastaram nitidamente de certo consenso nacional sobre o curso da política externa e que destoaram sobremaneira do estilo (e do espírito) de trabalho com que o Itamaraty sempre conduziu a gestão da política oficial nas relações exteriores.
Ao lado dos vários crimes comuns cometidos por grão-petistas que se exerceram no governo – nem todos, ainda, devidamente sancionados pela Justiça – e dos muitos “crimes econômicos” cometidos por uma gestão particularmente inepta na condução da política econômica, e que levaram o Brasil ao que eu chamei de “Grande Destruição” – e que deixaram profundas marcas em termos de baixo crescimento, de recrudescimento da inflação, do desequilíbrios e irregularidades nas contas públicas, e da exacerbação do dirigismo estatal e do protecionismo comercial –, o lulopetismo diplomático representou uma séria deterioração dos padrões habituais da atuação do Brasil na frente externa. O Itamaraty só não foi aparelhado pelos apparatchiks do partido e assaltado por militantes da causa petista – como ocorreu em praticamente todas as demais agências públicas – por injunções da legislação que obsta esse tipo de invasão exótica no ministério; mas a política externa não ficou imune ao festival de bizarrices perpetradas pelos lulopetistas em quase todas as demais esferas da administração pública.
Já examinei, em meu livro Nunca antes na diplomacia: A política externa brasileira em tempos não convencionais (Curitiba: Appris, 2014), os principais exemplos das bizarrices lulopetistas nesse terreno especializado da ação estatal, mas convém neste momento chamar a atenção para outros aspectos que tiveram de ser discretamente abordados nesse livro, em função justamente da reserva que diplomatas devem manter quando se pronunciam publicamente sobre temas da política externa corrente. Num momento em que uma diplomacia sem rótulos bizarros começa a ser estabelecida, não só em benefício do próprio Itamaraty, mas em função de padrões diplomáticos mais consentâneos com práticas consagradas na tradição brasileira de relações exteriores, cabe refletir sobre o volume de deformações impostas pelo lulopetismo à ação externa do Brasil. Um balanço feito a partir dos registros disponíveis certamente revelaria um número bem maior de bizarrices diplomáticas que conviria examinar, e corrigir, para que a política externa do Brasil retorne aos seus padrões habituais de correção e equilíbrio, sem mais aventuras exóticas e escolhas francamente deletérias do ponto de vista dos interesses nacionais.
Por que “auge e declínio” no tocante ao lulopetismo diplomático?
Caberia explicar porque os primeiros termos deste depoimento se referem a “auge e declínio” do lulopetismo diplomático e não, como seria mais comum, “ascensão e queda”, ou “triunfo e fracasso”, ou qualquer outro equivalente encontrado na literatura corrente deste gênero. A razão é que este depoente não acredita que o lulopetismo diplomático tenha sido de fato derrotado, ou se encontre irremediavelmente condenado, inclusive porque existem bases ideológicas bastante fortes para que o lulopetismo, em si, como também sua variante “diplomática” continuem exercendo certa dominância política no sistema eleitoral-partidário, e sobretudo na “consciência coletiva” de largos estratos da população, inclusive e principalmente entre aqueles que podem ser chamados de “gramscianos de academia”, que são os que mantêm vivas a influência e a predominância política do lulopetismo nas vertentes interpretativas mais comuns sobre a diplomacia e a política externa brasileira contemporâneas.
O lulopetismo diplomático certamente já conheceu momentos mais elevados de “glória” e, se ele se encontra temporariamente num declínio aparente, não é seguro que esteja enfrentando uma crise terminal ou condenado a desaparecer irremediavelmente, como resultado de tantos fracassos acumulados em diversas frentes da diplomacia e da política externa do país. A primeira razão de sua “fortaleza” é que o lulopetismo, em si mesmo, é relativamente vigoroso, baseado, por um lado, na crença de imensas massas – e também de muitos true believers da academia – nas virtudes proclamadas por esse movimento na resolução de alguns dos grandes problemas da sociedade brasileira: pobreza, carências reais em matéria de saúde, educação, habitação, renda, emprego, desigualdades sociais, etc. Por outro lado, o lulopetismo sempre foi extremamente hábil em sua própria propaganda, fazendo intenso uso e contínua publicidade das supostas virtudes das políticas propostas pelos lulopetistas para o equacionamento e a resolução daqueles mesmos problemas; ou então na atribuição de responsabilidades por eventual situação negativa nessas questões a vagamente designados “inimigos do povo”, que seriam políticos e partidos não identificados com, ou opostos às políticas e propostas dos lulopetistas, ou a fatores “objetivos” que poderiam ser vencidos por eles: as elites, a burguesia e os grandes financistas, o capitalismo em geral, o imperialismo em particular (e o americano em especial), enfim, os ricos e poderosos, a “grande mídia”, quando não ameaças mais “sofisticadas”, como o neoliberalismo, termo especialmente em voga na boca de acadêmicos que nunca se envergonharam da indigência mental e da profunda desonestidade sub-intelectual implícita ao emprego desse tipo de argumento falacioso.
O lulopetismo teve a seu favor, para ser bem sucedido na primeira linha, crenças já existentes na sociedade, mas continuamente alimentadas pela tribo aqui chamada de “acadêmicos gramscianos” – eles não precisam ler ou conhecer Gramsci, basta atuar no universo conceitual que ele elaborou – e repetidamente reiteradas na estrutura de ensino, nos três níveis de educação abertos à população em geral. Essa foi a primeira condição e a razão do “sucesso” eleitoral e político do lulopetismo. A outra perna, a da publicidade, sempre necessita de poderosos recursos, para criar ou alimentar um poderoso exército de propagandistas das “boas causas”, e de ataque sistemático aos “inimigos” dessas boas causas. Para a eficácia da técnica à la Goebbels é preciso largas somas de dinheiro, e é a isso a que a máquina partidária do lulopetismo se dedicou desde o início, antes mesmo de conquistar o poder central na República. Conquistado esse poder, em 2003, tudo se tornou mais fácil: a máquina de publicidade do lulopetismo passou a dispor de imensos recursos do Estado, de somas fabulosas, de possibilidades gigantescas, disponíveis não só no Estado, mas também fora dele, junto a capitalistas desejosos ou necessitados de contratar com o Estado, para obras de grande valor unitário, geralmente empreiteiras e construtoras, mas também banqueiros e grandes cartéis, que podem ser “seduzidos” para fins de “doações legais” ou convenientemente extorquidos.
O PT e o lulopetismo – que se completam, mas não são exatamente a mesma coisa – usaram e usam, largamente, abundantemente, regularmente, sistematicamente, legalmente e criminosamente, dos dois expedientes para criar, manter, defender e ampliar o seu poder sobre a sociedade. Eles começaram por assegurar seu próprio domínio sobre o Estado, lotando a máquina pública de militantes obedientes, comprando (literalmente) ou subornando parlamentares e mesmo máquinas partidárias inteiras, designando juízes amigos para os tribunais superiores e, sobretudo, criando e multiplicando as redes sociais de divulgação de suas ideias, das crenças, da propaganda mais ou menos “correta” e das mensagens mentirosas, os tais “blogs sujos”, simples mercenários de uma direção atuando seguindo princípios neobolcheviques.
Essas duas forças – crenças arraigadas numa sociedade adepta do estatismo mais exacerbado, e um “estamento burocrático” de feitura gramsciana, com uma organização de tipo neobolchevique, dedicada fundamentalmente a aprofundar essas crenças – só não puderam “conquistar” num movimento de ocupação o próprio Itamaraty em virtude das características funcionais já identificadas acima. Mas a instituição foi devidamente manietada e submetida, inclusive e sobretudo com a ativa colaboração de diplomatas que estiveram em sua direção durante quase todo o tempo de vigência do lulopetismo diplomático, com o suporte entusiasta dos referidos gramscianos de academia e uma forte atuação de apparatchiks do PT em diversas instâncias decisivas do processo decisório incidindo sobre a diplomacia, inclusive e principalmente por meio da intervenção direta de um “chanceler paralelo”, isto é, o encarregado de assuntos internacionais do partido trabalhando numa assessoria da Presidência da República.
O papel dos apparatchiks do PT na implementação do lulopetismo diplomático
Assessores presidenciais em matéria de política externa são essenciais para o bom desempenho do chefe do executivo nas diversas frentes diplomáticas que se abrem ao seu exercício direito, num contexto internacional agora profundamente marcado pela intervenção direta dos chefes de governo nos assuntos externos dos respectivos países (sendo que presidentes, salvo as exceções europeias, não são geralmente versados ou experts em temas internacionais). A realidade, porém, é que esse tipo de assessoria raramente existiu ao longo da história republicana brasileira, seja porque os presidentes se envolviam pouco em matérias de política externa – em épocas de comunicações e transportes mais difíceis ou lentos – seja porque os presidentes delegavam aos chanceleres o essencial do trabalho nessas esferas, ou interagiam diretamente com eles para as tarefas que fossem julgadas mais relevantes no plano diplomático.
Na história política brasileira, justamente, uma “agência”, ou assessoria formal desse tipo, nunca existiu enquanto tal, sendo geralmente o resultado de disposições administrativas tomadas de forma ad hoc apenas por determinados presidentes. Vargas, por exemplo, se entretinha diretamente com vários embaixadores, seja aqueles enviados especialmente por ele mesmo – e que não eram de carreira – seja com diplomatas de carreira, com os quais ele mantinha correspondência pessoal e distinta da série de expedientes oficiais do Itamaraty. No curso da República de 1946, ou durante o regime militar, diplomatas trabalharam ocasionalmente na Presidência da República, em geral no âmbito da Casa Civil, mais para assessorar o ministro em temas internacionais, não necessariamente o presidente. Na redemocratização, em 1985, se instituiu de forma mais ou menos improvisada “uma” assessoria especial, que funcionou inteiramente e exclusivamente com diplomatas até os governos de Fernando Henrique Cardoso: todos mantiveram um padrão de comportamento bastante discreto e uma atuação em perfeita sintonia com o Itamaraty, como seria de se esperar de diplomatas profissionais.
A grande mudança ocorreu justamente na era do lulopetismo presidencial, ainda que o apparatchik do PT ali colocado tenha se cercado de vários diplomatas porque ele mesmo – um ex-secretário de assuntos internacionais do PT durante longos anos – não tinha manifestamente competência para tratar da maior parte dos dossiês diplomáticos. Se tratava de uma espécie de “filtro” entre o Itamaraty e o presidente, este um grande ignorante nessa área, mesmo que tivesse mantido, desde seus tempos de líder sindical, muitos contatos na área do sindicalismo internacional (centrais estrangeiras) e até com o Partido Comunista Cubano, provavelmente um grande financiador do PT em seus anos iniciais (e talvez até mesmo a conquista do poder, para a qual deve ter colaborado).
O ex-secretário internacional do PT era justamente um homem de confiança dos cubanos, que o conheciam desde seus tempos de exílio durante boa parte do regime militar, como também era de “confiança” o principal “executivo” do partido, ex-líder estudantil treinado pela Inteligência cubana para permanecer “adormecido” durante a longa fase agônica do regime militar. Ambos foram responsáveis pela instalação e pelo funcionamento do Foro de São Paulo, uma entidade de monitoramento e controle de todos os partidos e movimentos de esquerda da América Latina pelo PCC, que passou a “guiar” – stricto et lato sensi – todas essas “correias de transmissão” na região, a partir de 1990, quando a falência do velho centro comunista na URSS se tornou inevitável e inexorável. Este aspecto do “movimento comunista regional”, na América Latina, não está ainda adequadamente coberto pela historiografia disponível – da mesma forma como o foi, por exemplo, o comunismo internacional a partir da URSS e da China – e pouco se sabe, na literatura da área, ou no jornalismo especializado, em torno da influência real e dos vínculos operacionais entre o PCC e suas “antenas” na região.
O fato é que, de uma forma ou de outra, o apparatchik do PT na Presidência da República estava ali não só para controlar o Itamaraty (em nome do partido ou de outros esquemas ainda não identificados), como também para desempenhar ou se encarregar diretamente de algumas tarefas que muito raramente deixaram traços documentais nos expedientes oficiais do Itamaraty. Devido a uma provável insuficiência linguística, ou uma notória “vantagem comparativa” em assuntos da própria região, esse assessor logo passou a ser conhecido – meio jocosamente, meio a sério, tanto por jornalistas como entre os próprios diplomatas – como o “chanceler para a América do Sul”, condição expressamente reconhecida pelo presidente Lula numa de suas inúmeras arengas improvisadas no próprio Itamaraty. A distinção entre a diplomacia oficial do Itamaraty, ou seja, aquela que cuida das relações entre Estados, e uma outra, “paralela”, voltada para as “relações com os partidos de esquerda da região”, está justamente documentada em discursos feitos pelo próprio presidente Lula durante comemorações do Dia do Diplomata, sempre da mesma forma improvisada e jactanciosa que o caracterizava.
Independentemente do desempenho de missões oficiais por parte desse assessor, subsistem inúmeras lacunas sobre como foi feita a tomada de determinadas decisões no âmbito da diplomacia regional. É um fato que algumas dessas missões assumiram grande relevância nessa diplomacia regional ao longo dos trezes anos de presença do assessor no palácio presidencial, em especial em direção de Cuba e dos países ditos “bolivarianos”. Tal relevância pode não ter sido intrínseca a uma agenda própria ao Itamaraty, o que não impediu alguns desses temas de se converterem em importantes dossiês diplomáticos nesses anos, uma vez que a política externa destoou dos padrões habituais do Itamaraty, ao ter sido partidarizada, como já enfatizado diversas vezes (são inúmeros as matérias de jornalistas, assim como trabalhos meus, a esse respeito).
Esse aspecto merece ser devidamente registrado, uma vez “extirpada” – pelo menos temporariamente – a política externa partidária, uma vez que ele pode passar ao largo da literatura da área, sem o devido registro pelos historiadores (e não é seguro que subsista suficiente documentação disponível a respeito de alguns dossiês). Em qualquer hipótese, no que se refere ao caráter dessa política, existiam diversos “canais” através dos quais a política externa partidária fluía do palácio presidencial, ou do próprio PT em direção do Itamaraty ou para outras agências (ministérios setoriais, o BNDES para certas funções, ou uma companhia estatal, para outras), por intermédio de personagens conhecidos ou até de pessoas ou entidades pouco identificadas. Hipoteticamente, poderia até não existir “um” assessor presidencial em temas de política externa, o que foi o caso em outras eras, como já registrado. Nos governos militares. a figura não existia: o presidente Geisel, por exemplo, despachava diretamente com o chanceler Azeredo da Silveira os assuntos de política externa, e o ministro Leitão de Abreu tinha vários diplomatas na Casa Civil porque gostava, não porque existisse uma assessoria com essa finalidade. A política externa, durante todo esse período, era a do presidente e a do Itamaraty, com uma grande ênfase institucional, como se sabe.
Na era lulopetista, ao contrário, a política externa foi a do PT, não do Itamaraty, em temas de interesse do partido, do presidente, ou de outros interesses que caberia um dia esclarecer devidamente. A assessoria presidencial em matéria de política externa pode ter sido relevante, no caso da personalidade em questão (por força de certos vínculos externos mantidos por essa figura), mas isso não eximiu a diplomacia de ser partidária (uma vez que, no fundo, se tratava provavelmente não de uma conveniência, mas de uma necessidade política e operacional). A rigor, esse tipo de assessoria não precisasse existir, se o ministro fosse diretamente um quadro petista. Ocorreu, no caso, que o PT não dispunha (e ainda não dispõe) de gente competente nessa área, por isso teve de recorrer a diplomatas profissionais para exercer o cargo, servidores que concordaram com, ou aplicaram, a política externa do PT, com alguns matizes setoriais.
O que é importante registrar, para fins de possíveis trabalhos futuros no terreno historiográfico ou mesmo na área da ciência política, é que a era lulopetista foi de uma enorme obscuridade no tratamento de muitos assuntos de Estado, e não apenas na esfera diplomática e na da política externa, como agora se constata pelos inúmeros casos de corrupção vindo à tona. Quem poderia imaginar, alguns anos atrás, que a Petrobras estava sendo assaltada na proporção gigantesca, em bilhões de dólares, e na extensão inédita, em praticamente todos os investimentos e atividades, a partir das quais ela foi literalmente destruída? Quem imaginava quanto dinheiro da corrupção fluiu para os cofres do partido e de seus dirigentes corruptos nesses anos todos, concretamente desde o início da era lulopetista? Em todo caso, o registro completo das muitas atividades da assessoria presidencial em temas internacionais ainda está para ser feito. Entretanto, ele talvez nunca venha a ser feito, por inúmeras e óbvias razões.
O Itamaraty não esteve diretamente envolvido nas muitas falcatruas lulopetistas – certamente devido a seu corpo de profissionais, e na ausência de alocação de recursos para “investimentos” próprios – mas não se pode deixar de registrar que ele também foi utilizado indevidamente pelos petistas, a começar pelo presidente, por exemplo em suas viagens literalmente de “negócios” (até como ex-presidente). Passaram também pelos canais oficiais, operações bizarras, como a “importação” algo esdrúxula de médicos estrangeiros (na verdade uma cobertura para a remessa de dinheiro do Brasil aos “companheiros cubanos”, desesperados desde a derrocada econômica do chavismo).
O que significou para a diplomacia profissional o lulopetismo diplomático?

O presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, na embaixada brasileira em Tegucigalpa (2009)
Começaria por destacar o próprio rótulo que tentaram colar à política externa, feita de gestos histriônicos conduzidos pelo “nosso guia” no cenário internacional, com a assessoria de alguns diplomatas profissionais convertidos em fieis servidores da causa: ela teria sido “ativa, altiva e soberana”, como não se cansava de repetir um dos chefes dessa diplomacia feita de muita publicidade em causa própria e de poucas explicações sobre as razões de determinadas ações jamais explicadas ao Congresso ou à cidadania. Por exemplo: como o ex-presidente Zelaya, deposto numa operação confusa por parte das forças armadas de Honduras, adentrou realmente nossa embaixada na capital do país? Ou como se processou, efetivamente, a expropriação de ativos da Petrobras na Bolívia, em total descumprimento das normas mais elementares do direito internacional e na ausência de uma ação mais vigorosa por parte da diplomacia brasileira? Como se permitiu à Argentina derrogar durante muitos anos às regras de política comercial do Mercosul, em detrimento de exportações brasileiras? Como o tratado de Itaipu foi alterado para permitir novas generosidades a partir de recursos nacionais? Por que supostas “assimetrias” no Mercosul precisam ser cobertas, à razão de 70%, com verbas brasileiras, quando o país mantém assimetrias muito mais graves em seu interior? São muitos os casos obscuros na diplomacia na era lulopetista, o que não a impediu de continuar a ser classificada de “ativa e altiva” (e soberana), para gáudio dos neófitos.
Quando se tem a preocupação de grudar um ou dois rótulos à diplomacia, que geralmente dispensa qualificações quando é exercida dentro dos parâmetros normais da ação estatal, é porque, no plano psicológico, já se sente a necessidade de justificar as escolhas feitas, provavelmente pelo pressentimento de que elas não se moldam ao que se tinha habitualmente como padrão de um relacionamento externo normal. Esta foi justamente a atitude dos lulopetistas – diplomatas ou não – em relação a temas que deixaram cicatrizes no estabelecimento diplomático, a começar por uma estranha “diplomacia Sul-Sul” que partia, não de um exame tecnicamente isento da agenda externa do país, mas de uma escolha prévia, deliberada e totalmente ideológica, por alianças internacionais, ditas “estratégicas”, que premiavam parceiros considerados “anti-hegemônicos”, em contraposição às posições tradicionais do Itamaraty. Este sempre se pautou por recomendar um relacionamento externo não discriminatório nos planos geográfico e político, em função unicamente dos interesses do país, e certamente olharia com estranheza essa tentativas ingênuas e canhestras de “mudar a relação de forças no mundo”, ou de criar uma também bizarra “nova geografia do comércio internacional”, geralmente com resultados frustrantes e sempre patéticos.
A soberania do país foi exatamente a mais comprometida por uma série de escolhas que invariavelmente primavam por um anti-imperialismo infantil, por um antiamericanismo anacrônico e por um apoio indisfarçável a uma das ditaduras mais longevas na região e no mundo, sem mencionar os regimes populistas-autoritários, ideologicamente beneficiários da tradicional postura diplomática, aliás consagrada num dos mais sagrados princípios constitucionais – o da não intervenção nos assuntos internos dos demais países – que sempre levou o Itamaraty a nunca fazer considerações de natureza política sobre suas escolhas eleitorais. Para o lulopetismo, essa coisa de “não intervenção” nunca valeu para regimes amigos e aliados ideológicos, por motivos de clara identidade política (ou por outras razões, não exatamente transparentes).
O vistoso condutor da nação, nos momentos de campanhas presidenciais em países vizinhos, nunca deixou de emprestar seu apoio político – quando não o dinheiro da nação – aos candidatos que ele julgava merecedores dessas bizarras “alianças estratégicas”, invariavelmente completadas por financiamentos ultra-favorecidos raramente questionados pelo corpo parlamentar. Os muitos casos de empréstimos “secretos” a “parceiros estratégicos”, ou simples aliados ideológicos, é um dos inúmeros exemplos de operações carentes de qualquer transparência e, provavelmente até, de amparo legal em normas constitucionais e disposições legais no plano financeiro.
O Mercosul, um projeto basicamente de abertura econômica e de liberalização comercial, e de formação de um espaço integrado com os vizinhos do cone sul, foi desviado de seus objetivos essenciais (expressos no artigo 1o. do Tratado de Assunção), e convertido num empreendimento político que serviu unicamente de palanque para a retórica vazia dos lulopetistas, com um recuo notável nos padrões de funcionamento, uma vez que a administração petista condescendeu com as violações cometidas contra o livre comércio e a união aduaneira que deveriam servir de regras fundamentais para a sua existência. Não se descobrirá, por outro lado, qualquer iniciativa na frente externa que tenha descontentado as lideranças castristas ou bolivarianas, invariavelmente beneficiadas pelo apoio político ou financeiro do lulopetismo diplomático.
Certamente que o Itamaraty por si próprio não teria apoiado determinadas escolhas – na Bolívia, em Honduras, na Venezuela, ou no Paraguai – que foram decididas exclusivamente no círculo restrito dos apparatchiks petistas, sem o devido registro nos expedientes diplomáticos e nos arquivos da Casa. A suspensão ilegal do Paraguai do Mercosul – porque sequer amparada nas normas do Protocolo de Ushuaia, que regulam a cláusula democrática do bloco – requer um reexame de todo o processo, mesmo que fosse para um simples registro factual dos eventos, e de algumas das conversações mantidas na ocasião. O importante tema do devido registro documental de cada trâmite diplomático merece uma seção especial, ainda que fosse por um simples procedimento burocrático, como justamente agora se argumenta.
O que resultou, finalmente, do lulopetismo diplomático?
Pode-se imaginar como futuros historiadores interpretarão – se forem capazes – certas decisões tomadas nesses anos obscuros, na ausência de um processo diplomático de exame circunstanciado da cada ação empreendida na frente externa. Como e por que, por exemplo, se decidiu suspender o Paraguai do Mercosul, na ausência completa de uma estrita observância dos próprios rituais do Protocolo de Ushuaia, sobre a cláusula diplomática do bloco? Como, e sob quais justificativas, se decidiu admitir politicamente a Venezuela no mesmo bloco, se ela jamais cumpriu qualquer um dos requisitos simplesmente técnicos de sua adesão à união aduaneira do Mercosul, sem mencionar o lado bem mais grave da observância de padrões aceitáveis no plano da democracia? Que tipo de acordo foi feito com a governo cubano para repassar um volume expressivo de recursos para aquele regime (seja para o porto de Mariel, seja para outras transferências altamente suspeitas), se o Parlamento não foi chamado a examinar e dar a sua chancela a esses “encargos gravosos” no plano externo, como o determina a Constituição? Esses são apenas alguns dos muitos casos sobre os quais existem dúvidas sobre se foram, de fato, respeitados os padrões habituais do acatamento do Itamaraty às regras do direito (administrativo ou qualquer outro) que sempre pautaram a atuação da Casa de Rio Branco ao longo de sua história quase bicentenária.
Uma característica que sempre marcou a diplomacia lulopetista – consoante o caráter desonesto do partido e de seus dirigentes em todas as demais frentes, de sempre buscar apontar alguma “traição” anterior, ou alguma “herança maldita”, que lhes teria sido deixada como um grande obstáculo às suas magníficas realizações – foi a de inventar uma suposta submissão do “antigo regime” a ditames externos, a regras impostas por um fantasmagórico Consenso de Washington, ou quaisquer outros compromissos negociadores externos. A transferência de responsabilidades começou logo na campanha eleitoral, ou imediatamente no seu seguimento, uma vez que a deterioração da situação econômica do Brasil, durante os meses da campanha eleitoral de 2002 só existiu por que os mercados temiam, justamente, os possíveis efeitos de uma política econômica esquizofrênica que os aprendizes de feitiçarias econômicas do PT tinham se encarregado de propagar durante os meses anteriores ao pleito presidencial (em especial no chamado “programa de Olinda”, de dezembro de 2001).
Uma vez chegados ao poder, eles foram logo se empenhando na implosão da Alca, a proposta americana de uma zona de livre comércio hemisférica, que seria, nas palavras do líder simplificador, não uma iniciativa de integração, mas um “projeto de anexação”. A oposição de princípio ao acordo em negociação foi feita não porque os economistas e diplomatas comprometidos com essa linha redutora tivessem conduzido detalhados estudos técnicos, de simulação econômica, sobre os efeitos de um tal acordo para o Brasil, mas apenas porque, ideologicamente, eles eram contra tudo o que pudesse provir do gigante do norte, ou que tivesse sido legado pelo regime “submisso” anterior.
No lugar do famigerado projeto imperialista de anexação, os lulopetistas decerto esperavam maravilhas de um hipotético acordo entre a União Europeia e o Mercosul; o “Nosso Guia” chegou até a propor um acordo de livre comércio entre o bloco do Cone Sul e a China, como se esta fosse a solução para todos os problemas externos do Brasil e do Mercosul. Deve-se reconhecer que os companheiros conseguiram o seu intento, não exatamente o livre comércio com a União Europeia – uma ilusão de ingênuos e de amadores – e menos ainda tal tipo de arranjo com a China, mas obtiveram, de fato, a implosão da Alca, transformada em um protótipo de dragão da maldade imperialista.
Os estrategistas companheiros também ficaram iludidos pela possibilidade de o Brasil ser admitido como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidos, uma verdadeira obsessão para alguns, numa outra suprema demonstração de irrealismo e de total falta de prioridades para a agenda externa do Brasil. Em nome desse objetivo, o supremo mandatário saiu pelo mundo perdoando dívidas bilaterais de ditadores do petróleo e prometendo apoio político para os mesmos inimigos das liberdades e dos direitos humanos. Aliás, manter amizade com ditaduras confirmou-se como uma mania dos companheiros, sempre dispostos a tratar com complacência os piores perpetradores de atentados aos direitos humanos e valores democráticos.
No “antigo regime tucanês”, o Brasil apenas se abstinha nas discussões e votos a respeito dos casos mais politizados nessas matérias nas instâncias da ONU: a partir de 2003, o país passou a votar ativamente em favor dos violadores de direitos humanos e dos inimigos da democracia ao redor do mundo. Não se está aqui inventando nada: basta conferir os votos envolvendo alguns desses países. O embaixador político enviado pela diplomacia lulopetista a Havana até chegou a defender o fuzilamento de simples balseiros que tentavam fugir da ilha-prisão da qual os companheiros sempre gostaram (a ponto de financiá-la fartamente quando a situação falimentar do socialismo bolivariano diminuiu o subsídio ao regime cubano). Um ministro da Justiça devolveu à ditadura cubana – em avião imediatamente providenciado pelo caudilho bolivariano –, dois boxeadores cubanos que solicitavam asilo no Brasil durante uma competição esportiva.
Um outro comportamento inadequado do ponto de vista dos interesses do Brasil, sob qualquer critério que se julgue, foi o abandono da agenda comercial do Mercosul, em favor de uma agenda política que poucos progressos trouxe ao bloco; ao contrário, fê-lo retroceder tremendamente nos últimos dez anos. Ao pretender que o Mercosul não era só econômico ou apenas comercial, e que ele deveria também avançar nos terrenos político ou social, não constituiu apenas uma impropriedade semântica, mas representou um crime econômico contra o bloco, e isso a mais de um título. O Mercosul é, antes de mais nada, um tratado de integração comercial, e se fundamenta, basicamente, na abertura econômica recíproca, na liberalização comercial, e na plena integração produtiva do bloco ao resto do mundo, ponto. É isso que está escrito em seu tratado constitutivo e é essa agenda pela qual os países deveriam se bater em suas políticas comercial e industrial.
Nada disso se fez na lula-década, ao contrário. Durante todo esse tempo, o bloco só recuou na liberalização interna e na abertura externa, voltando a ser o avestruz temeroso que os países membros eram nos tempos pouco gloriosos do protecionismo comercial e da introversão econômica. Como resultado dessas políticas, o Mercosul recuou relativamente na pauta comercial externa do Brasil, deixando de ser o indutor de economias de escala e de modernização tecnológica e de inserção na economia mundial, objetivos para os quais ele foi concebido originalmente. Não bastasse esse clamoroso desvio das metas originais do bloco de integração, a criação de um Fundo para a Correção de Assimetrias Estruturais no Mercosul (Focem), financiado a 70% pelo Brasil, representou um outro equívoco monumental de compreensão do que sejam assimetrias estruturais, e quanto à ilusão de “superá-las” pela ação sempre canhestra dos governos, num completo abandono dos critérios de mercado.
Em diversas outras vertentes, os rumos sensatos da diplomacia profissional foram bastante afetados por um extremo personalismo presidencial, e tudo passou a girar em torno da figura retumbante do “nosso guia”, apresentado pela publicidade do regime como um líder das nações periféricas – ou seja, aquelas exploradas pelo imperialismo de nações hegemônicas –, o estadista que iria comandar uma cruzada contra o unilateralismo arrogante dessas grandes potências, até conseguir “mudar a relação de forças no mundo” e “inaugurar uma nova geografia do comércio internacional” (esses objetivos correspondem a projetos políticos refletidos em frases efetivamente pronunciadas pelos promotores do lulopetismo diplomático).
Em nome de tais objetivos, iniciativas de grande envergadura foram adotadas, para as quais se mobilizaram recursos materiais e humanos em abundância, sempre com o objetivo de exaltar a figura do chefe e seus discursos de sindicalista universal. Tudo começou pela tentativa de se implantar um Fome Zero Universal, quando sequer o brasileiro deu certo, e foi logo abandonado e substituído pela assemblagem de todos os programas sociais existentes desde o governo anterior, apenas rotulando-os com um novo nome e aumentando o poder de fogo do curral eleitoral então criado. A pretensão de universalizar um Fome Zero inexistente no Brasil – aliás contra recomendações de vários órgãos da ONU, como o PNUD, ou o Programa Mundial de Alimentos – resultou pateticamente no simples financiamento da aquisição de medicamentos contra a Aids em benefício de países africanos, mediante um novo imposto sobre transportes aéreos que sequer foi implementado pelo próprio Brasil.
A máquina do lulopetismo diplomático teve continuidade pelas duas ambiciosas iniciativas de unir as “nações periféricas” – representadas por países da África negra e da comunidade árabe – em grandes conclaves de chefes de Estado das duas regiões com seus contrapartes da América do Sul, em função das quais imensos esforços e recursos foram dispendidos, sem que resultados concretos tenham emergido de ambos projetos típicos da megalomania lulopetista. Esforços paralelos foram encetados em direção de parceiros “estratégicos” pré-selecionados segundo a míope “diplomacia Sul-Sul”, da qual resultaram dois foros de consulta e coordenação de políticas: o IBAS – juntando Brasil, Índia e África do Sul – e o Bric – os dois primeiros, mais China e Rússia, ao quais se agregou mais tarde a África do Sul, formando então o Brics. Esses foros representaram novas e custosas arquiteturas burocráticas caracterizadas pelo “mínimo denominador comum” de posições (de resto, nunca parcialmente convergentes, a não ser com muito esforço reducionista, justamente), em mais uma tentativa de oferecer alternativas ao “mundo das potências dominantes” (representado pelo G7) e ao “clube dos países ricos” (representado pela Ocde).
O último esforço de megalomania mal concebida do lulopetismo diplomático – ainda na gestão do demiurgo, uma vez que sua sucessora se absteve de qualquer nova iniciativa –foi representado pelo rapidamente desmantelado acordo tripartite Brasil-Turquia-Irã em torno do programa nuclear do país persa. O acordo, desonestamente apresentado por seu principal arquiteto – o chanceler oficial do lulopetismo – como sendo apenas e tão somente a realização dos objetivos de controle desse programa pelo P5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Alemanha), atendia apenas aos interesses do Irã, quando o P5+1 sempre sinalizou com metas bem mais intrusivas de inspeções e monitoramento de atividades do que o obtido pelos três aliados de ocasião. Essa iniciativa, somada à atitude claramente pró-Rússia, tomada já no terceiro governo lulopetista, quando da discussão da invasão da Criméia pelo aliado no Brics levada a cabo na ONU, provavelmente enterrou por algum tempo qualquer pretensão do Brasil a conquistar uma cadeira permanente no CSNU.
Como a história registrará a esquizofrenia do lulopetismo diplomático?
A história nem sempre é escrita pelos vencedores, ao contrário do que se crê. A história do regime militar de 1964-85 foi largamente construída, mesmo durante a sua vigência, pelas forças derrotadas naquele momento inicial, e que continuaram criando uma versão que resultou bem sucedida – com bastante sucesso, aliás – pela mãos dos mesmos “fabricantes acadêmicos” de história aliados ou simpáticos ao lulopetismo, quando não trabalhando diretamente para ele, enquanto governo, como foi o caso da chamada “Comissão da Verdade”, um dos muitos exemplos de construção de mitos e de confirmação de interpretações parciais do processo histórico.
Com o lulopetismo em sua vertente diplomática deve ocorrer algo similar: a versão comumente propagada, presente em praticamente todos os cursos de relações internacionais de nossas faculdades, e maciçamente reproduzida na produção escrita circulando fartamente nos mais diversos veículos abertos a essa entidade vaga e difusa chamada de “comunidade epistêmica de relações internacionais”, é justamente aquela produzida e difundida pelos sustentadores do mito lulopetista diplomático. E qual seria esse mito: o de que, a partir de 2003, a diplomacia “ativa e altiva” rompeu com a antiga e vergonhosa submissão e alinhamento do Brasil às potências dominantes, conduziu um bem sucedido esforço de construção de alianças nessa construção mental conhecida como “Sul Global”, empreendeu um processo de acumulação de forças com parceiros “estratégicos não-hegemônicos”, e ampliou consideravelmente a projeção mundial do Brasil, graças a uma estratégia de recomposição de parcerias no âmbito das novas potências “emergentes”, conseguindo, finalmente, alterar, ainda que parcialmente, a relação de forças no cenário internacional, ademais de ampliar consideravelmente o leque dos intercâmbios econômicos como resultado da atilada diplomacia Sul-Sul.
Os conceitos acima podem parecer estereótipos, mas eles foram de fato esgrimidos, em diferentes ocasiões, e pelas diversas “cabeças pensantes” (elas eram várias) do lulopetismo diplomático, buscando justamente construir essa versão da história que encontra grande ressonância nas academias e em diversos círculos vinculados de uma forma ou de outra às relações internacionais do Brasil. Trata-se de uma construção discursiva que deve continuar a consolidar um espaço explicativo e interpretativo relativamente importante – mesmo numa fase de lulopetismo declinante –, e como tal impor-se como a versão mais fiável da história diplomática brasileira neste início de milênio.
É com base nessa percepção que, ao início deste depoimento, o autor explicitou sua opinião quanto à capacidade de resiliência do lulopetismo, especialmente em sua vertente diplomática, uma vez que ele se encaixa num molde histórico que é um “social constructo” aparentemente dominante nas academias, combinando um discurso de feição autonomista e nacionalista, tomando apoio numa suposta resistência de países periféricos às investidas de potências hegemônicas. Este foi, em resumo, o mito do lulopetismo diplomático, alimentado pelos dirigentes partidários e sustentado pelos seus aliados diplomáticos, sem esquecer a vasta comunidade dos gramscianos de academia, que pensam exatamente isso das relações internacionais do Brasil e de sua diplomacia.
Em face desse tipo de constatação, o autor deste depoimento igualmente exótico – pois que interno à diplomacia profissional, mas igualmente inserido nos ambientes acadêmicos onde o mito é produzido e a partir dos quais se propaga, e também sabedor de como pensam, como agem, o que fizeram e o que fazem os representantes do partido neobolchevique agora afastado do poder – não tem nenhuma ilusão de que uma versão equilibrada da história possa prevalecer no futuro previsível. A bem da verdade, o país continuará dividido, até onde a vista alcança, por visões dicotômicas do que foi, do que é a política atualmente, e do que deveria ser uma política externa compatível com cada uma dessas posturas contrapostas.
Um depoimento como este, fortemente contrastante com a interpretação política dominante nas duas últimas décadas, possui um modesto poder corretivo sobre aqueles que aderem, segundo o título desta seção, à esquizofrenia do lulopetismo diplomático. Mas ele é feito, ainda assim, como uma contribuição de oportunidade, mesmo pequena, a um esforço futuro de construção de um discurso alternativo – ao qual este autor não estará certamente alheio – à dominância atual do gramscismo acadêmico no campo dos estudos de relações internacionais e de política externa do Brasil, sobretudo em sua vertente historiográfica (mas eventualmente também nas monografias temáticas de ciência política). O autor deste depoimento tem consciência da baixa receptividade desse tipo de discurso – de condenação total do lulopetismo como regime político, e de recusa absoluta de toda a sua mitologia diplomática – em face do padrão interpretativo prevalecente atualmente nos meios que frequenta, inclusive o diplomático. Mas ele o faz, de toda forma, como uma espécie de desencargo de consciência ou, simplesmente, como um reconhecimento da necessidade imperiosa de que a honestidade intelectual possa prevalecer sobre mitos tão corriqueiramente servidos nesses meios, em especial e principalmente no contexto profissional e acadêmico que foi o seu nas últimas décadas.
Vale!
Paulo Roberto de Almeida
Diplomata de carreira, doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas e professor no Centro Universitário de Brasília. Autor, mais recentemente, de Nunca antes na diplomacia.