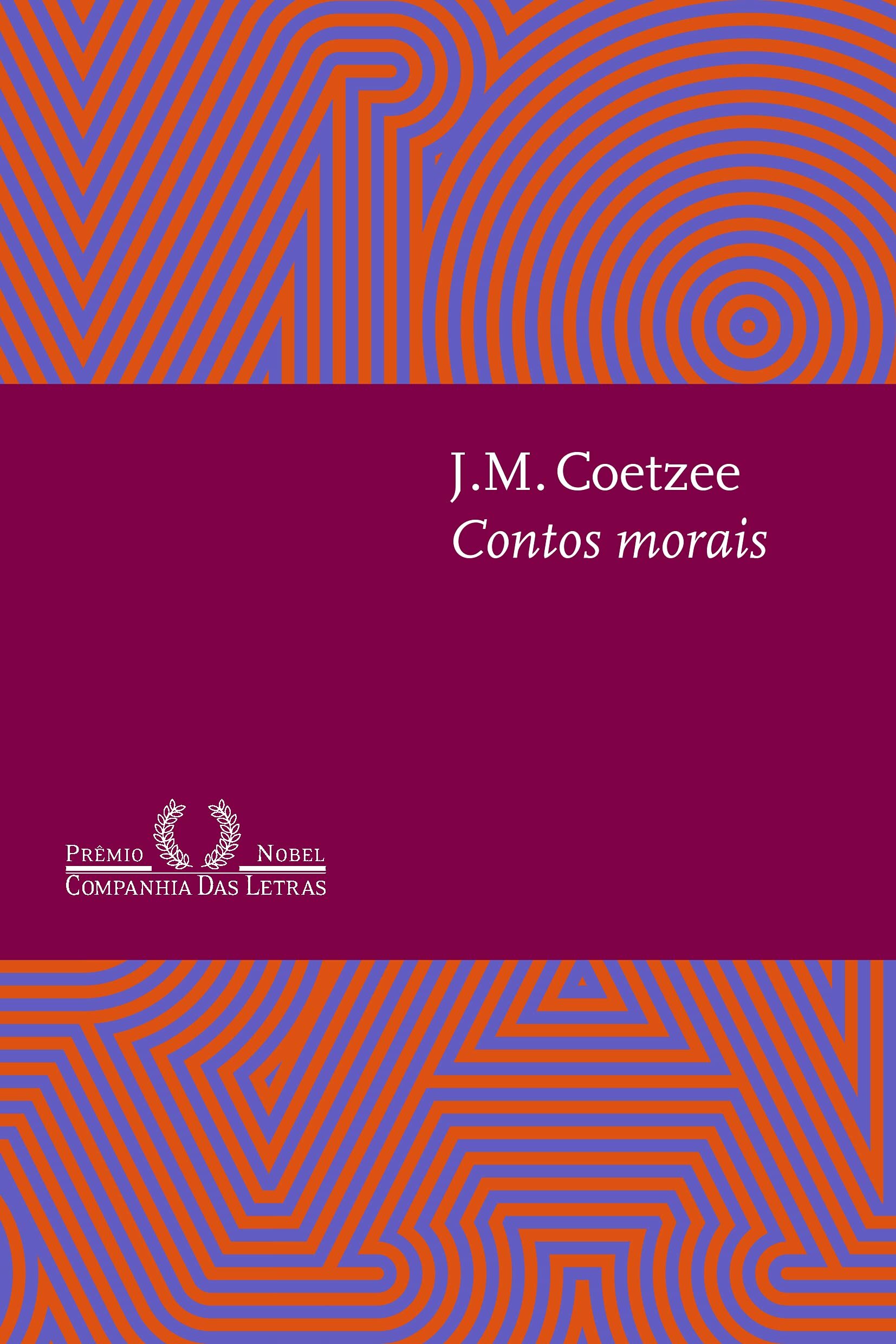O livro é, antes de tudo, um ensaio sobre escritores e seus registros históricos.
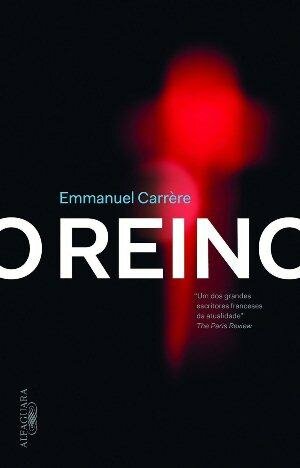
“O Reino”, de Emmanuel Carrère (Alfaguara, 2016, 462 páginas)
No livro V da Odisseia, Ulisses naufraga na ilha de Ogígia e ali fica preso durante sete anos. O local é banhado por água cristalina e possui pradarias cobertas de violetas e aipo silvestre em todas as estações do ano. É a própria versão terrena do paraíso, sendo habitada por Calipso, uma ninfa deslumbrante que promete ao viajante nada menos que a eternidade. Ou: não apenas a eternidade, mas a conservação da juventude e do viço que humano algum consegue manter – muito menos sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco, que esperam Ulisses na pedregosa ilha de Ítaca. Se ficar com Calipso, ele não morrerá jamais. Se voltar para casa, retornará à imperfeita, fugaz e decepcionante vida dos homens.
E Ulisses decide voltar.
Com essa escolha, o herói aponta que a sabedoria é estar sempre voltado à condição humana e ao mundo em que vivemos. A vida do homem existe, é um fato concreto, enquanto a existência dos deuses não compete a nós. E mais vale um sofrimento autêntico do que uma felicidade ilusória.
*
E quem decide pelo caminho oposto? Quem opta por aceitar a promessa da vida eterna e conclui que o essencial está em outro lugar – pois entende que o paraíso, longe de ser uma ficção, é realidade?
Emmanuel Carrère escolheu essa direção durante um breve período de sua vida. No início da década de 1990, o escritor francês – até então ateu convicto – converteu-se ao cristianismo. Lançou-se à “intuição misteriosa que, eu me dizia, um dia revelaria outro tipo de sentido, e um bem melhor”, como explica no início de O Reino. Dois ou três anos depois, “sequer com fé suficiente para ser ateu”, assumiria a condição de agnóstico.
Mesmo cético, o autor seguiu obcecado pelo tema. O Reino é o retrato disso: escrito ao longo de sete anos, faz um apanhado histórico, ensaístico e confessional de leituras do Novo Testamento – mais especificamente, dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho segundo Lucas.
*
Ambos os livros são narrativas atribuídas a São Lucas, que pode ser considerado o primeiro historiador cristão. Grego instruído, médico de vida confortável, conhece um controverso e intenso rabino chamado Paulo – antes Saulo de Tarso, depois São Paulo – na sinagoga da cidade de Trôade. Após a leitura da Lei e dos Profetas, o judeu toma a palavra para anunciar que, da descendência de Davi, o Senhor fez nascer o Salvador, e que esse Salvador se chama Jesus, morto na cruz e ressuscitado no terceiro dia.
A pregação causa reações extremas: parte dos ouvintes se entusiasma, enquanto o resto proclama blasfêmia. Lucas faz parte de um terceiro grupo de pessoas: aquelas que não se indignam nem se jogam de joelhos, mas sentem o impulso por saber mais sobre a tese. E assim o faz, até passar a crer e a seguir a delegação missionária de Paulo.
Fica evidente a proximidade que Carrère sente do santo evangelista – e assim entendemos por que esses livros específicos da Bíblia foram os escolhidos para serem esquadrinhados. Num paralelo que se sobressai ao longo de O Reino, o escritor possui a mesma curiosidade intelectual e o estilo discreto de Lucas; tem certo enfado pela teologia, pois o interesse maior estava nos traços pessoais daqueles que a pregavam.
Paulo, por sua vez, pode ser visto como a madrinha de Carrère, que o introduziu à sua breve incursão ao cristianismo – uma espécie de guia que mostrou o Caminho, ainda que com boa dose de histrionismo e insensatez. O francês chega a imaginar a noite de Lucas após seu primeiro encontro com Paulo:
A insônia, a exaltação, as horas que passou vagando pelas ruas brancas e geométricas de Cesareia. O que me permite imaginar isso são os momentos em que eu mesmo percebi que havia um livro a ser escrito. […] Sei que é bom desconfiar das projeções e dos anacronismos, no entanto tenho certeza de que houve um momento em que Lucas ruminou que aquela história precisava ser contada e que ele ia fazê-lo.
E aí chegamos ao ponto central de O Reino. O livro não é, fundamentalmente, uma obra sobre religião – nem sequer sobre a vida de Jesus Cristo ou de seus primeiros seguidores. É, antes de tudo, um ensaio sobre escritores e seus registros históricos – e sobre o papel que estes exercem sobre aqueles.
Ou haveria outra razão para se debruçar sobre a vida de Paulo? Aquele que escreveu e enviou a igrejas de todo o mundo uma série de epístolas, boa parte das quais com a autenticidade reconhecida mesmo pelos historiadores mais céticos – “tratados de teologia”, para teólogos; “fontes de um frescor e riqueza incríveis”, para historiadores. Aquele que sequer conheceu Jesus de Nazaré em carne e osso e, mesmo assim, levou sua palavra em longas missões.
Paulo escrevia para manter contato com as igrejas que erigira e para espalhar a boa nova; Lucas, para compor uma narração dos fatos que ouvira. Este era um repórter, um cronista, um investigador, enquanto aquele era um pregador e um líder. E Carrère? Ele que diz não acreditar que Jesus tenha ressuscitado de fato. Por que, então, escreveu uma obra de quase 500 páginas sobre o assunto? Que ele, em um momento de sua vida, tenha acreditado nisso – que seja possível crer que um homem tenha voltado dos mortos, isso o intriga e fascina. E mais: isso o coloca em dúvida. “Escrevo este livro para não achar que, deixando de crer, sei mais sobre isso do que aqueles que creem e do que eu mesmo quando acreditava. Escrevo este livro para duvidar da minha própria opinião.”
*
Chegar a essa conclusão é, no mínimo, uma prova de honestidade intelectual. Leitor de Friedrich Nietzsche, Carrère inicia o livro falando do estupor ao pensar que muitas pessoas ainda acreditam em tudo isto: na Igreja, no Credo, na ideia de que um judeu de dois mil anos atrás nasceu de uma virgem, ressuscitou três dias após ter sido crucificado e retornará para julgar os vivos e os mortos. O filósofo alemão é uma espécie de espírito zombeteiro que o horroriza e o encanta, murmurando ao seu ouvido que “desejar ser glorioso ou poderoso, […] desejar ser admirado pelos seus semelhantes, ou desejar ser rico, ou seduzir todas as mulheres, talvez sejam aspirações grosseiras, mas ao menos visam a coisas reais”.
[Essas cobiças] desdobram-se num terreno em que podemos ganhar ou perder, vencer ou ser vencido, ao passo que a vida interior no modelo cristão é sobretudo uma técnica habilidosa de impingir histórias que nada ameaça contradizer e de fazer com que a pessoa apareça em todas as circunstâncias interessante aos próprios olhos. Ingenuidade, covardia, vaidade de pensar que tudo o que nos acontece tem um sentido. De interpretar tudo em termos de provas, idealizadas por um deus que programa a salvação de cada um como uma corrida de obstáculos. Os espíritos, diz Nietzsche, são julgados – e, ao contrário do que diz Jesus, é preciso julgar – por sua capacidade de não se deixar iludir, de gostar do real e não das ficções consoladoras com que o revestem. São julgados pela dose de verdade que são capazes de suportar.
Sete anos depois, o fantasminha de Nietzsche segue ao pé do ouvido de Carrère, mas seu canto já soa mais incompleto:
De minha parte, concordo com Nietzsche quando ele compara cristianismo e budismo e parabeniza o segundo por ser “mais frio, objetivo, verídico”, embora me pareça que, assim como ao estoicismo, falta ao budismo alguma coisa de essencial e trágico que está no coração do cristianismo e que o louco furioso Paulo compreendia melhor que ninguém. Estoicos e budistas acreditam nos poderes da razão e ignoram ou relativizam os abismos do conflito interior. Pensam que o infortúnio dos homens é a ignorância e que, se conhecemos a receita da vida feliz, bem, basta aplicá-la. Quando Paulo, contrariando todas as sabedorias, dita esta frase fulgurante: “Não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero”, quando faz essa constatação que nem Freud nem Dostoiévski conseguiram explorar até o fim e que ainda faz ranger os dentes de todos os nietzschianos de opereta, ele sai completamente do âmbito do pensamento antigo.
Se essa reavaliação é uma prova de honestidade intelectual, é também um exercício de humildade – e isso, sem dúvidas, toca profundamente Carrère. Há uma lição de Cristo, em especial, que o persegue: a de que o Reino é destinado aos pobres, humilhados, samaritanos, pequenos (e isso vai muito além do sentido social; lembremo-nos de que aí Marx ainda não deixara seu rastro pela terra). Ser rico, importante, inteligente e orgulhoso de sua inteligência (como o próprio escritor diz ser), enquanto isso, são os maiores obstáculos para se entrar no paraíso.
As escrituras de Paulo e Lucas refletem esse ensinamento, mas há outro personagem que exerce profunda influência em Carrère: Hervé Clerc, melhor amigo e também afilhado de sua madrinha cristã. Com ele, o francês despe-se da condição de sabe-tudo. Quando descambava à ironia e ao ceticismo, era o companheiro que contrapunha dizendo coisas como:
Você diz que não acredita na ressurreição. Ora, em primeiro lugar você não faz a mínima ideia do que isso significa, ressurreição. Depois, partindo dessa descrença, arvorando um saber e uma superioridade sobre as pessoas a que você se refere, você se proíbe qualquer acesso ao que elas eram e àquilo em que acreditavam. Desconfie desse saber. Não comece achando que sabe mais do que elas. Procure aprender com elas, em vez de bancar o professor. Isso não tem nada a ver com a ginástica mental de tentar acreditar em alguma coisa em que você não acredita. Abra-se ao mistério, em vez de descartá-lo a priori.
Carrère abriu-se a esse mistério no momento em que entendeu ser limitada a ideia de que toda doutrina filosófica ou religiosa não passa de uma excrescência do “eu” – uma forma peculiar “de se ocupar enquanto a morte não vem”, como em Nietzsche. Esse conceito, diz ele, pode até estar correto, mas ninguém tem como saber de verdade.
*
Há um paralelo entre a história do grego Lucas e do herói da Odisseia. Assim como Ulisses, o evangelista aceitou fazer parte de uma longa viagem, que o pôs ao mar e o levou a diversos cantos do mundo conhecido na época. Conhecera Paulo com vinte e poucos anos; voltara para casa entre quarenta e cinquenta. Metade de sua vida transcorrera em uma espécie de campanha de guerra – e, então, a casa em Filipos era a garantia de tranquilidade.
Lucas saiu de sua rotina de médico quase aposentado na Macedônia ao receber notícias de que a situação estava piorando para os rebeldes cristãos em Roma, sobretudo após a pilhagem de Jerusalém e a destruição do templo, no ano 70 do século I. No final daquela década, ele começa a escrever seu Evangelho – seu testemunho do que vira, ouvira, soubera e pensara.
Pintado por Rogier van der Weyden, São Lucas aparece em um quadro retratando a Virgem Maria ao amamentar o menino Jesus. Supõe-se que a fisionomia do santo seja um autorretrato do artista holandês – de rosto afilado, sério e meditativo. Carrère faz algo semelhante em O Reino: refletiu-se no evangelista para buscar, à sua maneira, alguma resposta àquilo que procura. Colocou-se no lugar dele, investigou seus passos e palavras para interrogar, a si mesmo, se a razão de viver acaba no momento da morte.
Trata-se de mais uma parte da jornada particular de Carrère, um homem que, mesmo se considerando agnóstico, vê-se às voltas com o Evangelho, seus mistérios e suas soluções. E ele sabe: “Nada me garante evidentemente que tal caminho me levará ao objetivo que desejo alcançar ao enveredar por ele – o conhecimento, a liberdade, o amor, que julgo serem uma única e mesma coisa. Mas não posso negar que estou nele, nesse caminho.”
Tomás Adam
Jornalista e empresário.
[email protected]