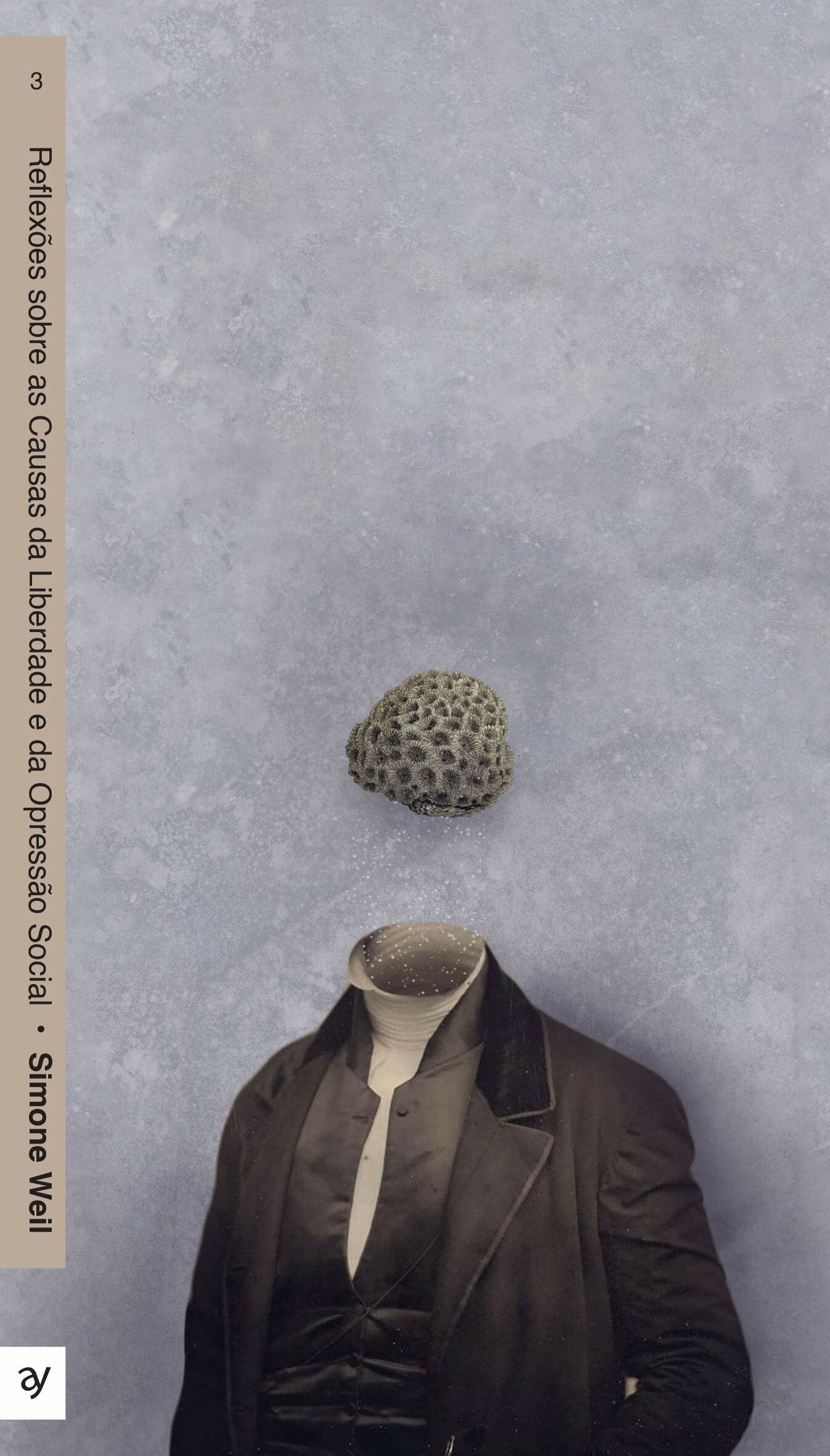Nas últimas décadas, os maiores representantes do comportamento do “anti-indivíduo” passaram a ser os artistas e intelectuais.

“O enigma Orides”, de Gustavo de Castro (Hedra, 2015, 240 páginas)
“Poesia completa”, de Orides Fontela (Hedra, 2015, 448 páginas)
4.
Em 1961, cinco anos antes de Orides Fontela publicar silenciosamente o seu primeiro livro de poesia, Transposição (1966-67), o filósofo britânico Michael Oakeshott escreveu um ensaio chamado “As massas em uma democracia representativa”. Nele, parte do seguinte raciocínio, inspirado no conceito de “massa” desenvolvido pelo espanhol José Ortega y Gasset no clássico A Rebelião das Massas: a de que o advento deste ente chamado “homem-massa” seria visto como o “surgimento mais significativo e abrangente dentro das revoluções da era moderna”, responsável “por ter transformado a maneira como vivemos, nossos padrões de conduta e a forma como fazemos política”. Para Ortega, o fenômeno do “homem-massa” é alguém que não aceita, sob nenhuma forma, que a condição humana é um constante naufrágio, e que a primeira vítima pode ser ele mesmo. Também aceita sem reclamações que a vida, afinal de contas, cresceu – com sua estabilidade econômica, números polpudos, prosperidade merecida – mas se recusa saber como isso aconteceu. E nisso trilha com contentamento a sua pequena existência, sem saber que existem outras pessoas que podem se diferenciar da aglomeração. Quando isso ocorre, logo a massa trata de agir, por meio de meios irracionais e vulgares, e ordena a sua visão sobre as coisas, que se aproxima de um totalitarismo alucinante, insistindo na característica do momento de que é “a alma vulgar, sabendo que é vulgar, [que] tem a coragem de afirmar o direito da vulgaridade e o impõe em toda parte”.
Oakeshott acredita que ver o mundo moderno por esse prisma não passa de um “exagero grotesco”. Assim, para consertar o que o filósofo espanhol disse, o britânico decide realizar uma “empreitada de descrição histórica” – na verdade, uma “longa história” que começa não na “Revolução Francesa (como querem alguns)” ou com “as mudanças industriais do fim do século XVIII e sim em meados dos séculos XIV e XV, nos períodos chamados ‘Humanismo’ e ‘Renascimento’ em que o que conhecemos hoje como ‘individualidade humana’” passou por “uma modificação das condições medievais de vida e pensamento”. Antes, o sujeito era reconhecido entre os outros por ser o “membro de uma família, de um grupo, de uma corporação, de uma igreja, de uma comunidade, de um vilarejo, de promotor de uma comarca ou de ocupante de um posto alfandegário” e, isto era até então, “para uma grande maioria, a soma circunstancialmente possível de autoconhecimento. E isso não se restringia ao ‘ganha-pão’, também englobava decisões, direitos e responsabilidades gerais. Relacionamentos e alinhamentos normalmente se originavam do status e coincidiam em seu caráter com as relações de parentesco. A maior parte das pessoas era anônima, ninguém se importava com o caráter individual. O que diferenciava um homem de outro era insignificante quando se comparava com os privilégios de fazer parte de um clube de qualquer espécie”.
A partir do Renascimento, o eixo de percepção de como o ser humano via a si mesmo passou a mudar lentamente. Oakeshott se baseia em Jacob Burckhardt para afirmar que, do século XIII em diante, especialmente na Itália, percebe-se algo novo – uma “onda de individualidade”, ou, para ser mais preciso, a chegada do Uomo Singulare, o homem singular, insubstituível. A conduta deste novo sujeito “era marcada por um alto teor de autodeterminação e cujas atividades expressavam preferências pessoais de comportamento, gradualmente ia se desgarrando de seus companheiros. E junto com ele aparecia, não somente o libertine e o dilletante, como também o uomo unico, o homem que, ao dominar seu destino, ficara sozinho e se tornara uma lei para ele mesmo. Homens examinavam suas condições e não se chocavam por suas necessidades de perfeição. […] Uma nova imagem humana aparecera – e não a de Adão ou a de Prometeu, mas a de Proteu – um personagem distinto de todos os outros devido a sua multiplicidade e infinita capacidade de transformação”.
Logo, ser um indivíduo se tornou “o evento mais destacável da história da Europa moderna” e, como aconteceria com o passar de quatro séculos, uma forma ideal de governo também surgiu e ela teve de se adequar a essas “intenções de explorar as intimações de individualidade”, construindo uma base legal na qual começava com uma exigência muito ardilosa em sua simplicidade: a de que esses “interesses individuais” deviam se transformar em direitos e deveres. Depois que tal governo foi estabelecido dessa forma, pediram-no mais três coisas: “primeiro, ele deveria ser único e supremo; somente pela concentração de toda a autoridade em um centro único o indivíduo emergente poderia escapar das pressões comunais da família e das guildas, das igrejas e da comunidade local; tudo o que o impedia de desfrutar plenamente de seu caráter. Segundo, ele deveria ser um instrumento de governo desvinculado de prescrições e consequentemente com autoridade para abolir velhas leis e criar novas: deve ser um governo ‘soberano’. E isso, de acordo com ideias de então, significa um governo em que todos que gozavam de direitos eram parceiros, um governo em que as ‘peças’ do tabuleiro eram participantes diretos ou indiretos. Terceiro, deveria ser poderoso – capaz de preservar a ordem sem a qual a aspiração da individualidade não seria possível; porém nem tão forte assim que constituísse um perigo para a própria individualidade”.
Contudo, essa evolução não ocorreu na paz desejada. Esse tipo de transformação, mesmo que gradual, jamais eliminou o problema comum a qualquer ser humano, mesmo que ele seja um Uomo Singulare – a capacidade de fazer suas próprias escolhas. Na verdade, isto passou a ser um fardo. Para complicar, Oakeshott descreve que “as velhas certezas em relação às crenças, às profissões e ao status estavam sendo dissolvidas, não somente para aqueles que estavam confiantes de seu próprio poder de erigir um novo lugar para si em uma associação de indivíduos, mas também para aqueles de temperamento mais pessimista. A contrapartida para o empreendedor, seja da cidade ou do campo, do século XVI, eram os trabalhadores desalojados; a contrapartida do libertine era o crente desiludido. As familiares pressões comunais eivadas de carinho foram dissolvidas em um mar de outras tensões – a emancipação que excitava alguns, deprimia outros. O anonimato familiar da vida comunal fora substituído pela identidade pessoal, a qual para alguns se tornara um fardo, uma vez que não logravam transformá-la em individualidade. O que uns viam como felicidade parecia a outros mais um desconforto. As mesmas condições de circunstância humana eram identificadas como progresso e como decadência. Em poucas palavras, a condição da Europa moderna, mesmo antes do século XVI, dera origem não somente a um personagem, mas a duas figuras antagônicas: além do individuo, agora temos também o ‘indivíduo manqué’. E esse ‘indivíduo manqué’ não era uma relíquia das eras antigas, e sim um produto da modernidade, o resíduo da mesma dissolução dos laços comunais que haviam dado à luz o indivíduo europeu moderno”.
O indivíduo manqué, na definição de Oakeshott, era “uma combinação de debilidade, ignorância, timidez, pobreza ou azar” que mostra uma absoluta incapacidade de se adaptar a qualquer ambiente hostil. Sua única solução para resolver este impasse existencial foi a de procurar um “protetor que entendesse sua situação” – e que se tornou nada mais nada menos que o Estado, que jamais hesitou atender às necessidades do “indivíduo manqué”. No entanto, com essa aprovação absoluta da busca da individualidade como a única alternativa que restou na consciência moderna, o “peso dessa vitória moral despencou na cabeça do indivíduo manqué” que, a partir de agora, além de se ver “derrotado em casa, em seu próprio caráter”, acentuando ainda mais as dúvidas sobre “suas habilidades de aguentar a pressão na luta pela sobrevivência” e, como se não bastasse, finaliza em “uma radical falta de confiança em si mesmo”, na qual “o que era o desconforto de um fracasso se transformara na miséria da culpa”.
Assim, o “indivíduo manqué” passa a ter uma nova metamorfose – ora à resignação, ora à inveja e ao ressentimento, além de insistir no impulso de fugir a esta cruel situação impondo-a ao resto da humanidade. É aqui que vemos a passagem do “indivíduo manqué” para o “anti-indivíduo”, um ser totalmente dominado por seus sentimentos ao invés de pensamentos, alguém disposto a assimilar tal definição sem se preocupar com a desintegração do seu próprio caráter, ao destronar o indivíduo que lhe deu origem e ao eliminar qualquer rastro do seu prestígio moral. A partir de agora, nada pode frear esse “anti-indivíduo”, pois, além de reconhecer em si mesmo que “sua individualidade era tão pobre que nada seria o bastante para salvá-la”, ele também sabe que a única coisa que o movia “era unicamente a oportunidade de escapar da ansiedade de ter que ser um indivíduo, além da chance de extirpar do mundo tudo o que lhe convencia de sua falta de aptidão para tal. Sua situação o levou a buscar conforto em comunidades isoladas, insuladas das pressões morais da individualidade. Porém, a oportunidade que ele tanto procurava apareceu de verdade quando reconheceu que, ao invés de estar sozinho no mundo, ele pertencia à classe mais populosa da sociedade moderna na Europa, a classe que não tinha suas próprias escolhas a ser feitas” – o “anti-indivíduo” que enfim se torna uma única substância com a “massa”, aquele que “não pode ter amigos (porque amizade consiste na relação entre dois indivíduos), só camaradas”, porque ele obriga os outros a aceitarem somente se eles forem “uma réplica dele, impondo a todos uma uniformidade de crença e conduta que não deixa espaço nem para os prazeres nem para as angústias da escolha” [Grifos nossos].
No final do século XX e no início do século XXI, os maiores representantes do comportamento do “anti-indivíduo” deixaram de ser os líderes que comandavam a “massa” ou os membros da multidão, em seu lugar assumindo os artistas e intelectuais, em especial os poetas, os críticos literários, os professores universitários, os filósofos e os epígonos de todos os listados acima. Voltando à classificação de Alfonso Berardinelli em Direita e Esquerda na Literatura, ao acompanhar a avaliação de outros sociólogos e políticos que fazem parte da categoria de “críticos”, os intelectuais se tornaram “uma categoria, uma série de corporações e de grupos de pressão”, algo ainda mais evidente nestes séculos de extremos da política, das ciências sociais e da tecnocracia, em que “os próprios intelectuais começaram a se ver como uma entidade coletiva. Foram avaliados e estudados enquanto papel e função social, ou instrumento útil em vista de objetivos políticos. Quiseram se sentir especialistas, funcionários, organizadores e, por fim, políticos”.
5.
Na contramão desta gigantesca maré secular, temos, aparentemente, a figura solitária de Orides Fontela. De acordo com a pequena biografia de Gustavo de Castro sobre a poetisa, O Enigma Orides, que foi publicada em conjunto com a reedição da Poesia Completa, ela sempre foi alguém que existiu, segundo suas próprias palavras, no “ventre do caos”. Nascida em 1940, na pequena cidade de São João da Boa Vista, teve uma vida humilde, quase miserável, especialmente no final, à beira da morte, quando tinha de pedir ajuda aos seus amigos mais influentes no mundo intelectual paulistano para ter o que comer e, no seu falecimento, foi quase enterrada como indigente. Tinha também um temperamento irascível, disposta a ter brigas com esses mesmos amigos pelos motivos mais bobos. Ao mesmo tempo, não se dedicava a outra coisa na vida exceto a poesia – e, se isso não fosse possível, é muito provável que jamais conseguiria produzir um corpus poético que nada fica a dever a outras grandes poetisas nacionais, como Cecília Meirelles, Hilda Hilst e Adélia Prado.
Logo depois da anatomia do caos descrita em sua estreia, Transposição, Orides se aprofundaria cada vez mais na sua espiral de descoberta dos prismas do erro, da ilusão e da loucura. Contudo, nos livros posteriores, esta santíssima trindade do avesso seria posta de cabeça para baixo – ou, para sermos mais exatos, elevada a um tamanho patamar das alturas que tudo o que parecia ser um tremendo equívoco passa a ser visto como uma grande vitória. Em Helianto (1973), a criação poética é comparada à criação do próprio mundo, mesmo que todas as coisas se corrompam e querem mostrar que só o abismo é a única constante da nossa condição:
GÊNESIS
Um pássaro
(com sabor de
origem)
pairou (pássaro arcano)
sobre os mares.Um pássaro
movendo-se
espelhando-se
em águas plenas, desvelou
o sangue.Um pássaro silente
abriu
as
asas
– plenas de luz profunda –
sobre as águas.Um pássaro
invocou mudamente
o abismo.
O pássaro é o símbolo bíblico daquele espírito que cria o mundo, mas também chama a sua destruição. As duas coisas estão imbricadas de tal maneira que a tensão articulada nos versos delicados de Orides – muito semelhantes à delicadeza poética de uma Emily Dickinson, por exemplo – deságua no silêncio contemplado pelo elogio da poesia em seu estado mais puro:
ODE
E enquanto mordemos
frutos vivos
declina a tarde.E enquanto fixamos
claros signos
flui o silêncio.E enquanto sofremos
a hora intensalentamente o tempo
perde-nos.
A poesia registra a “hora intensa” do instante, mas não a petrifica porque o “eu-lírico” do poema tem a plena consciência de que a passagem do tempo é registrada igualmente pelo cair da tarde. Orides joga com os temas heideggerianos (uma constante em sua poética) do tempo que se perde na “queda do ser” no mundo, ao mesmo tempo em que brinca igual a uma criança feliz com os brancos da página, numa escansão de versos que mostra uma leitura atenta de Mallarmé. Em Alba (1983), ela incorpora essas referências modernas aos símbolos da “fonte” e do “tranquilo murmúrio” desenvolvidos plenamente por São João da Cruz (o santo que cantava sobre a “noite escura da alma”) e as toma para si, como se fossem suas obsessões mais do que pessoais:
MURMÚRIO
O murmúrio não cessa. Nunca a
fonte
deixará de cantar
ocultae oculto mesmo
o canto
soterrado em cansaço
hábito e olvidoe tudo oculto sob árida
lápide
sob o contínuo deslizar
das formase tudo
oculto
mas água
semprepulsação
viva
centrando
o
tempo.
O cotidiano soterra as oportunidades para que a poesia possa encantar nossa vida e, apesar de tudo nos levar a cair na tentação de ser seduzido por essas armadilhas, ainda assim o murmúrio do maravilhamento continua. Não, Orides não desiste, mesmo escrevendo seus poemas, mesmo sendo reconhecida por poucos críticos literários de renome (como Antonio Candido e Davi Arrigucci, Jr.) e, infelizmente, mesmo não tendo nenhum sucesso de público, o que a levou a uma existência mais do que errática em termos materiais. Como se não fosse o bastante, em Rosácea (1986), ela afirma explicitamente que errar é mais do que humano – é praticamente divino:
ERRÂNCIA
Só porque
erro
encontro
o que não se
procurasó porque
erro
invento
o labirintoa busca
a coisa
a causa da
procurasó porque
erro
acerto: me
construo.Margem de
erro: margem
de liberdade.
Neste poema específico, há um ponto de virada peculiar na cosmologia da poetisa. Orides percebe que a única forma de se alcançar a liberdade é por meio da prática da tentativa e erro. Qualquer coisa fora disso é uma prisão voluntária – uma teia que prende a todos e onde, no centro, encontramos a aranha devoradora da criação cuja dedicação lhe tomou todo o seu tempo. Não à toa que o seu livro derradeiro, publicado dois anos da sua morte, se chamaria justamente Teia (1996) – que tinha como abertura o poema-título, uma descrição lenta e terrível de toda essa nova presciência que a atormentou nos últimos anos:
TEIA
A teia, não
mágica
mas arma, armadilhaa teia, não
morta
mas sensitiva, viventea teia, não
arte
mas trabalho, tensaa teia, não
virgem
mas intensamente
prenhe:no
centro
a aranha espera.
Contudo, aquele que deveria ser o testamento da poetisa, é também o seu livro mais irregular, mais fraco. Há uma força dissipada na maioria dos poemas que compõe Teia – e que antes era extremamente concentrada nos livros anteriores. A mesma pessoa que teceu os fios luminosos de versos que fizeram a fama de “Genêsis” ou “Murmúrio” é capaz agora de realizar bobagens como as que se seguem:
CARTILHA
Foi de poesia
lição
primeira:“a arara morreu
na
aroeira”.
Ou então:
VOO
Ter
asas
é não ter
cérebro.ter
cérebro
é não ter
asas.
Para quem escreveu versos como “O branco é campo para o desespero/ é quando sem infância persistimos/ e nos fita de face a luz sem pausa/ da memória suspensa (tempo em branco)”, os dois poemas citados acima são algo constrangedores – e tão óbvio que precisa estar realmente danificado em sua sensibilidade para não perceber que, independentemente do humor pueril (algo que não era o forte de Orides), os poemas de Teia mostram uma opção preferencial por uma perda de tensão que, na falta de nome melhor, é igualmente o registro de uma tragédia existencial.
6.
Como isto aconteceu? O que poderia ter levado uma das nossas maiores poetisas a esse tipo de dêbacle, justamente em seu livro-testamento, ao limitar a sua habilidade de articular uma poderosa imaginação e terminar sua obra, concebida com tanto empenho, negando a sua própria inquietação?
A resposta a esse enigma talvez passe pelo o que Michael Oakeshott escreveu sobre o “indivíduo manqué”. De certa forma, não só a vida de Orides, mas a sua poesia, é um registro profundo da transformação ocorrida do “indivíduo manqué” para o “anti-indivíduo”. São versos que trabalham no limite do “ventre do caos”, fomentado pelo próprio comportamento social da poetisa – e que são igualmente refletidos no modo como a própria Orides encarou seus momentos finais, como narra Gustavo de Castro:
Em julho de 1998, Orides sentiu sinais de colapso. A cada dia mais fraca e estiolada, abateu-se de diarreia e fortes dores no estômago; fazia tempo que quase não comia, apenas “beliscava” os alimentos. Bebia mais cerveja do que água. Suas tosses eram constantes. [O poeta] Donizete Galvão a levou a um médico. Os medicamentos receitados foram comprados e o modo de tomá-los postos numa lista, que ele pendurou ao lado da cama dela. “Não adianta nada”, dizia Gerda [amiga de Orides]. “Ela quer morrer”. “Mas como, se diz que vai ficar curada, que os médicos vão salvá-la?”, ele retrucou.
O que Galvão não entendia é que ela cumpria à risca a descoberta dela de que o erro, a ilusão e a loucura eram as únicas margens para exercer alguma liberdade no mundo indiferente onde Orides imaginava viver. Esta tendência auto-destrutiva sempre foi constante nos nossos grandes escritores e intelectuais, acentuada pelo fato de que seus críticos e biógrafos caíram naquela “mentira romântica” (como diria René Girard) cuja prática é glamurizar o sofrimento, para então dar ares de “genialidade”. Os exemplos mais gritantes desta patologia são, além de Orides ou de Hilda Hilst, o arquétipo dos ressentidos que foi Lima Barreto, a dissimulação esquizofrênica de Mario de Andrade e, mais recentemente, o marketing feito em torno da pseudo-reclusão de Raduan Nassar. Neste ponto, infelizmente, o biógrafo de Orides, Gustavo de Castro, também cai nessa mesma “mentira” e, apesar do seu livro ser um relato impecável e emocionante da sua heroína, deixa-se contaminar por este círculo vicioso. Fica nítido assim que a poetisa passou a acreditar que era, de fato, uma vítima do cosmos cruel, eximindo-se das responsabilidades dos seus atos – e colaborando dessa forma para a queda de qualidade da sua obra.
Porém, a poesia de “anti-indivíduo” feita por Orides mostra também dois aspectos que, indiretamente e ironicamente, engrandecem a sua produção artística. O primeiro é que, se ela for lida como “um longo argumento do início ao fim” (para citarmos novamente Girard, desta vez parafraseando Charles Darwin), perceberemos que a poetisa confronta, como raramente foi feito na literatura brasileira, com aquilo que eu já chamei de “o pesadelo do paradoxo”. Esta experiência é uma das mais dilacerantes que qualquer ser humano pode vivenciar – e fundamental para que um artista tenha a compreensão adequada de como ele deve se relacionar não só com o mundo, mas também com os seus semelhantes. O “pesadelo do paradoxo” consiste naquele evento único em nossas vidas no qual sofremos uma conversão a uma realidade muito mais profunda, muito mais enigmática e que expressa, no deserto da nossa alma, uma destruição daqueles valores que formam justamente o “anti-indivíduo” descrito por Oakeshott. Esta conversão ao real, uma verdadeira metanoia, dá a impressão de não ter mais solução, pelo menos no plano da nossa racionalidade humana, e, portanto, ela só pode ser articulada por meio de antinomias que se acumulam numa sucessão de tensões, um mergulho na verdadeira natureza das coisas, sob o aspecto meramente transitório, dando a impressão duradoura de que a própria condição humana como um todo só será compreendido como uma fantasmagoria, em que seu mero despertar acontecerá no meio de uma vastidão particular onde nem mesmo ouvir o murmúrio da criação permitirá algum afago.
Já o segundo aspecto amplia o significado do primeiro, pois se “o pesadelo do paradoxo” é o fundamento sobre qual Orides Fontela se baseia para se aprimorar na dinâmica do erro, da ilusão e da loucura, ela também retrata, por meio dos seus versos, o “salto no ser” civilizacional que é também analisado por Murilo Marcondes de Moura em seu livro O Mundo Sitiado. Aqui, é sempre bom lembrar que a expressão “salto no ser” (leap in being) é um conceito tomado de Eric Voegelin, desenvolvido às últimas consequências no primeiro tomo do seu ciclo Ordem e História, intitulado Israel e Revelação. Trata-se de uma experiência de transcendência, de um spiritual outburst, um arroubo espiritual que revela o ser divino além do mundo onde vivemos e que revela também uma compreensão exata do homem como criatura humana. É o salto no ser que faz o homem entrar ainda mais na estrutura da realidade e não, em hipótese nenhuma, escapar dela. E ele não é apenas um acontecimento – mas sim o acontecimento que, conforme seja aceito na consciência do ser humano, orienta todo o curso da História. É precisamente essa escolha – que, no fim, nos faz lembrar o mistério do livre-arbítrio – que mostra os diversos modos como o homem procura Deus ou, para sermos mais ousados, como Deus procura sua criação.
Tanto em O Mundo Sitiado como na obra de Orides, o que percebemos é a análise, no primeiro livro, de como a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais foram prenúncios de uma mudança civilizacional que agora estamos vivendo em uma aceleração inacreditável; e a recusa, no segundo caso, de admitir que a realidade é enraizada no “pesadelo do paradoxo” – e que passa a ser institucionalizado, por assim dizer, em seu respectivo “salto no ser”.
No caso do ensaio de Murilo Marcondes, ele usa e abusa do seu temperamento “crítico”, sempre amparado pela metodologia “técnica”, para mostrar como os poetas europeus e brasileiros articularam seus “saltos no ser” extremamente pessoais em versos que aceitavam ou renegavam a existência dos seus “pesadelos do paradoxo”. Contudo, como lhe falta a sensibilidade “metafísica”, Murilo não consegue apreender a verdadeira essência do próprio evento histórico que relata – a relação que há quando a consciência poética capta o surgimento do Extremistão (o domínio do real onde os eventos estão conectados, são interdependentes e que, por isso mesmo, provocam fatos extremos, imprevisíveis e inimagináveis, segundo Nassim Taleb em The Black Swan). Além disso, há o modo como conseguimos transformar essa transição civilizacional em algo que fortalecerá a nossa sensibilidade e o nosso imaginário neste “mundo sitiado”.
Às vezes, o professor de literatura dá amostras de ter compreendido isto, quando, por exemplo, cita um trecho de Marques Rebelo para demonstrar, inconscientemente, o que foi o Extremistão na Segunda Guerra Mundial, especialmente no Brasil: “[…] O mundo tornou-se menor. Um gemido londrino é ouvido no Brasil, uma ferida em peito maquis faz escorrer sangue em rua carioca”. É o tal “sentimento do mundo” que Carlos Drummond de Andrade tomaria emprestado do “sentimento do tempo” de Giuseppe Ungaretti. Para Murilo, a produção poética das Duas Guerras só adquire sentido pleno se for vista como o registro de uma determinada época ou de uma determinada escola literária, jamais como o símbolo articulador de um espírito que tenta se superar da tormenta desses anos ferozes. Seu principal argumento é que “a resposta significativa da poesia brasileira diante da catástrofe planetária, da qual o Brasil participou de modo apenas lateral” é uma “circunstância histórica em que os poetas foram constrangidos a atuar”, sejam como soldados (os casos de Guillaume Apollinaire e de Ungaretti no âmbito europeu) ou como ideólogos dotados de destreza verbal (como foi o que aconteceu com Drummond e Oswald de Andrade).
A sensibilidade crítica e a metodologia técnica de Murilo são tão marcantes, em seu estilo e na sua visão de mundo, que ele faz uma confusão entre o que seria uma circunstância histórica e o que seria uma constante do comportamento humano. A guerra, seja lá qual for a época em que ela acontece, não é apenas o mote para uma “poesie de circunstance”. Ela é a explicitação, dentro do território dos extremos e do tecido da História, do mesmo desejo de auto-destruição, da mesma vontade de recusar “o pesadelo do paradoxo” que possuiu Orides Fontela e da ânsia suprema de fugir de qualquer responsabilidade que caracteriza o “anti-indivíduo” analisado por Michael Oakeshott. A guerra é o “salto no ser” em sua dose máxima de crueldade – e a poesia pode ser, muitas vezes, o único antídoto para fugir da teia onde nos enredamos.
O ponto de virada do argumento de Murilo Marcondes – e que expõe também os impasses quando a sensibilidade crítica anda de mãos dadas com a metodologia técnica na recusa da perspectiva metafísica – se encontra na sua análise da obra de Giuseppe Ungaretti.
7.
Nascido em 1888 em Alexandria, Egito, cidade mítica que encantava pela paradoxal paisagem que unia o mar e o deserto, Ungaretti era filho de italianos, mas o desterro sempre foi a sua verdadeira pátria. Seja na Itália (onde teve relações nada saudáveis com o fascismo de Mussolini), na França (onde passou a adolescência e teve contatos com a vanguarda simbolista) ou até mesmo no Brasil (foi professor de Literatura Italiana na Universidade de São Paulo entre 1937 e 1942), seu sentimento de vazio, do tempo que desgasta as coisas deste mundo, de uma permanente inquietude pelo destino do homem, o igualava somente a outro exilado que, apesar de nunca ter saído de sua biblioteca, sabia como poucos o que era esta nostalgia por um lugar além do efêmero: Giacomo Leopardi.
O nome Leopardi não é aleatório quando lemos um texto sobre Ungaretti. Talvez somente T.S. Eliot e Jorge Luis Borges tiveram a coragem de fazer a mesma coisa que o poeta italiano: criar a sua própria tradição e dialogar com ela constantemente, sem se importar se a moda da época a considerava morta ou ultrapassada. Ungaretti apreendeu e aprendeu com sua linha de predecessores, que é composta por ninguém menos de pessoas como Francesco Petrarca, Vico, Blaise Pascal, Leopardi e Mallarmé. Porém, é com Petrarca e Leopardi que Ungaretti realmente dá uma pirueta na crítica poética. Com o primeiro, somos introduzidos à noção de memória (na verdade, a velha e boa anamnesis platônica, temperada com um pouco do élan vital de Henri Bergson, de quem Ungaretti foi aluno enquanto estava em Paris), na qual o poema esconde um segredo – um segredo que está na perfeita correspondência entre forma e conteúdo –, e com isso revela ao leitor uma nova abertura para a inocência de sua alma. Ungaretti afirma que Petrarca é o pioneiro ao usar a memória como a única maneira para que tudo não caia no esquecimento, porque, afinal, a morte é um fato inevitável e talvez somente a arte dará alguma esperança de manter as coisas como são na sua perenidade e na sua pureza.
Mas sua visão de Petrarca seria nada se não fosse por sua releitura de Leopardi. Não é por acaso que o primeiro título de A Alegria, seu livro de estreia, era nada mais, nada menos que A Alegria dos Náufragos, em homenagem ao verso do famoso poema “O Infinito” – “E il naufragar m´è dolce in questo mare” (E é doce naufragar-me nestes mares). Se Petrarca usa a memória como estilo e como tema de meditação para preservar não só a poesia, mas também os atributos virtuosos da finada dama Laura, Leopardi se aproveita da memória e da própria poesia para refletir sobre a finitude da condição humana e como a arte pode ser um meio para escapar desse impasse. A sua terrível descoberta – muito parecida com a de Pascal em relação aos seus estudos matemáticos – está em ver que, mesmo praticada com o máximo de habilidade técnica, a poesia tem o perigo de cair na armadilha de petrificar o pesadelo do paradoxo. Ungaretti resolve a aporia de Petrarca e Leopardi aceitando de muito bom grado o fato de que a condição humana é um naufrágio sem fim, e de que a poesia seria uma possibilidade para recuperar a inocência do ser e o segredo do sagrado.
Obviamente, trata-se de uma tarefa difícil, mas Ungaretti se empenha na sua luta com bravura invejável, mesmo que fique marcado por sua triste sina de “uomo di pena”. Em A Alegria, fruto de suas experiências como soldado pelo exército italiano na Primeira Guerra Mundial, a memória, o exílio e a linguagem poética são os eixos condutores de uma viagem que, se o leitor permanecer constante na sua leitura, será surpreendido no momento em que, ao virar a última página, descobrirá ter evoluído como ser humano. Aliás, esta sempre foi a real intenção de Ungaretti ao escrever as poesias de A Alegria – a de que elas, como explica em suas clássicas note da edição Mondadori das obras completas, “representam seus tormentos formais, mas gostaria que se reconhecesse, finalmente, que a forma o atormenta [o poeta] somente porque dela exige que se conforme às variações de seu estado de ânimo, e que, se algum progresso alcançou como artista, gostaria que ela indicasse, também, que alguma perfeição o acompanhou enquanto homem”. A poesia não é apenas uma mera fruição estética; é, antes de tudo, uma expiação da alma, uma purificação que serve como meio de educar moralmente o homem para enfrentar o naufrágio sem fim.
Esta perseverança é abalada por vários obstáculos, em especial a constante presença da indesejada das gentes. Um dos temas que permeiam A Alegria é o suicídio de Moammed Sceab, um dos melhores amigos de Ungaretti e tema de um dos poemas mais emocionantes do livro, que articula os três eixos – memória, exílio e poesia – numa síntese admirável:
IN MEMORIAM
(Locvizza, 30 de setembro de 1916)Chamava-se
Moammed SceabDescendente
de emires de nômades
suicida
porque não tinha mais
pátriaAmou a França
e mudou de nomeFoi Marcel
mas não era francês
e já não sabia
viver
na tenda dos seus
onde se escuta a cantilena
do Alcorão
saboreando um caféE não sabia
desatar
o canto
do seu abandonoAcompanhei-o
junto com a dona da pensão
onde vivíamos
em Paris
do número 5 da rue des Carnes
esquálido beco em decliveDescansa
no cemitério de Yvry
subúrbio que parece
sempre
em dia
de
decomposta feiraE talvez apenas eu
saiba ainda
que viveu[Tradução de Geraldo Holanda Cavalcanti]
Somente a poesia tem o poder de guardar a memória de um pobre exilado, de não deixá-lo cair no esquecimento – e esta é a responsabilidade moral do próprio poeta, ao saber que talvez seja o único que conhecia a sua existência. Mas a responsabilidade não se estende apenas a um único indivíduo – dilata-se para toda uma época de atrocidades. Ungaretti continuaria a carregar o peso do mundo nas suas costas nos livros seguintes, como Sentimento do Tempo (1932-1937) e A Dor (1942-1945) que, como o próprio título, indica o oposto da experiência descrita em seu primeiro livro. Em ambas as obras, o poeta relaciona os seus tormentos pessoais (respectivamente, a busca desesperada pela transcendência e a morte prematura de seu filho Antonietto, ocorrida durante a sua passagem pelo Brasil) com os tormentos do mundo (como o sentimento de vazio que cobre Roma e a eclosão da Segunda Guerra Mundial). Claro que a empreitada poderia levá-lo ao abismo, mas Ungaretti nunca se agarrou às sombras, nunca esperou ansiosamente pela noite como a única maneira de suportar a crua realidade. Ele procurava, antes de tudo, a luz por trás de cada verso, cada palavra, o segredo que o levaria em um contato com o Absoluto, mesmo tendo a plena consciência de que “em parte/ alguma/ me sinto/ em casa”.
É aqui que a poesia se apresenta como uma das formas para manter-se íntegro em um mundo corrompido. Somente quando o ser humano experimenta situações em que a tensão do pesadelo do paradoxo, em que a liberdade do espírito é a única coisa que está em jogo, como acontece quando nos deparamos com a morte de alguém querido, uma guerra ou o encarceramento, que podemos ir ao fundo da alma e, lá, encontrar a linguagem da poesia na sua pureza mais cristalina e na sua felicidade mais dolorida. Eis o sentido último do que significa o título A Alegria: sim, o naufrágio sem fim continua com suas correntes impetuosas, tudo parece se resumir a ruínas, o esquecimento parece dominar tudo e o desterro é a marca de fogo em nossa alma – mas devemos continuar com toda a alegria que for possível. Não podemos confundi-la com a alegria dos tolos, que procuram uma felicidade terrena, e que têm medo da incerteza como se fosse algo negativo. A alegria de Ungaretti é a dos náufragos, a mesma de Leopardi e de Pascal, na qual a necessidade de aposta pelo Absoluto leva-nos a uma aventura sem precedentes, porque a poesia é a verdadeira arma contra “o inexprimível nada que aparece entre uma flor ofertada e uma flor colhida”.
Assim, o verdadeiro ato de libertação do homem é o ato poético, em que a linguagem encontra seu fundo mais puro, mais profundo e mais sagrado. Ungaretti acreditava piamente que cada poema era uma espécie de oração que continha um segredo a ser descoberto através dos tempos. Ele tinha toda a razão – e sua obra é uma prova irrefutável disso. Em um mundo onde a alegria dos náufragos é o tênue fio que nos sustém, a vida e a obra de Giuseppe Ungaretti não é apenas uma lição de arte poética. É também a evidência de que o ser humano não nasceu para ter sua felicidade, mas sim para conquistar a sua grandeza – mesmo que seja a custo de um enorme sacrifício.[1]
8.
Infelizmente, Murilo Marcondes de Moura não fala nada disso na parte dedicada ao poeta italiano em seu O Mundo Sitiado. Depois de um capítulo realmente memorável sobre a poesia de guerra feita por Guillaume Apollinaire, ele enfrenta os versos de Ungaretti com um laconismo constrangedor. A referência a Apollinaire também não é aleatória, uma vez que Murilo deliberadamente compara as obras dos dois poetas, ambas realizadas na confusão das trincheiras – e, no caso de Ungaretti, feita com a nítida intenção de emular ou superar plenamente o que o colega realizava naquele momento. O então soldado italiano conta que “entre mim e Apollinaire ocorrera uma proximidade insólita. Sentíamos em cada um de nós o mesmo caráter compósito e aquela dificuldade de ânimo para encontrar o caminho de nos assemelharmos a nós mesmos, de constituirmos a nossa unidade. Aquela unidade não a teríamos encontrado em nenhum lugar a não ser recorrendo à poesia” [Grifos nossos]. Esta emoção da descoberta em conjunto fica ainda mais comovente quando Ungaretti conta como foi o momento em que descobriu que o amigo falecera, quando “alguns dias antes do armistício [da Primeira Guerra] fui enviado a Paris […]. Apollinaire me havia pedido para levar-lhe algumas caixas de charutos toscanos e, apenas chegado, corri para a casa de meu amigo. Encontrei Apollinaire morto, com o rosto coberto por um pano negro”.
A morte de Apollinaire foi o equivalente à tragédia de Moammed Sceab e, com o talento de um entomologista, Murilo Marcondes faz o devido paralelo entre as duas experiências, mostrando que ambas as perdas estimularam um processo de reconstituição da memória que, afinal de contas, reavivou a poesia no próprio Ungaretti, como podemos ver nesses versos:
Em memória da morte que acompanhamos
em nós ela pula grita e recai
em memória das flores enterradas[Tradução de Murilo Marcondes de Moura]
A decisão ética de descrever a guerra em “palavras decididas, absolutas”, de “não dizer senão o necessário, portanto uma linguagem despojada, nua, extremamente expressiva” era fundamentada na perfeita consciência de que Ungaretti havia vivenciado o pesadelo do paradoxo em uma corrente simultânea com o salto no ser de sua própria civilização, no encontro consigo mesmo por meio da “presença da morte, em presença da natureza, de uma natureza que aprendia a conhecer de um modo novo, de um modo terrível. Desde o momento em que passo a ser um homem que faz a guerra, não é a ideia de matar ou de ser morto o que me atormenta: era um homem que queria para si apenas as relações com o absoluto, o absoluto que era representado pela morte, não pelo perigo, que era representado por aquela tragédia que levava o homem a encontrar-se no massacre. Em minha poesia não há traço de ódio pelo inimigo nem por ninguém: é a tomada de consciência da condição humana, da fraternidade dos homens no sofrimento, da extrema precariedade de sua condição. Há vontade de expressão, necessidade de expressão, há exaltação […], aquela exaltação quase selvagem do impulso vital, do apetite de viver, que é multiplicado pela proximidade e pela cotidiana frequentação da morte. Vivemos na contradição” [Grifos nossos].
A sensibilidade crítica de Murilo Marcondes o leva a escolher justamente um dos mais belos poemas de Ungaretti, “Vigília”, para articular o momento em que essa coincidentia oppositorium ocorre na alma do poeta:
VIGÍLIA
Cima Quattro, 23 de dezembro de 1915Uma noite inteira
jogado ao lado
de um companheiro
massacrado
com a boca
arreganhada
voltada para a lua cheia
com a convulsão
de suas mãos
entranhada
no meu silêncio
escrevi
cartas cheias de amor.Nunca estive
tão
aferrado à vida.[Tradução de Geraldo Holanda Cavalcanti]
O detalhe da “boca arreganhada” é o registro do horror da guerra, mas o silêncio na hora de escrever cartas cheias de amor é também o indício de que há uma beleza que supera todo o desastre. Marcondes de Moura prova a sua fina leitura do episódio com o seguinte trecho: “Ao iniciar o poema mencionando a duração da experiência, o poeta nos indica o quanto esta foi intolerável. […] A visão do corpo ‘massacrado” se torna ainda mais incontornável pela luz forte do ‘plenilúlio’, a natureza ela própria excessiva, o todo compondo uma espécie de gravura goyesca. Incapaz de se subtrair ao horror, e decerto lúcido demais para isso, o poeta contrapõe-se a ele também hiperbolicamente – as ‘cartas cheias de amor’ que mentaliza, o apego inaudito à vida que sente crescer por dentro”.
É a partir daqui que começam a surgir as limitações do método técnico de Murilo Marcondes, somadas à sua sensibilidade crítica. Para ele, apesar de reconhecer “a índole inquieta de Ungaretti” no “sentido de rever incansavelmente os seus textos anteriores”, o professor insiste em ver A Alegria como um “diário de guerra”, já que o poeta teria mantido “as datas como também a estrita cronologia”, conservando assim o seu aspecto circunstancial. A prova final estaria no título das obras completas de Ungaretti – Vida de um homem – pondo-as, assim, no “âmbito da poesia de circunstância no sentido goethiano […], em que o ocasional e o íntimo são concomitantes”, uma vez que “o diário da experiência premente e trágica de soldado de infantaria aparece sob o signo daquilo que está submerso e longínquo, no tempo e no espaço, e também recôndito na própria intimidade. O poeta, como Orfeu, só encontra a palavra justa para aquilo que vive e observa de forma imediata depois da ascese nessa região profunda. […] Esse primado da profundidade traz como consequência a enorme dificuldade no dizer, o risco do puro silêncio ou do fracasso” – que lhe permite dizer sem nenhuma hesitação de que Ungaretti foi, na construção minuciosa dos seus versos, “concentrado e lacônico”, um dos “artistas que, trabalhando a partir de unidades mínimas de construção, levou o fragmento a um grau máximo de concentração poética”.
O grande problema desta perspectiva é a preferência deliberada de ver Ungaretti tão somente como um poeta perplexo diante do abismo branco da página, angustiado diante do inefável que não pode ser adequadamente expresso, e paralisado diante da palavra que está sempre em crise. Ocorre que a grandeza do italiano está justamente no fato de que, pelo fragmento, ele consegue expandi-lo igual a um macrocosmo e o que era concentração torna-se uma expansão raras vezes alcançada na poesia europeia do século XX. É só perceber isto em “As Lembranças”, um dos melhores momentos de A Dor, livro escrito após a perda avassaladora de seu filho:
AS LEMBRANÇAS
As lembranças, inútil infinito,
mas sós e unidas contra o mar, intacto
no meio de estertores infinitos…O mar,
voz de grandeza liberada,
inocência inimiga das lembranças,
rápido em apagar os doces traços
de um pensamento fiel…O mar, as suas carícias acidiosas
quanto ferozes e quanto desejadas,
e à agonia delas,
presente sempre, renovada sempre,
no pensamento ágil, a agonia…As lembranças,
o derramar-se vão
de areia que se move
sem pesar sobre a areia,
breves ecos protelados,
sem voz, ecos do adeus
a minutos, pareciam felizes…[Tradução de Aurora F. Bernardini]
A tal da “poética do fragmento”, nitidamente inspirada no mesmo Mallarmé que também influenciou Orides Fontela, transforma-se em algo muito mais amplo e, mais, algo muito mais positivo. E isto não ocorreu porque Ungaretti decidiu isso da noite para o dia. Este aspecto já estava presente em sua obra desde A Alegria, independentemente de ter sido concebido como um “diário de guerra” e indo muito além de ser uma “poesia de circunstância”. Ungaretti registra a sua poesia como “a vida de um homem” porque, no fundo, a sua principal preocupação não é com o transitório ou com a mera intimidade, e sim com o que é permanente e estrutural na própria natureza humana. O italiano encara o pesadelo do paradoxo particular dentro do salto no ser civilizacional – e sai vitorioso porque ainda trata com carinho o seu “porto sepulto” onde guarda as suas lembranças mais dolorosas, mas que, ao mesmo tempo, o fazem realmente um ser humano.
9.
É uma pena que a sensibilidade crítica e o método técnico de Murilo Marcondes de Moura não o ajude a captar essa grandeza metafísica evidente em Ungaretti – e que também não o faça perceber os problemas ideológicos e espirituais na poesia de propaganda feita por Carlos Drummond de Andrade (em especial, na análise de “Carta a Stalingrado”, um dos poemas mais fracos de A Rosa do Povo) e Oswald de Andrade (no lamentável “Cântico dos cânticos para flauta e violão”, uma egotrip que o monarca do modernismo escreveu para sua esposa e que mistura erotismo com reflexões políticas do momento). Além disso, não compreende direito a importância de Cecília Meirelles dentro da linha humanista de sua “poesia engajada”, preferindo classificá-la segundo as regras contidas em um parágrafo limitado em termos cognitivos, de autoria de Gilda de Mello Souza (por coincidência, também conhecida como sra. Antonio Candido), em que “a vocação da minúcia, o apego ao detalhe sensível na transcrição do real” são “características” que “derivam da posição social da mulher”, cuja “visão” é de míope, “no terreno que o olhar baixo abrange” nas “coisas muito próximas” e assim “adquirem uma luminosa nitidez de contornos”.
Vejam bem: em nenhum momento Murilo Marcondes de Moura demonstra um desrespeito a esses poetas. Pelo contrário: ele os respeita até demais. A questão é outra. Ele não consegue perceber que a poesia de circunstância feita por essas pessoas só era circunstancial graças à “visão de míope” do próprio crítico que a classificou dessa maneira. Trata-se de uma recusa deliberada de perceber a grandeza de qualquer experiência humana que foi obrigada a viver a sua travessia do extremo. O problema é que isso é suportável no âmbito da crítica literária – mas não quando reparamos isso na obra de uma grande poetisa, como foi o caso de Orides Fontela. Contudo, tanto O Mundo Sitiado e a última amostra do artesanato poético da artista “maldita”, em especial Teia, mostram essa inusitada convergência – que, de certa forma, é o registro de um salto no ser particular do que se passou (e ainda se passa) na imaginação da sociedade brasileira. Temos aqui a evidência do que acontece quando o “anti-indivíduo” toma conta de todos os estratos da opinião pública, do mais sofisticado até o mais humilde, dando um passo além na sua ambição de dominar o que ainda não respira o seu ar rarefeito. Incuba-se assim o espectro do “provincianismo intelectual” já denunciado por T.S. Eliot desde a década de 1940, no qual ser “provinciano” não significa “não possuir a cultura ou o requinte da capital”, muito menos ser “estreito no pensamento, na cultura e no credo”. É algo além — e mais trágico para a cultura de uma nação que se pretenda saudável. Refere-se “também a uma distorção de valores, à exclusão de alguns, ao exagero de outros, que resulta, não de uma falta de ampla circunscrição geográfica, mas da aplicação de padrões adquiridos dentro de uma área restrita, para a totalidade da experiência humana, que confundem o contingente com o essencial, o efêmero com o permanente. […] É um provincianismo, não de espaço, mas de tempo […], a propriedade da qual os mortos não partilham. [Sua ameaça] é que podemos todos, todos os povos do mundo, ser provincianos juntos; e aqueles que não estiverem satisfeitos podem apenas tornar-se eremitas”.
Eliot previu uma das consequências mortais de quem não entende direito o que é o verdadeiro perigo de se viver sempre no Extremistão: não se trata do globalismo do poder econômico ou do poder político, mas sim o da pequenez intelectual. No entanto, ser um eremita para escapar desta prisão perpétua psíquica é apenas mais um lado do “anti-indivíduo” que vislumbramos na vida e na poesia de Orides Fontela. Neste ponto, é melhor abraçar definitivamente a “alegria dos náufragos” de Giuseppe Ungaretti e encarar o que o mundo nos reserva, sem apelar para falsos exílios em seus jardins das delícias contemporâneos, tal como promulgava Epicuro, e que hoje estão disfarçados em liceus de ensino, seja no aspecto virtual (por meio da internet ou das redes sociais), seja na criação efetiva de campus educativos. E aqui temos de analisar a forma mentis primordial dessas instituições que, consciente ou inconscientemente, cooptaram espiritualmente os talentos de Orides e de Murilo Marcondes de Moura, e que se transformaram nos redutos epicuristas do nosso tempo – as universidades, mais especificamente uma delas, a Universidade de São Paulo, também conhecida pelo carinhoso acrônimo de “USP”.
[CONTINUA]
______
NOTA
[1] Este tópico é uma versão reescrita e expandida de um ensaio meu chamado “Giuseppe Ungaretti e a Alegria dos Náufragos”.
Martim Vasques da Cunha
Autor de Crise e utopia: O dilema de Thomas More (Vide, 2012) e A poeira da glória (Record, 2015). Pós-doutorando pela FGV-EAESP.