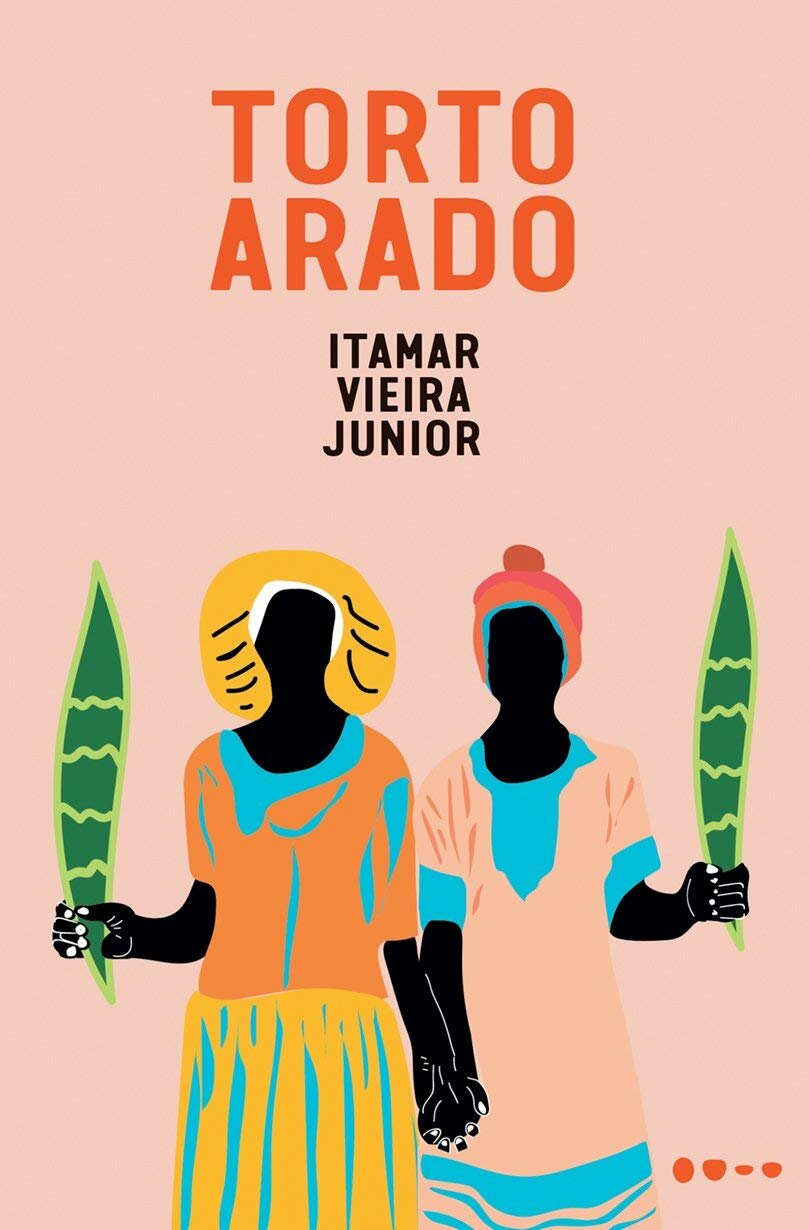Entre o sexo banalizado e a proteção irrefletida do casamento, parece que não temos saída

“Missionário evangélico carioca, genro de Baby Consuelo, prega castidade até o casamento e dá conselhos aos fieis. iG selecionou os dez mais curiosos”
É com essa frase que o Último Segundo apresenta a reportagem sobre o “culto dos príncipes” na igreja evangélica de Claudio Brinco, o referido genro da cantora Baby Consuelo (ou Baby do Brasil). “Os dez mais curiosos”, diz o texto, sem esconder a vontade de usar outras frases mais adequadas ao espírito da sua abordagem, como “os dez mais bizarros” ou “os dez mais estranhos”.
Brinco é um missionário da chamada Igreja Celular Internacional. Sua pregação no “culto dos príncipes” é muito clara: os homens são príncipes e as mulheres são princesas. Qualquer contato sexual de um casal, antes do casamento, precisa ser evitado com toda a obstinação. Mesmo os beijos de língua devem ficar para depois. Desse modo, precaver-se contra as tentações da libido acaba sendo o grande tema do “culto dos príncipes”. Os rapazes oram e pedem orientação para saber lidar com as mulheres e o seu desejo por elas. Claudio Brinco responde a tudo. Em contrapartida, o “culto dos príncipes” possui uma versão feminina: o “culto das princesas”, comandado por Sarah Sheeva, filha de Baby Consuelo e cunhada de Carlos Brinco.
Mas o mais interessante na reportagem da iG, com certeza, não é o seu assunto. A afirmação do princípio da castidade é bastante comum no discurso religioso dominante, tendendo a aumentar conforme o grau de fundamentalismo da filiação. Quanto mais fundamentalista é a igreja, mais a consciência individual e a moralidade dos adeptos são submetidas a uma interpretação do texto bíblico que se pretende objetiva e incontestável. O cenário religioso tem numerosos exemplos de fundamentalismo.
O mais interessante da reportagem é ela mesma, o seu despreocupado tom de condenação, a sutil facilidade com que o texto vai expondo a fixação dos fiéis pela castidade como uma curiosidade entre o cômico e o ridículo. Do título da reportagem, em que o “culto dos príncipes” torna-se “culto dos virgens”, até o quadro final, em que as falas do pastor são apresentadas como “As dez pérolas do Brinco”, o ponto de vista do texto é evidente: Virgindade hoje? Só podemos rir e desacatar quem se entrega a esse tipo de pregação! Tanto o pastor como os fiéis são motivos de chacota.
Há também, claro, as insinuações de que a Igreja Celular Internacional é uma instituição com interesses financeiros escusos. Porém, como toda insinuação baseada em estereótipos, este tema é tratado com superficialidade. Acusa-se que a pastora vende CDs a vinte reais na saída da igreja. O pastor usa um iPad para acessar a Bíblia. Mas, e daí? Ficamos longe de um argumento consistente para criticar a relação econômica da igreja com os seus fiéis. Predomina, no texto, um “senso comum esclarecido” contra os empreendedores do fundamentalismo religioso. Rejeita-se o baixo nível dos seus rituais, mas sem nenhum interesse por investigar, de fato, a maneira pela qual eles estabelecem uma prática financista de dominação no Brasil de hoje.
Questionar o tom jocoso da reportagem do Último Segundo não significa defender o fundamentalismo religioso. Trata-se, sim, de contestar a demanda do texto jornalístico pelo deboche estéril, pela conformação dos entrevistados a estereótipos e pela indignação pré-fabricada que os leitores são instigados a produzir durante a leitura, devidamente registrada nos mais de 70 comentários ao texto.
A igreja da família Consuelo é uma recém-nascida se comparada a outras instituições que ligam o sexo ao casamento, mas a aproximação antipática da mídia ao seu discurso de abstinência não é tão diferente do que se dá com as demais, como a Igreja Católica. Qualquer declaração mais incisiva de Bento XVI sobre o assunto, por exemplo, tende a ser enunciada na cobertura convencional como mais uma fantasia caduca daquela corporação que pretende controlar o corpo alheio, impondo regras de comportamento numa época que se quer acreditar livre delas.
Tratar a castidade religiosa como uma prática atrasada e repressiva, como nesses casos, seria impossível sem a revolução sexual por que passou o ocidente entre os anos 1960 e 1970. Agora, o indivíduo é soberano, o prazer é quase uma obrigação (tanto quanto o sofrimento deve ser evitado), e todo tipo de elogio a ritos acaba soando como uma tentativa de afastar as pessoas da verdade sobre a condição humana no mundo. O sexo é uma banalidade, entre outras, no repertório das imagens de todos os dias. E é muitíssimo interessante que Baby do Brasil, justamente um ícone da música brasileira inspirada na contracultura dos anos 1960-70, esteja agora no comando de uma igreja que preza tanto a castidade!
A ironia para com a castidade em uma matéria jornalística não apenas se tornou possível pela incorporação de uma ideia de liberdade que esteve na essência da revolução sexual. Os anos 1960 e 1970 viram o fortalecimento da sociedade da comunicação que, na nossa década, é bem mais complexa e totalizante do que se poderia imaginar naquela época. Esse fortalecimento só foi possível porque a comunicação obteve sucesso em domesticar as críticas que pretendiam destruí-la, como a da falta de liberdade sexual que uma sociedade conservadora impõe aos seus membros. Ela estaria refletida nos produtos dominantes da mídia. Quem não se lembra do pudor indestrutível do protestante Griffith no começo do cinema? O seu cinema antecipou toda uma época na qual os dramas de família mostraram exemplarmente os equívocos das mulheres que desrespeitam a estrutura familiar. Que o diga a Marlene Dietrich de Vênus loira (1932), um clássico deste gênero, filmado por Josef von Sternberg.
O que se descobriu, contudo, é que a comunicação não é poderosa apenas pelo poder repressivo de suas imagens. Ela é poderosa porque suporta as forças contraditórias que constituem as relações reais entre as pessoas, tornando homogêneos os conflitos. Eis que, em casos como o da matéria do Último Segundo, um conservador – em especial um protestante da Igreja Celular – poderia considerar a mídia uma libertina, uma demolidora de valores.
O problema não é o padrão moral de uma “mídia” que, na verdade, não poderia ser descoberta apenas em abstrato. Este padrão é variável.
No clássico A sociedade do espetáculo, de 1967, Guy Debord via nos meios de comunicação a sedimentação de um espetáculo que é “ao mesmo tempo o resultado e o projeto” do modo de produção capitalista. Como se sabe, o capitalismo não foi derrotado, e o espetáculo, cada vez mais, é um fim em si mesmo. Resultado e projeto de realidade, todo conteúdo social converge para ele. Não há feministas nuas pelo “direito ao próprio corpo” sem que as câmeras estejam ligadas e apontadas em sua direção. Tiranias históricas são combatidas pelas redes sociais, comprovando que as novidades técnicas são mais determinantes para as grandes mudanças do que as ideologias. E como toda técnica é também um modelo de interação de pessoas, o espetáculo é o verdadeiro vitorioso dos embates que vivemos desde que ele surgiu.
Usando um conceito que o filósofo italiano Mario Perniola desenvolve em seu ótimo trabalho de releitura dos anos 1960, enquanto o discurso midiático banaliza o enigma da realidade, a resposta do fundamentalismo religioso resvala para um obscurantismo anti-intelectualista que em nada modifica a situação criada pela já antiga sociedade do espetáculo. O cristianismo originalmente possuiria um potencial de resistência à banalização mistificadora, pois está fundado na narrativa dos apóstolos, e não na literalidade das palavras do próprio Cristo. Contudo, o sucesso dos pastores personalistas, verdadeiras estrelas da TV aberta que medeiam as verdades da fé para seus espectadores, já é suficiente para ver esse potencial sucumbir por inteiro. O destino dessas igrejas acaba efetivamente no controle da realidade convertida em imagem, dispensando o momento da reflexão, do recolhimento e da fortaleza construída pela percepção e sustentação dos contrários. O que importa, em vez disso, é o estatuto de verdade ou mentira daquilo que é comunicado, jamais o desenvolvimento de uma experiência pela qual as pessoas, por si mesmas, apropriam-se do verdadeiro.
Não é por acaso que o fundamentalismo evangélico se esforçou tanto para edificar os diversos canais de televisão ou jornais impressos que possuem no Brasil. Dominando o seu próprio aparato, os evangélicos podem se esquivar da cobertura convencional, com suas tendências hoje predominantes, incluindo a linha “libertária” que reflete o hedonismo da democracia capitalista – e faz do sexo uma ótima mercadoria. Na Igreja Católica, essa estratégia de contra-ataque é menos presente, dada a força do tradicionalismo conservador, mas também se manifesta na escola carismática de personalidades como o Padre Marcelo Rossi, que conquistou seu lugar cativo na mídia comum nos anos 1990 (ao custo de adaptar os ritos católicos às formas da indústria cultural).
O discurso condenatório da reportagem do Último Segundo e o fundamentalismo da Igreja Celular Internacional, no fundo, são dois concorrentes. Eles disputam calorosamente o controle do espetáculo. Ao estardalhaço sonoro dos hinos cantados no “culto dos príncipes”, a reportagem responde com as suspeitas histéricas e as tiradas irônicas contra a ignorância dos que seguem aquela ideia de castidade. Dos dois lados, fiéis e leitores de magazine se comprometem com um modelo de comportamento que descarta a possibilidade de as pessoas conhecerem o sexo ou a fé sem a mediação intensiva e totalizante do espetáculo. Entre o sexo banalizado e a proteção irrefletida do casamento, parece que não temos saída.
No cenário que esse exemplo permite comentar, a relação de diferentes segmentos da esquerda com a centralidade das imagens é um ponto de verdadeira curiosidade. Por um lado, parte da militância assume o legado daqueles críticos que pretenderam intervir no espetáculo em torno do maio de 1968. Com o apoio relativo da esquerda administradora, que o PT representa tão bem no Brasil, esse grupo dá continuidade, por exemplo, à crítica dos hábitos burgueses, do “patriarcado” ou da falta de liberdade sexual. O limite desse engajamento está no fato de que o espírito do capitalismo já não é tão puritano quanto aquele da época de Weber, e o espetáculo não é simplesmente um regime mentiroso, como queria Debord, mas sim um regime que se instala na própria separação entre verdade e mentira. Os belos seios daquela feminista que se transforma em imagem “pelo direito ao corpo” não abalam em nada a realidade. Bem ao contrário, o seu gesto reivindica a participação ativa no real, que é o real do espetáculo. Ele legitima a configuração interna do sistema, já que fala “de dentro” do espetáculo em nome de uma verdade que estaria oculta no conservadorismo da mídia “patriarcal”.
Por outro lado, uma esquerda adversária desta militância “culturalista” mantém-se firme no apoio às lutas sociais contra um capitalismo que, aos seus olhos, continua demasiadamente parecido com o que ele definitivamente já não é. Rejeitam a crítica da imagem como se a comunicação no mundo atual fosse apenas um elemento da realidade, e não a própria incorporação das lutas sociais em uma ordem de sociabilidade que situa o real no seio do espetáculo. Profundamente igualitaristas, estes militantes não raro professam um anti-intelectualismo que tem origem na decepção com a burocracia dos antigos partidos comunistas, compreendendo que a crítica não pode ficar a cargo de “dirigentes” e “gestores” profissionalizados na tarefa evasiva de negociar com o governo dos ricos.
Este anti-intelectualismo é o sinal trocado de um “espontaneísmo” contra Gramsci: se há mudança possível, ela virá da autogestão das massas, e não pelas mãos de qualquer intelectual orgânico – mesmo autores de notável sofisticação em suas leituras da tradição marxista, como o francês Jacques Rancière, não deixam de flertar com essa ideia. O seu limite está no fato de que toda organização das pessoas com potencial para modificar a ordem social vai passar cada vez mais pelas imagens. E apenas uma defesa intransigente do “intelecto”, ou seja, justamente dos ritos que podem acolher a diferença, vivificando a reflexão em patrimônios como a filosofia ou a arte (tudo o que de melhor o espírito humano produziu e produz), será capaz de salvar essas imagens de tornarem-se apenas mais um dado banal do confronto entre a verdade e a mentira. Sem essa alteração qualitativa, o destino do espetáculo só pode ser a sua própria banalidade formal, apta a atingir e formatar todos os conteúdos.
Ou a imagem é colocada no centro das preocupações de quem ainda se interessa pelo mundo, ou ela provavelmente colocará a todos na margem do que o mundo passou a ser por meio delas.
Rodrigo Cássio
Professor e pesquisador. Autor de Filmes do Brasil Secreto (Ed. UFG).
mail@revistaamalgama.com.br