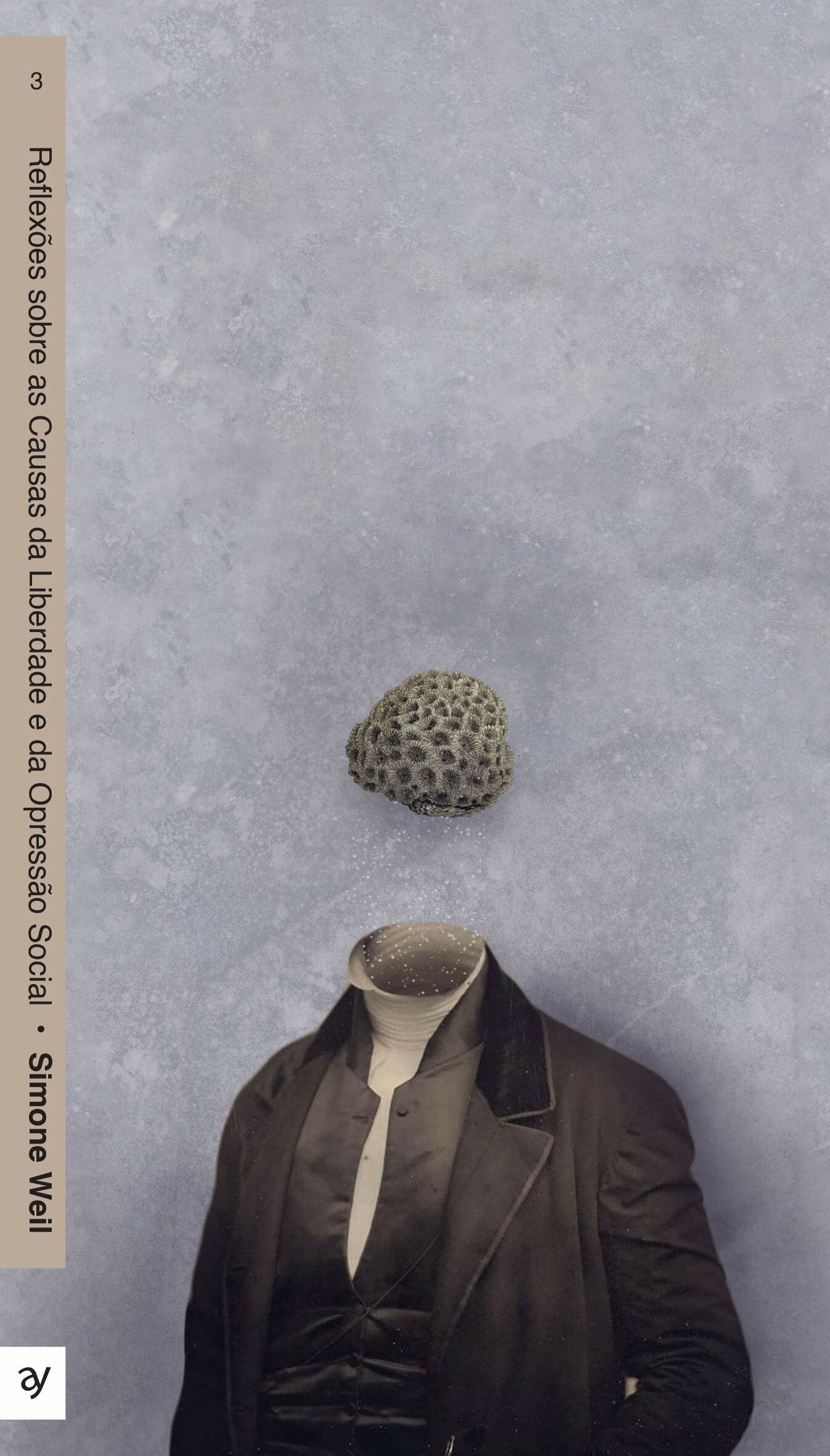Em nossas universidades, o ato de amor filosófico é substituído pelo ato da dúvida constante e, por mais paradoxal que seja isso, inabalável.
“This is the water, this is the well, drink full and descend;
the horse is the white of the eyes and dark within.”
David Lynch & Mark Frost (Twin Peaks – The Return, ep. 08)

Alunos no Conjunto Didático de Filosofia e Ciências Sociais da USP [foto: Cecília Bastos/USP Imagem]
10.
As universidades sempre foram o local privilegiado de uma luta sutil pelo poder de mandar e pelo poder de influenciar as pessoas. Na verdade, essa mesma luta disfarça outro poder: o que vem da transmissão do conhecimento e, portanto, como ela afeta os fundamentos da imaginação daquilo que chamamos de “sociedade civil”. Se, por um lado, há algo inegavelmente benéfico neste tipo de conhecimento que surge da academia, por outro temos também de prestar atenção aos impasses que ocorrem na relação entre esses dois pontos.
O conceito atual de universidade nasce na Idade Média, por volta dos séculos X-XI, com o surgimento das cidades, os burgos europeus. O seu auge é no século XIII – no qual as cidades já se desenvolveram o suficiente para se afirmarem como centros comerciais, onde a escrita começa a ter o seu fascínio em relação ao ensinamento oral, dando os passos decisivos à criação de uma tipografia impressa. A universidade, como o próprio nome indica, é uma corporação formada a partir da iniciativa independente de grupos de estudiosos, na qual se reunirão para divulgarem e unificarem as matérias gerais sobre as quais o mundo era supostamente ordenado.
Durante o período medieval, as universidades europeias passam a ser o próprio centro urbano de discussões que ocorriam entre sujeitos que não eram reis nem nobres. Tais discussões eram literalmente questões de vida e morte, com direito a embates que aconteciam nas salas de aula, mas que também se estendiam às ruas, com violentos duelos e até mesmo revoltas sociais. O que era insólito era o motivo principal desses embates, pois seria o que hoje consideraríamos como meras questões intelectuais – se, por exemplo, a obra de Aristóteles era herética ou não, se Platão teria demonstrado ou não a imortalidade da alma e, claro, se a querela dos universais era a única coisa que importava. O que havia mesmo de importante nesses embates era se a vida tinha ou não um sentido além dessa confusão que todos vivenciavam no cotidiano, seja na Idade Média, seja neste século XXI, repleto de extremos.
Essa movimentação frenética acontecia também porque as universidades se transformaram em um novo lugar de disputa pelo poder político, subordinado ao poder que vem do conhecimento. Dessa maneira, a vida universitária proporcionava uma forma de ascensão social por meio do estudo e do cultivo do pensamento filosófico, uma vez que, se ao falarmos hoje no termo “universidade”, pensamos em um prédio ou um centro único de ensino, temos de entender que, no caso das universidades europeias medievais daquela época, inicialmente tratava-se de “grandes agrupamentos de professores e alunos das escolas (universitas magistrorum et scholarium), submetidos à autoridade de um chanceler”. Segundo Julián Marías em História da Filosofia, elas se estruturaram “em torno de quatro campos de conhecimento que, depois, originaram as primeiras faculdades de ensino: de teologia, de artes (era nesta categoria que se ensinava a Filosofia), de direito e de medicina”. Os estudantes e os professores de artes “eram os mais numerosos e, pouco a pouco, giravam em torno de um professor de maior autoridade, o reitor, que começou a substituir o chanceler – e que, depois, concedia, junto com seus pares, os graus de bacharelado, de licenciatura e do doutorado, subdividido em doctor (doutor) e magister (mestre)”.
Esse modelo foi observado na Universidade de Paris, fundada no início do século XIII. Nesse tipo de organização, continua Marías, “todos tinham de se reportar a dois soberanos: ao rei da França e ao Papa. Ambos sabiam da importância deste novo centro de poder e não foi por acaso que Inocêncio III foi um dos seus grandes protetores nos primeiros anos dela”.
A outra universidade que acompanhava a de Paris era Oxford. Em vez de sublimar a direção lógica e metafísica e a subordinação à Teologia, como era feito em Paris, Oxford utilizava a Matemática e a Física de Aristóteles como base de estudos, além de preparar o nominalismo de Ockham e o empirismo inglês da época moderna. Julián Marías salienta a diferença entre esses dois métodos de ensino, o de Paris em relação ao de Oxford, ao comentar que esta última universidade constitui-se como um centro intelectual, distinto do da França, em que se mantêm muito vivas as tradições platônicas e agostinianas, e onde se cultivava também o aristotelismo, mas com ênfase, sobretudo, no aspecto empírico e científico do seu sistema.
11.
Já no Brasil, conforme expliquei em A Poeira da Glória, graças aos anos de influência portuguesa da Ordem dos Jesuítas em um ensino que privilegiava a retórica jurídica em vez da observação desapaixonada da realidade que marcou Paris e Oxford, as universidades daqui se transformaram em um palco para a exatidão dos estudos e o adorno das palavras. Esta foi a educação formal que boa parte da elite intelectual lusitana teve no Colégio das Artes, dominado pelos jesuítas desde 1555, e que era a passagem dos estudos menores pela qual depois iam à Universidade de Coimbra, cujo controle também estava na mão da Ordem. Este tipo de educação retirava qualquer espécie de componente ético do ensinamento dos filósofos clássicos, como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, escolhendo apenas a casca dos conceitos e os raciocínios que não tinham nenhuma conexão com uma realidade vital. Era um tipo de paideia ao avesso que agradaria somente à sensibilidade do “indivíduo manqué”, na qual as disputas filosóficas serviriam apenas para treinar um intelecto autossuficiente.
Depois da expulsão dos jesuítas de Portugal, promulgada pelo Marques de Pombal, em 1759, esperava-se uma mudança de mentalidade no Colégio das Artes e na Universidade de Coimbra, mas nada disso aconteceu. A atração pelo ornamento se intensificou, mudando apenas do interesse humanístico para o estudo aprofundado da ciência como uma aplicação prática, e que finalmente colocaria Portugal no círculo dos eminentes filósofos iluministas da França.
Em termos culturais, a França foi a principal vitoriosa com a expulsão dos jesuítas na formação educacional portuguesa, porque ocorreu um vácuo que deixou tanto a Metrópole como a Colônia sem nenhum norte intelectual a ser seguido. Este vazio provocado pela saída da Ordem de Inácio de Loyola permitiu que a cultura francesa surgisse, no início do século XIX, como a orientação definitiva nos assuntos do pensamento. Contudo, e aqui se trata especificamente do que aconteceu no Brasil a partir deste momento, os portugueses e os brasileiros não decidiram pela França de Montaigne e Rabelais, que tinham consciência de uma realidade mais concreta, muito menos pela França de Descartes e Voltaire, que, por mais que fossem obcecados com o “monismo da razão”, ainda assim preocupavam-se com uma perspectiva metafísica (mesmo que fosse numa vertente negativa, como veremos em breve) no fundamento do seu questionamento filosófico. Não, a França escolhida foi a do romantismo e suas variantes – a da Inglaterra, com a morbidez de Lord Byron, e a alemã, com o idealismo totalizante de Schiller, Novalis e do primeiro Hölderlin (algo evidente na poesia de Orides Fontela).
No caso específico do Brasil, a França foi alçada a uma espécie de “antepassado espiritual”, cortando de vez seus vínculos com Portugal, em um movimento com claras tendências políticas que tinha muito a ver com a independência promulgada em 1822. Mas o vírus da retórica persistia – e por uma questão de simples afinidade. Pois, se o Romantismo francês foi uma reação contra o “monismo da razão”, no qual o pensamento iluminista insistia como a única possibilidade de entender a realidade, a ênfase caía na sensibilidade deturpada do “indivíduo manqué” que tinha de se virar neste mundo repleto de traições, jogando como única arma a sua emoção particular contra a racionalidade imparcial, revelada agora como um sonho que despertava os monstros presos na nossa vida interior, igual ao famoso desenho de Goya. A união inusitada do sentimentalismo do “indivíduo manqué” com o amor pela casca das palavras vazias do português, corrompido pela Contrarreforma jesuítica, somada ao “triunfo do eu subjetivo sobre o mundo objetivo, um desejo de espaços livres, uma nostalgia de terras distantes e de épocas longínquas” do brasileiro (nas palavras certeiras de Mario Vieira de Mello em Desenvolvimento e Cultura), criou o pesadelo da retórica que, no fim, domina a própria descrição do mundo. Esta fantasmagoria tornou-se não só um instrumento para que o intelectual convencesse o seu público de que os seus sentimentos eram os melhores e os mais nobres, mas também um instrumento de poder porque, graças às suas habilidades puramente técnicas, ele provaria finalmente que tinha todas as condições necessárias para mudar o país que, antes de qualquer coisa, deveria avançar no progresso e na libertação de uma nacionalidade ainda incipiente.
12.
É neste ambiente que surgiu a criação, em 1827, dos cursos jurídicos no Brasil, em especial na então provinciana cidade de São Paulo. Com isso, conforme descreve Roberto Pompeu de Toledo em seus dois volumes sobre a fundação e o desenvolvimento do município, A Capital da Solidão e A Capital da Vertigem, o local “ganhou um novo sopro de vida”, pois, por mais modesta que fosse a pretensão de se ter uma Academia de Direito (como então era conhecida), ela viria revitalizar a cidade e trazer algum movimento às ruas. São Paulo tinha perdido a sua vocação metropolitana “desde que caducara seu papel de ponto de partida das expedições da conquista dos sertões, mas, com a fundação da Academia, “ganhava nova atribuição e, em consequência, nova personalidade. Passava a ser centro de estudantes. Isso queria dizer, por um lado, que receberia uma injeção de juventude e, vá lá, embora a palavra seja exagerada, de cosmopolitismo, com a afluência de alunos de diversas partes do país. Por outro – grande novidade, em sua simplória existência –, que passaria a abrigar algum tipo de vida intelectual”.
Essa nova vida intelectual tinha suas idiossincrasias. Em Paulística, etc., o historiador Paulo Prado (membro da família mais tradicional da cidade e um dos futuros mecenas da Semana da Arte Moderna de 1922) conta que os estudantes daquela época “levavam a loucura aos mais incríveis extremos. Ceavam e embriagavam-se com morféticos acampados nas imediações da cidade. Um poeta apanhou a terrível moléstia nessas saturnais do byronismo [leia-se: a tuberculose]. Outros se perderam no alcoolismo barato, que sempre foi de moda na velha academia paulistana, ou devorados pela sífilis das cafuzas e sararás, que pululavam à noite nas ruas escuras da Pauliceia, comparsas repugnantes nos ponches das vendas ou nos ‘banquetes negros’ dos cemitérios. Um destes ficou assinalado nos anais acadêmicos. Fora organizado por uns trinta rapazes sobre as pedras tumulares da Consolação e ao clarão de uma lua romântica embaciada de garoa. Esquentados pelo conhaque, resolveram aclamar uma Rainha dos Mortos. Violaram uma sepultura recente para dela retirarem um caixão levado a cidade em procissão ao som de um cantochão de defuntos e à procura de alguma pobre coitada que se prestasse à macabra comédia. Trouxeram-na à força, fechada no caixão ainda sujo de terra e molambos de carne; desceram-no entre cantos e recitativos até o fundo da cova e aí ia realizar-se o ajuntamento simbólico, quando se verificou que a desgraçada tinha realmente sucumbido no pavor de tão fúnebre encenação. ‘Osculei um cadáver’, rugiu entre horrorizado e triunfante o ‘noivo do sepulcro’, soltando a demoníaca gargalhada da época”.
Não à toa que foi este tipo de independência de comportamento – se quisermos chamá-lo assim – que pôs em alerta o governo da Corte carioca. Disfarçada de apelo às belezas e às facilidades logísticas do Rio de Janeiro, a oposição à existência da Academia em São Paulo tinha ninguém menos que gente do calibre de um José da Silva Lisboa, o deputado que mais tarde seria conhecido como Visconde de Cairu, também um reputado economista. Ele argumentava que “o porto de Santos jamais será tão frequentado como o do Rio de Janeiro, para dar iguais facilidades” ou então que “a viagem por terra a São Paulo é detrimentosa” – e mais: que “a importação de livros e instrumentos é difícil”, além do fato de que, justamente por ter rios em abundância naqueles anos, a cidade podia ser o palco de “moléstias endêmicas” que poderiam durar por meses. Como se isso não bastasse, o deputado alegava defender a “pureza e a pronúncia da língua portuguesa”, pois, segundo sua visão, “nas províncias há dialetos, com seus particulares defeitos” e, no caso de São Paulo, era “reconhecido que o dialeto [da cidade] é o mais notável”. Portanto, se “a mocidade do Brasil” queria fazer aí os seus estudos, logo “contrairia pronúncia mui desagradável”.
Esses motivos eram, na verdade, desculpas para que a construção do saber da nação ficasse sob os auspícios da Corte, jamais em uma província cujo povo era conhecido por seus arroubos de audácia de realização, ousadia de empreender e de questionamento político – uma herança que vinha desde os tempos dos intrépidos bandeirantes. Por isso, a questão do sotaque paulista – ou paulistano – era apenas um subterfúgio, mas que, no clima intelectual brasileiro, tornou-se uma verdadeira justificativa para impedir a criação da Academia ou então mais uma razão boba para colocá-la ou no Rio, ou em Olinda.
A princípio, era para se ter uma faculdade tanto neste último local como em São Paulo – mas foi na “plúmbea capital” que prevaleceu a escolha. O prédio a ser selecionado para sediar a faculdade foi um dos conventos mais tradicionais da cidade, uma vez que ele tinha construções amplas e, por não terem mais frades, extremamente subaproveitadas. Era o convento de São Francisco que, ao contrário dos do Carmo e São Bento, não exigia tantas reformas. Segundo Pompeu de Toledo, o convento em questão tinha “antigas celas e outros cômodos” que “distribuídos em dois níveis, poderiam ser transformados em salas de aula ‘sem demolir nada e sem vexame dos frades’”. […] No primeiro ano de funcionamento da faculdade, [os frades] ainda ocuparam um canto da construção, e partilhavam com os estudantes o único acesso ao prédio, a portaria situada no vestíbulo da igreja. Logo, porém, o prédio todo passou ao uso exclusivo da Academia. Uma conquista, para o espaço urbano, foi o fato de se ter eliminado a cerca que os padres mantinham muitos metros à frente do convento, reservando toda a área compreendida nesses limites para seu uso, como quintal. Agora esse pedaço virava público, e o largo de São Francisco ficava realmente largo”.
Assim, uma das denominações da faculdade de Direito passava a ser o local onde existia – o famoso “Largo do São Francisco”, ou, mais recentemente, conhecido pela abreviação “SanFran”. 66 anos depois, em 1893, criavam-se os braços institucionais do ensino técnico, com duas instituições modelares – a Escola Politécnica e o Liceu de Artes e Ofícios, ambos criados pelo arquiteto Ramos de Azevedo (junto com o engenheiro e amigo Antônio Francisco de Paula Sousa), também idealizador dos dois prédios que seriam as sedes das duas faculdades. A Politécnica foi a segunda escola de nível superior de São Paulo, e sua criação demonstra que o medo dos parlamentares cariocas tinha algum fundamento, pois ela demonstrava uma mudança no status da cidade – e uma diferença fundamental de procedimento. Enquanto, em 1827, “São Paulo ganhou a Academia de Direito por ser uma cidadezinha sossegada, propícia ao recolhimento a um ambiente de estudos”, em 1893 a Politécnica (e, por consequência, o Liceu) São Paulo “ganhou pela razão contrária de ter-se tornado um centro dinâmico, já razoavelmente populoso e portador de grandes ambições. No caso da Academia de Direito, São Paulo foi escolhida para sediar uma instituição projetada e financiada pelo governo imperial. No caso da Escola Politécnica, a própria São Paulo, por meio do governo estadual, outorgava-se a instituição”. As duas instituições se completavam em suas funções técnicas – a “Politécnica como formadora de engenheiros e o Liceu de Artes e Ofícios como preparador de artesãos, muitas vezes fabricantes de peças que seriam usadas nas construções projetadas pelos engenheiros, ou os ‘engenheiros-arquitetos’”.
Foi somente em 1934, depois de nove anos de conversas e negociações entre o interventor Armando Sales de Oliveira e seu cunhado Júlio de Mesquita Filho, dono do jornal O Estado de S. Paulo, que resolveram unir tanto a Academia de Direito como a Politécnica e o Liceu. Sales de Oliveira fôra nomeado naquele mesmo ano pelo presidente Getúlio Vargas, então em seu governo provisório que já durava desde a Revolução de 1930 e que se mantinha firme, apesar da Revolução Constitucionalista de 1932, liderada pela “província rebelde” paulista. Tanto Mesquita como Armando tinham como modelo de gestão educacional um “inquérito sobre a instrução pública em São Paulo” organizado pelo O Estado em 1925 e conduzido pelo professor, educador e crítico literário Fernando de Azevedo. A conclusão deste relatório era triste. Depois de ter recolhido, durante quatro meses, vários depoimentos de professores secundários e das faculdades de Direito, Medicina e Engenharia revelava-se que o estado de coisas na educação era absolutamente deplorável – e o principal motivo disso era a ausência de uma “elite orientadora”. A solução que surgiu foi igualmente elaborada em uma súbita iluminação – a de que essa “elite” só poderia surgir de uma universidade que formasse quadros para o magistério. As duas revoluções políticas que atingiram o Brasil no início da década de 1930 impediram a frutificação desse projeto, já que, por exemplo, os Mesquitas foram obrigados a se exilar; mas, depois da anistia dada pelo governo Vargas, ele ressurgia com nove anos de atraso e com força redobrada.
A pedido de Mesquita e Sales Oliveira, Fernando de Azevedo, agora diretor-geral de Instrução Pública, redigiu um novo projeto, feito em apenas quatro dias e, no dia 25 de janeiro de 1934, aniversário em que São Paulo completava 380 anos, o interventor “assinou o decreto n. 6283, o qual, considerando que ‘a cultura filosófica, científica, literária e artística’ constituem as bases da ‘liberdade e da grandeza de um povo’; considerando que ‘somente por seus institutos de investigação científica de altos estudos, de cultura livre, desinteressada, pode uma nação moderna adquirir a consciência de si mesma’; ‘considerando que a formação de classes dirigentes’ é imprescindível ‘à organização de um aparelho cultural e universitário que ofereça oportunidade a todos e processe a seleção dos mais capazes’; e considerando que ‘em face da cultura já atingida pelo estado de São Paulo […] é necessário e oportuno elevar a um nível universitário a preparação do homem, do profissional e do cidadão’, criava a Universidade de São Paulo” – a USP.
13.
A grande novidade deste feito era que, pela primeira vez, fundava-se uma universidade no Brasil não como uma reunião de instituições já existentes (como foram os casos da Universidade do Brasil, criada em 1920 e sediada no Rio de Janeiro, e em 1927 com a de Minas Gerais), e sim “como um todo orgânico, centralizado numa faculdade de Filosofia, Ciências e Letras”, destinada “à pesquisa pura e à formação de professores” que, junto com as faculdades de Direito, de Engenharia, de Medicina, de Farmácia e Odontologia, além de Agricultura, deveriam ser centralizadas em um campus único. Mas, além disso, havia também outra novidade, mais sutil e, por isso mesmo, mais assombrosa: o discurso de Sales Oliveira abraçava plenamente a noção de uma corporação extremamente moderna (para não dizer modernista) que, por meio de uma elite de escolhidos, deveria aperfeiçoar, a qualquer custo, a existência terrena dos “anti-indivíduos” que já pululavam em todos os cantos. O único problema é que a tal “Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras” – que não aceitou ficar no campus único e preferiu continuar nas dependências do centro de São Paulo, indo para a Praça da República, e depois, no final da década de 1940, a famosa Rua Maria Antônia – era também composta, entre sua casta educacional, dos mesmos “indivíduos manqués” que geravam o fracasso civilizacional em que ainda estávamos submersos. Logo, para escapar do impasse da deficiência na formação dos nossos próprios professores (já naquela época obcecados em manterem os seus respectivos status quo), a saída mais fácil foi, por meio de uma proposta de Júlio de Mesquita Filho, permitir a contratação de professores estrangeiros. Com a ajuda de George Dumas, professor de psicologia da Universidade de Paris e amigo de Mesquita, um grupo de jovens europeus foi contratado para formarem os quadros e o currículo da incipiente Faculdade – e, entre eles, sujeitos que depois se tornariam célebres na Europa, como Claude Lévi-Strauss e Giuseppe Ungaretti.
Contudo, o italiano Ungaretti foi uma exceção, uma vez que a maioria dos docentes que chegou à Universidade de São Paulo vinha da França. Era, de fato, uma verdadeira “missão francesa”, como depois a chamariam, que, segundo Heloísa Pontes, no livro Destinos Mistos, serviria para “impulsionar a ruptura com a mentalidade jurídica vigente nos centros tradicionais de ensino superior do país, de onde até então saía ‘boa safra de figuras de destaque nas carreiras literárias não científicas, em especial literárias’. Por serem ‘treinados nas regras e costumes da competição acadêmica europeia’, [esses docentes] empenharam-se para instituir aqui ‘um elenco de procedimentos, exigências e critérios acadêmicos de avaliação, titulação e promoção’”.
Ou seja: se antes os estudantes trocaram a retórica jesuítica pela técnica racional do iluminismo, agora mergulhavam de cabeça no epigonismo do método cartesiano. Como complemento, ganhavam de presente professores franceses que, de acordo com a avaliação de Fernanda Peixoto (citada por Pontes), eram “jovens em início de carreira, principalmente aqueles que chegaram antes da guerra – como Jean Maugué, Claude Lévi-Strauss, Pierre Monbeig e Roger Bastide. Ainda que entre eles se encontrassem doutores, com livros publicados e carreiras em faculdades, não possuíam maior projeção no meio intelectual francês: davam aulas em liceus ou em faculdades fora de Paris, publicavam nas regiões em que lecionavam”.
Para esses “indivíduos manqués”, dominados pela sensibilidade crítica e mestres na aplicação do método técnico de pesquisa, o Brasil passou a representar “a possibilidade de deslanchar na carreira acadêmica, além de oferecer ao grupo de cientistas sociais uma especialização temática original. Como professores e pesquisadores, procuraram construir aqui um sistema de produção intelectual, universitário e acadêmico, sem raízes fortes na tradição brasileira. À juventude dos professores franceses, somava-se a da universidade e de seus alunos. Decepções, entusiasmos, impasses, curiosidades, esperanças e poucas certezas entrelaçavam-se nos sentimentos dos mestres e de seus alunos”.
No fim, o que tínhamos era uma situação de calamidade intelectual, na qual cegos guiavam outros cegos, tal como o que acontecia no desenho de Goya, em que os membros do clero guiavam os leigos que, por sua vez, rumavam a um abismo desconhecido – exatamente como o provérbio que o pintor espanhol assinalou para resumir tal cena: No saben el camino [Não conhecem o caminho]. Eram os “indivíduos manqués”, disfarçados de intelectuais, preparando o terreno futuro para a demolição da sensibilidade e do imaginário de um país onde, depois, nasceriam os “anti-indivíduos” que se enredariam, sem saberem, na teia do erro, da ilusão e da loucura já disseminada no mundo contemporâneo. A “missão francesa” era composta por sujeitos que não se importavam em tirar um sarro impiedoso dos estudantes tupiniquins que ansiavam por algum saber, como fica evidente neste relato de Lévi-Strauss, no clássico Tristes Trópicos, sobre a cena que encontrou durante a sua estadia em São Paulo:
Queriam saber tudo; qualquer que fosse o campo do saber, só a teoria mais recente merecia ser considerada. Fartos dos festins intelectuais do passado, que de resto só conheciam de ouvido, pois nunca liam as obras originais, mostravam um entusiasmo permanente pelos novos pratos. Seria preciso, no que lhes diz respeito, falar de moda e não de cultura: ideias e doutrinas não apresentavam aos seus olhos um valor intrínseco, eram apenas consideradas por eles instrumentos de prestígio, cuja primazia tinham de obter. O fato de partilhar uma teoria já conhecida por outros era o mesmo que usar um vestido pela segunda vez: corria-se o risco de um vexame. Por outro lado, verificava-se uma concorrência encarniçada, com grande reforço de revistas de divulgação, periódicos sensacionalistas e manuais, com o fito da obtenção do exclusivo modelo mais recente no nosso campo de ideias.
[…]
[Os alunos] manifestavam uma total ignorância quanto ao passado, mas que mantinham sempre um avanço de alguns meses, em relação a nós, quanto à informação. Todavia, a erudição, para a qual não sentiam vontade nem tinham método, parecia-lhes, apesar de tudo, um dever […] Cada um de […] nós [os professores] avaliava a sua influência pela importância da pequena corte que organizava à sua volta. Estas clientelas travavam entre si uma guerra de prestígio de que os professores preferidos eram os símbolos, os beneficiários ou as vítimas. Isto traduzia-se nas homenagens, isto é, nas manifestações em honra do mestre, almoços ou chás oferecidos em virtude de esforços que se tornavam ainda mais comoventes porque pressupunham privações reais. As pessoas e as disciplinas flutuavam ao longo dessas festas como valores da bolsa, em função do prestígio do estabelecimento, do número de participantes, da categoria das personalidades mundanas ou oficiais que aceitavam participar.
Apesar da censura feita por Heloisa Pontes ao citar estes trechos como uma “avaliação ácida e impiedosa”, é de se notar que até mesmo os contemporâneos nacionais concordavam com o diagnóstico do francês. Foi por isso mesmo que um grupo de jovens intelectuais – chamado posteriormente de “Clima”, batizado em função de uma revista cultural que publicariam de maneira informal na década de 1940 e que seria um emblema do desejo de escapar desta confusão intelectual –, composto por Gilda de Mello e Souza, Antonio Candido, Decio de Almeida Prado, Ruy Coelho, Paulo Emílio Salles Gomes e Lourival Gomes Machado, resolveu aceitar as influências desses estrangeiros para provocar “uma transformação capital em nossos hábitos intelectuais”.
Na verdade, essa transformação foi apenas algo cosmético. Influenciados, em sua maioria, pelo professor Jean Maugüê, colega de ninguém menos que Jean-Paul Sartre, os rapazes e a moça do grupo “Clima” sabiam das limitações acadêmicas de seu mestre – afinal de contas, ele “não acreditava muito nas instituições universitárias, nunca fez tese de doutoramento e acabou se aposentando na França como professor de Liceu”, como bem lembraria Antonio Candido anos depois em uma entrevista –, mas ficaram absolutamente fascinados pela aparência de “seu espírito extremamente livre, que tencionava principalmente nos ensinar a refletir sobre os fatos: as paixões, os namoros, os problemas da família, o noticiário dos jornais, os problemas sociais, a política. E para isso utilizava largamente reflexões e análises sobre literatura, pintura, cinema. As suas aulas eram extraordinárias como expressão e criação, sendo assistidas por várias turmas sucessivas de estudantes já formados que não conseguiam se desprender do seu fascínio”. Com Maugüé, Candido diz ter acompanhado, por exemplo, “cursos sobre Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Max Scheler, Freud; de todos se desprendia uma espécie de inspiração que aguçava o senso da vida, da arte, da literatura, da história, dos problemas sociais” (e é interessante notar como a repetição sobre os tais “problemas sociais” não parece ser por acaso, especialmente no caso das memórias de Candido).
14.
O processo de como se deu essa “fascinação” – e quais foram as consequências disto – foi meticulosamente narrado no importante relato de Paulo Eduardo Arantes, Um Departamento Francês de Ultramar – Estudos sobre a formação da cultura filosófica uspiana (uma experiência dos anos 60). Este livro foi publicado em 1994, portanto quando o imaginário brasileiro, pelo menos segundo o desdobramento de uma “elite”, já estava completamente contagiado pelo paradigma educacional estabelecido pela Universidade de São Paulo – sedimentado pelo movimento dos “caras-pintadas” e pelo impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello.
De todos os acadêmicos uspianos que conseguiram dominar o discurso cultural do eixo Rio-São Paulo nos últimos quarenta anos, sem dúvida Paulo Arantes é o mais ousado e o melhor preparado dentro da sensibilidade crítica e do método técnico apresentado por Alfonso Berardinelli. Graças a um estudo aprofundado sobre Hegel (que lhe valeu uma célebre tese de doutorado), Arantes consegue manobrar o raciocínio dialético como poucos, muitas vezes levando suas piruetas lógicas ao limite do paroxismo – como podemos perceber em O Novo Tempo do Mundo, tratado político publicado recentemente (2014) e que, entre outras excentricidades, consegue ampliar o horizonte de percepção de uma velha casta de intelectuais para a ação radical e jacobina que hoje seria a característica principal do que se pode chamar de “nova esquerda”.
Contudo, no final da década de 1980 e até meados da de 1990, Arantes fez uma espécie de arqueologia do pensamento uspiano, ao analisar a princípio, em parceria com sua esposa Otília, as influências de Antonio Candido e Roberto Schwartz na sensibilidade do imaginário da sua própria geração, em especial nos ensaios que compunham Sentimento da Dialética (1992). Segundo suas próprias palavras, numa entrevista que deu a Marcos Nobre e José Marcio Rego em Conversas com Filósofos Brasileiros, a grande inovação no escopo da sua análise era que, em vez de se preocupar com os labirintos da filosofia, o centro da sua reflexão era nada mais nada menos o modo como esses dois críticos literários usavam a sociologia tal qual um método analítico para entender o que foi a literatura brasileira. “É uma constatação dolorosa, mas a filosofia é uma espécie de primo pobre na formação do sistema cultural brasileiro […]”, diz ele. “Para entender essa circunstância, temos de nos compenetrar do seguinte: a cultura de um país periférico como o Brasil está inteiramente centrada na ideia de que através de gêneros e formas inescapavelmente europeias – o romance, a poesia, a pintura, a arquitetura, etc. –, trata-se de exprimir a verdade original de uma experiência local. Ou seja, só é relevante a forma que promove essa reinterpretação, que seja um instrumento de descoberta e revelação do país. Tudo se passa então como se estivéssemos condenados a essa figuração da experiência, à necessidade de sermos apresentados incansavelmente à nossa própria e desconhecida imagem, por isso mesmo uma imagem inacabada. […] Daí o caráter central da literatura. Todas as formas que possam tornar narrável essa experiência ainda completamente embrionária possuem uma função estruturante. Isto faz com que o teor de verdade dessa experiência eminentemente literária seja puxado para cima, desde que ela cumpra essa função, daí uma certa tendência sentimental ao realismo miúdo de simples fidelidade à cor local, que nos empurra de volta para a miopia localista”.
Novamente, temos o retorno da metáfora da “miopia” como, ao mesmo tempo, uma falha e uma vantagem, uma vez que, na cultura de um país subdesenvolvido como o Brasil, a literatura substituiria a estrutura incipiente produzida pela filosofia nas faculdades. Arantes parece acreditar que ser “míope” é bom porque nos faz ser um pouco mais humildes e, portanto, mais preocupados com os detalhes técnicos do pensamento filosófico. No fundo, trata-se da sistematização plena da recusa de aceitar o pesadelo do paradoxo – ou melhor: intelectualizar os fios que formam a teia da existência para transformá-la em uma ordem artificial.
Seguindo sua linha de raciocínio, a filosofia feita no Brasil, em especial na USP, seria “uma rotina intelectual que, como método de estudo, forma aquilo que chamamos de cultura filosófica, que se cristalizou em uma determinada instituição e numa circunstância histórica precisa”. Trata-se de “um lugar subalterno” e que teria a principal característica de ser “inadequada” ao que deveria ser um verdadeiro projeto filosófico porque “a filosofia profissional […] não é mais nem pode ser uma filosofia figurativa [e] não tem mais condições de descrever a experiência real como era sua ambição na Era de Hegel, e de transpor essa experiência real para o plano conceitual. Ora, no Brasil, a literatura fez isso de maneira supletiva durante mais de um século e, depois, foi descolocada e recolocada no seu dever artístico. Como diz Antonio Candido: era uma literatura de incorporação e passou a ser uma literatura mais especializada, cumprindo o seu destino estético, sem abdicar, no entanto, daquela sondagem incontornável da experiência local” [Grifos nossos].
Arantes percebe que só a imaginação cultivada pela literatura poderia preparar uma “elite” para uma filosofia que, na intenção de ser “profissional”, ainda assim deve se unir, graças ao seu método técnico, a uma sensibilidade crítica plena. Contudo, ele também se encontrava em outro impasse, típico de quem viveu a experiência universitária entre os anos 1940 e 1960, ao comentar que, “com o tempo e as nossas instituições universitárias, a literatura foi substituída pelas ciências sociais e pela economia política. A interpretação do país foi feita pelo ensaio sociológico – científico e universitário. Portanto, a sociologia também foi uma figuração do país. E como a filosofia é estruturalmente incapaz de dar conta desse projeto, tem de ser necessariamente uma vida marginal. Para prosperar como uma especialidade acadêmica séria, ela teve de se desvincular desse projeto de figuração da experiência nacional. A filosofia moderna, a filosofia profissional, abandonou, como uma espécie de resquício doutrinário dogmático, essa pretensão de ser uma espécie de figuração do mundo no sentido mais amplo. Por isso que, quando a filosofia profissional apareceu em São Paulo e se alastrou por todo o país, ela provocou um certo escândalo. Porque parecia um bando de pessoas completamente alheadas, de funcionários medíocres, explicadores de textos, assimiladores de textos, de costas para o país. Funcionários que achavam que não tinham nada a dizer porque se recusavam a tanto por escrúpulos intelectuais, ou seja, porque não eram demagogos, não eram doutrinários e porque achavam que não podiam desentortar o país em nome de cosmovisões filosóficas. Portanto, a filosofia profissional necessariamente teve de ocupar esse lugar secundário”. [Grifos nossos]
15.
Um Departamento Francês de Ultramar explica com precisão como se deu toda essa “longa marcha” rumo a uma filosofia que, ao fim e ao cabo, se tornou uma literatura feita por “indivíduos manqués” – e, por sua vez, também influenciou negativamente o meio literário, tanto no âmbito dos seus grandes criadores (como foi o caso de Orides Fontela) e de seus analistas mais argutos (como acontece com Murilo Marcondes de Moura em O Mundo Sitiado).
O argumento central de Paulo Arantes é algo perturbador – justamente porque ele também está contaminado por essa mesma doença e, por mais estranho que isso pareça, tem igualmente a capacidade de diagnosticá-la com precisão (seriam as vantagens de conhecer a dialética hegeliana?). Por fazer parte da “geração de segunda mão” do chamado “bonde da Maria Antônia” (pois a “geração de primeira mão” seria justamente a do grupo Clima), ele não teve como escapar da influência não só de um Jean Maugüé, mas também de seus discípulos nacionais, como João Cruz Costa e Lívio Teixeira. Estes últimos ensinaram aos alunos, entre outras coisas, que a filosofia, para ser realmente profissional, tinha de ser antes de tudo um “método” – ou mais: a “convicção” de que “o único meio de se aprender a filosofar” residia na “leitura dos clássicos”, uma “leitura comandada pelos olhos do espírito, esforço de compreensão interna […], de costas para a matéria bruta da experiência social”.
Ao recusarem a realidade concreta – que podia ser mais do que a mera discussão dos “problemas sociais”, como pensava Candido a respeito das aulas de Maugüé – preferiram a afirmação solipsista de que “o essencial de uma filosofia é uma certa estrutura”, agora influenciada pelos estudos de Victor Goldschmidt (“um obscuro professor de província”) e Martial Gueroult que, com o clássico Descartes segundo a ordem das razões (publicado recentemente por aqui pela editora Discurso Editorial, depois de simbólicos 66 anos de atraso), afirmavam que a “estrutura” do texto filosófico seria “o momento mais alto da metodologia científica em História da Filosofia” e que finalmente elevaria “à real objetividade das ciências rigorosas e em torno da qual gravitaria o ensino da filosofia entre nós”. A intenção sincera era de ir contra os “desmandos das explicações ditas genéricas, mas também na violência das ‘refutações’ de doutrina”, na qual tudo o que importava era apenas “o sentido [intrínseco] e não pela verdade de um sistema filosófico, a respeito do qual se suspendia o juízo”.
Em resumo: o filósofo profissional deixava de pensar e passava a ser somente um anotador de fichas bibliográficas sobre determinados livros. Eram apenas filósofos que estudavam Filosofia e se esqueciam de fazer Filosofia. Não eram mais treinados para meditar sobre a Filosofia e sim para discorrer sobre a História da Filosofia. Também era deixada de lado qualquer chance de se ter uma “polêmica filosófica”, pois a exata medida do “método” descoberto transformava os sistemas em objetos “irrefutáveis e imperecíveis”. Se, por um lado, a adoção deste “método de inegável valor propedêutico e profilático” defendia a todo custo uma “autonomia” que “devia se preservar” e também levava a um fardo de se especializar “em produzir o vácuo histórico em torno do discurso filosófico”, por outro lado a consequência mais nefasta era de ordem prática – ao colocar “entre parêntesis a verdade-de-juízo dos sistemas”, não havia como ter uma “vacina” contra “o vírus do dogmatismo”, desenvolvendo assim “uma certa desenvoltura na abstração”, o que transformaria a meditação autenticamente filosófica em algo “indiferente por força de uma constelação insólita”, na qual “o corolário tácito de uma técnica precisa de contenção dos palpites filosóficos [que] vinha favorecer a conjunção de uma tendência histórica [era a de que] há mais de um século a filosofia fazia de necessidade virtude, e [assim] não tendo mais parte com o saber positivo” formava um fenômeno constrangedor e único na “aventura da conversação” ocidental: a completa “falta de assunto crônica no campo minado das cogitações transcendentes”.
Enfim, nesse processo de suposta prudência metodológica que, na verdade, disfarçava uma incomparável e franca “timidez existencial” diante do pesadelo do paradoxo, incapaz de se encaixar em uma filosofia transformada numa mera “leitura de livros de filosofia”, “o método na verdade promovia um sistema de inibições, funcionando ao mesmo tempo como álibi e carapaça protetora”. Era a sensibilidade crítica e a técnica filosófica dissimulando o fracasso da imaginação que era a própria essência do “indivíduo manqué” e, posteriormente, do “anti-indivíduo”. Não havia mais espaço para a ousadia do pensamento, para voos mais amplos que punham a alma do filósofo em um jogo mortal, para um horizonte de consciência que fosse expandido, por exemplo, na recuperação de quaisquer argumentos que tivessem uma abertura para uma visão metafísica.
16.
Tal atitude já era evidente na abertura de Descartes segundo a ordem das razões, a bíblia que praticamente fundou os mecanismos internos do que seria a engrenagem do “departamento francês de ultramar”. Para Gueroult, baseado numa máxima de Victor Delbos, o pensamento filosófico era obrigado a desconfiar “desses jogos de reflexão que, sob pretexto de descobrir a significação profunda de uma filosofia, começam por negligenciar sua significação exata”. Qualquer ato de imaginação seria uma “ilusão” – e mais: um demônio, igual ao Gênio Mau vislumbrado por René Descartes, no qual “a imaginação, desejosa de quebrar, para ficar mais à vontade, a dupla barreira do verdadeiro e do gosto, vê no apelo ao autêntico, ao texto, aos seus encadeamentos rigorosos, a suas precisas e ingratas obscuridades, uma impertinência, um desafio ao espírito, que, como todos sabem, nunca é tanto ele próprio quanto ao contrariar a letra”.
Segundo as palavras do scholar francês, “é no texto, entretanto, e não na embriaguez daqueles [demônios da imaginação], que a filosofia, que não consiste em vão delírio, pretende descobrir a chave do enigma a ela proposta pela obra dos grandes gênios”, baseando para a realização efetiva disso na “crítica propriamente dita e a análise das estruturas” – a famosa “ordem das razões”, próxima da geometria, que seria o nexus supremo na solução das contradições inerentes a um sistema filosófico como o de Descartes. A partir de agora, o filósofo não medita mais sobre a verdade. O que ele precisa fazer, antes de tudo, é “provar bem” o seu raciocínio.
O que Gueroult fazia, com inegável talento, mas deliberada frieza, era extirpar do raciocínio filosófico qualquer espécie de erro, ilusão ou loucura que pudesse ser encontrado nas suas brechas. Eliminava o risco, a incerteza e a imaginação saudáveis. Era o exato oposto de um método de ensino que Alfonso Berardinelli fazia questão de mostrar aos estudantes cada vez que discorria sobre um clássico da literatura ou da Filosofia, quando fazia uma “evocação imaginária do escritor como se estivesse realmente presente ali onde se ensinam suas obras” – em uma das páginas mais emocionantes de Direita e esquerda na literatura:
Quando abro uma página de Leopardi, Tolstói, Svevo, eles estão efetivamente ali: guiando-me, julgando-me, revigorando-me, fazendo-me companhia. Não posso abusar da paciência dos escritos deles nem de sua paciência. Não posso deturpá-los, usá-los de maneira imprópria, carregá-los e cobri-los com minha vaidade, usá-los como arrimo para a minha respeitável figura pública. Na qualidade de professor, sou um local de passagem de trânsito. Sou um médium. Empresto-lhes minha voz e minha mente interpretativa. Eles me emprestam o que de melhor conseguiram pensar e escrever durante a vida. Se escreveram tão bem, com tamanha atenção, habilidade, esforço, perícia técnica, certamente o fizeram porque não gostariam de ser tratados com displicência e que houvesse mal-entendidos, mas sim, pelo contrário, gostariam de ser lidos e relidos, compreendidos, assimilados da mesma maneira que acontece quando se ama: por imitação, por identificação, por contágio.
Berardinelli toca na ferida da discussão que ronda os dilemas de quem prefere fazer Filosofia ou literatura por meio de um método de perfeição técnica que, na realidade, é uma covardia diante do pesadelo do paradoxo. Se quisermos complementar o que ele escreveu anteriormente, “os clássicos” não foram apenas “escritos para um público de leitores”, indo contra as pretensões de “um conventículo de estudiosos”, mas sim foram concebidos como um ato pleno de amor e de generosidade, independentemente do caráter psíquico do artista ou do pensador. Eis aqui a fonte da Filosofia que Platão e Aristóteles tanto falavam a respeito – e é com amor e generosidade que eles devem ser lidos. Quem for contra esse método primordial, que sustenta todas as técnicas posteriores e alimenta as críticas futuras, simplesmente mata a imaginação dentro de si – e destrói o indivíduo completo que você poderia ser.
17.
Em Um Departamento Francês de Ultramar, Paulo Eduardo Arantes mostra, sem o saber, como essa “organização sistemática do ódio” sufocou o amor que poderia existir na nossa sensibilidade nacional, não só na “geração de segunda mão” que dominou a Maria Antônia nos anos 1960, mas principalmente no ambiente universitário que nos rodeia. Lentamente, o ato de amor filosófico é substituído pelo ato da dúvida constante e, por mais paradoxal que seja isso, inabalável. Pois, dessa maneira, o clima intelectual que nós respiramos parece entrar numa encruzilhada suprema: ou caminhamos de mãos dadas à aceitação tácita de que não há nenhuma certeza ou bondade durante a travessia deste mundo, e somente a existência de um Grande Enganador (como imaginou Descartes) justificaria a hipótese de que o erro, a ilusão e a loucura são as únicas constantes que temos como vias para qualquer tipo de conhecimento; ou decidimos entrar na busca do verdadeiro conhecimento ao tentar encontrar alguma síntese entre a sensibilidade crítica, o método técnico e, last but not least, a perspectiva metafísica.
Por isso, não foi à toa que, no meio desta selva escura, Arantes tinha de escolher o príncipe que deveria salvar a todos desta confusão metodológica, sem pensar se havia, de fato, alguma saída neste cenário. No caso, o ungido foi Bento Prado, Jr., um jovem filósofo talentoso que, entre trancos e barrancos, faria da sua vida uma espécie de obra inacabada, para escapar das armadilhas da sensibilidade crítica e do método técnico que lhe foram impostas durante a sua trajetória de estrela no bonde da USP. Ao mesmo tempo, ele seria, segundo o prisma de Arantes, um modelo para encontrar um critério de qualidade que, de certa forma, justificaria a própria existência da universidade não só como uma corporação fechada em si mesma, mas também um lugar propício para um debate saudável de ideias – e, se quisermos ir além, para a realização, mesmo que incompleta, daquele ato de amor pleno que caracteriza o percurso filosófico. Exposto como o símbolo máximo deste dilema – algo que, sem dúvida, jamais imaginaria representar, devido a seu temperamento discreto –, Bento Prado, Jr., se transformaria também no exemplo marcante de como a tragédia do fracasso da imaginação afetou uma inteligência ímpar – e disseminou ainda mais o desespero do nosso tempo, para nos enredarmos de vez na teia do caos arcaico.
[CONTINUA]
Martim Vasques da Cunha
Autor de Crise e utopia: O dilema de Thomas More (Vide, 2012) e A poeira da glória (Record, 2015). Pós-doutorando pela FGV-EAESP.