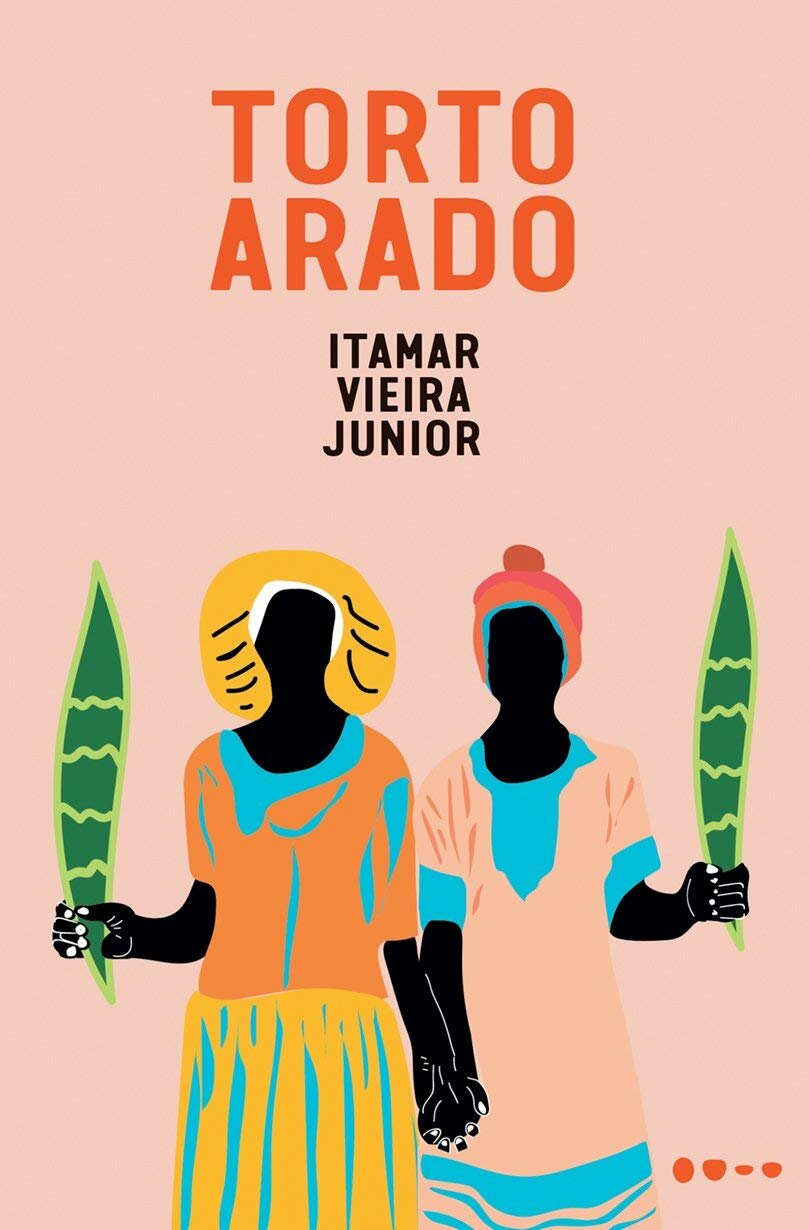Onde está o imenso sentimento de indignação que percorreu o país há cerca de dois meses?

Sempre estive curioso pelo oculto. O oculto do próprio real, cumpre dizer, não o oculto do ocultismo. Não que eu menospreze o que não é sabido nem nominado, mas tenho dificuldade patente em apreender a linguagem das brujas (que las hay, hay?). O oculto que é meramente desconhecido por ignorância, tenho curiosidade por ele. Fico aflito só em imaginar que a gravidade ou a relatividade existam independentemente da compreensão que temos dela. Assim como a economia monetária, a política internacional e muitas correntes filosóficas que ignoro por completo e, ainda assim, estão determinando minha vida. Nossas vidas.
Recentemente nada tem me intrigado mais que saber para onde foi o imenso sentimento de indignação que percorreu o país de norte a sul há cerca de dois meses. Acabou? Foi para casa? Para o shopping? Tomou Rivotril? Voltou a dormir? Ou, pior dos piores, não era nada disso, teria sido apenas um mal entendido? Uma invasão de um sentimento absolutamente virtual no real? Uma mera confusão provocada pelo choque de memes da internet, palavras de ordem aleatórias e uma dose de insatisfação popular?
Há poucos dias atrás consegui uma pista interessantíssima por onde começar a pensar no assunto. Um amigo, adesista de última hora aos protestos, me revelou o que segue. Seu depoimento é banal e ao mesmo tempo fundamental, mais ou menos na mesma medida.
Ele me diz que nunca na vida protestou por coisa nenhuma. De origem humilde, esforçou-se bastante para chegar a universidade e formar-se. Mas conseguiu. Durante praticamente toda a vida valeu-se do transporte coletivo, nunca teve facilidades, mesmo quando a família precisou morar em uma área conflagrada da cidade. Escapou de “algumas” e hoje vive com a mãe, a mulher e o filho em um bairro mais tranquilo. Trabalha, paga seus impostos, tem o nome limpo no SERASA e joga um futebol no fim de semana, com os colegas de trabalho. Ele se diz bem feliz da sua vida, o que o faz, sobretudo, um amigo agradável.
Quando os protestos começaram, aqui em Porto Alegre, não pensou em aderir, não sentia que tivesse um porquê para ir às ruas, uma necessidade expressa. Nunca tinha visto aquilo na vida, porque cresceu no hiato entre a redemocratização e a era Lula, mas vendo que entre as pessoas cada vez mais havia pessoas como ele próprio, resolveu ir à rua também. Por um desejo de identificação, apenas. Não levava cartaz nenhum nas mãos, apenas os olhos abertos e a voz para o coro daqueles que cantavam e gritavam por melhores condições de vida. Havia coisas que os outros gritavam que ele não gritou e pulinhos que os outros deram que ele não pulou. Estava ali a sério e pela vontade de sentir-se participante de alguma coisa. Não depredou coisa nenhuma e acompanhou as marchas inclusive nos dias mais frios do inverno. Mesmo assim conheceu a ardência do gás lacrimogêneo e correu da polícia, que bobo ele não é nem nunca foi.
Tudo normal até aí, mas ele relata também que, pensando com um pouco de distanciamento, não se sentia lá muito à vontade nos protestos. Disse que não sabia se podia confiar em quem estava ao seu lado ou não, ali não eram todos iguais, nem bandeira de partido havia, fora os sujeitos com aquela máscara sorridente e ameaçadora. Ônus da vida na metrópole, o anonimato e a desconfiança mútua estão inscritos como se no DNA de seus habitantes. Ainda mais em aglomerações. Também ele disse que não se sentia digno o suficiente para reclamar da vida, porque nunca na vida o tinha feito. Se a vida é de viver, o que ele fazia era vivê-la. Com seus prazeres e dissabores. Tudo muito claro e certo.
O que me espanta no seu depoimento é que ele revela o que deveria ser óbvio, mas não o é, que é o simples fato de que as pessoas não se sentem à vontade em um protesto. Claro, isso se você não está na vanguarda, com muita vontade de queimar um contêiner de lixo ou bater de frente com a polícia militar, mas simplesmente acompanhando as pessoas. Ele diz que sentia um dever cívico de estar ali, porque não gosta do esquema político, nem dos partidos e nem das pessoas que fazem a política, mas que era um dever que, se pudesse, abriria mão. Na sua concepção de democracia, protestar é um gesto excepcional. O natural é levar a vida, com seus cotidianamentes.
À vontade mesmo ele diz que estaria no shopping, fazendo compras, no estádio torcendo pelo seu time, na sala de casa assistindo TV com a família ou navegando no aquário das redes sociais. À vontade ele diz que está quando vai ao supermercado e não falta dinheiro para pagar as compras. Quando deixa os filhos na escola e eles ficam ao encargo de professores interessados em sua educação. Quando precisa de médicos e basta pegar o telefone e marcar uma consulta. Porque isso foi tornando-se cada vez mais improvável de obter assim, com essa tranquilidade, ele pensou que era hora de unir-se ao coro dos descontentes, mesmo que mais tarde eles fossem resumidos socialmente em minorias absolutas, como os Anonymous ou os Black Blocs. Não ele. Ele era a maioria, mas agora ele sumiu também. E junto a sua indignação anterior, agora também acompanhado por certa decepção. A decepção do dissenso. A decepção do “não sei se vale a pena fazer alguma coisa”.
O que ele queria é o que o transporte público fosse outro, a educação e a saúde também. Essas coisas que se chamam direitos sociais. E que os serviços pelos quais ele paga também fossem outros. Nada disso, ele não havia saído a rua para depor os governantes, mas para reclamar que eles governassem. Para que as coisas funcionassem do mesmo modo que sua vida funcionava, com hora marcada, tributo pago, dever cumprido.
Mas será que, por não aparecer às claras, a insatisfação deixa simplesmente de existir? Onde a guardamos, quando a ocultamos e depositamos (uns mais, outros menos) alguma fé nas jogadas políticas que visam amortecer o sentimento público de revolta e a impaciência civil?
A impressão que fica é a de que, enquanto não pagarmos para nos revoltarmos, deve-se tolerar tudo, como se há tolerado através dos tempos. Seria o caso, talvez, de estabelecer o ticket-protesto, porque parece que há um convencimento de que a única lógica da qual se pode integrar socialmente nestes tempos é a lógica do consumidor. É pagar ou não ter.
Porque tenho filhos pequenos, me vi compelido lá pelas tantas a conhecer um pouco sobre desenvolvimento infantil. O psicólogo suíço Jean Piaget foi o autor que pensou a teoria da permanência do objeto, pela qual se explica um marco específico de desenvolvimento no qual a criança é capaz de entrever a presença de um objeto mesmo ele estando oculto. É a famosa brincadeira do “achou”, que tantas gargalhadas rendem aos infantes e seus pais. Pois bem, não sei se as outras pessoas sentem-se assim também, mas eu mantenho (talvez de forma infantil) a expectativa de que a população saia do encobrimento e volte a manifestar-se, nem que seja por abstrações incondenáveis, como “dignidade”, “direitos”, etc.
Talvez ainda mais certo fosse subir alguns degraus da escala do desenvolvimento e apelar logo para o poder dos verdadeiros ocultistas, videntes, cartomantes, etc. Já que grande parte dos cientistas e analistas falhou em prever os fatos do “inverno brasileiro” e superstimou seus efeitos, a chance de entender onde nós guardamos o pinguinho de civilidade demonstrado dias atrás voltou a estar lá fora, no oculto, já que nossa “revolta interior” parece aquietar-se facilmente com doses regulares de sossego e consumo. O resultado dessa pasmaceira é conhecido, é a manutenção da insatisfação geral em oculto. É receber em conta-gotas o que deveria ser água corrente. E se isso era para ser apenas uma brincadeira de crianças, sinto muito, então já perdeu a graça. Melhor deixar o véu cair e ver cara a cara quem é quem.
Lúcio Carvalho
Editor da revista digital Inclusive. Lançou em 2015 os livros Inclusão em pauta e A aposta (contos).
[email protected]