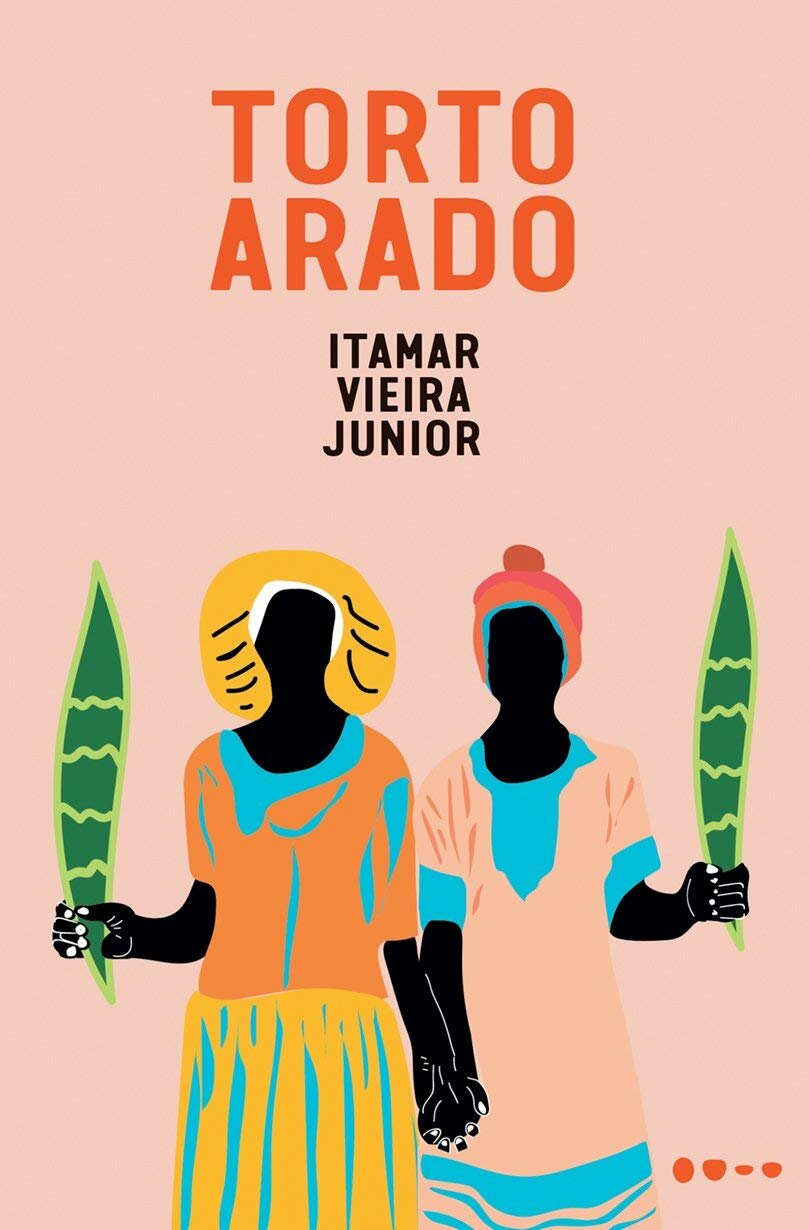Para o esteticista, a sua apreciação das artes está acima de qualquer dimensão ética.
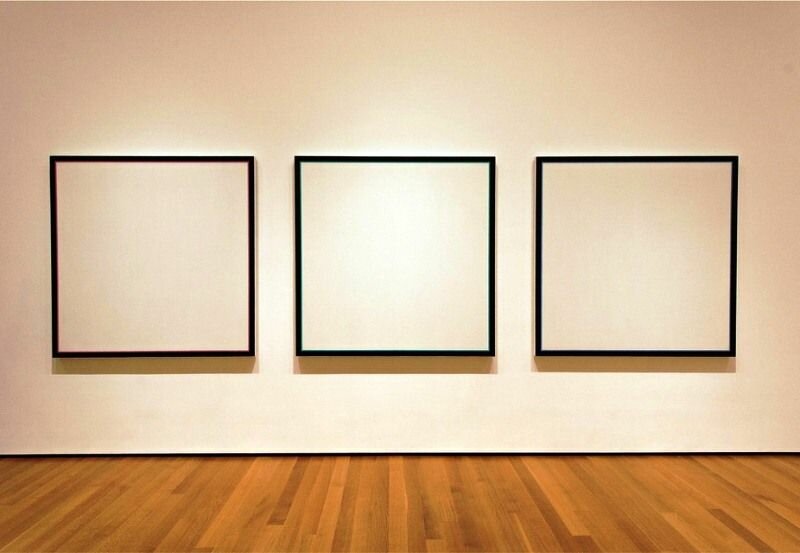
1.
Era uma vez um banco preocupado em ter valores. Então, decidiu ser mecenas de artistas. No ambiente amórfico do comércio de moeda, alguém chegou à inexorável conclusão de que era preciso também produzir os seus valores. Os artistas convocados para esta excelsa missão representavam o valor da “economia criativa” com suas quebras de proibições – o dom da contemporaneidade que tanto alegra nossos burgueses. Que transformador seria, pensou o diretor-geral do mecenato, uma semana pedagógica para o público infanto-juvenil sobre diferenças, com várias atividades artísticas e uma amostra de nobríssima arte.
Edital lançado para ganhar “renúncia fiscal” (dinheiro público), hora das contratações. Um senhor muito esquisito, que falava em “regime ocularcentrista” e em “des-hierarquização pós-colonial”, foi contratado para ser o curador da amostra de arte pedagógica para crianças e adolescentes. Como se todo o ambiente geral já não incitasse o absurdo, o sr. Esquisito resolveu fazer da pedagogia um ativismo político-sexual. Para crianças e adolescentes, o adequado para produzir os “valores da diferença” seria a sexualização precoce, a erotização infantil, a ideologia de gênero, o sexo sem tabus e proibições. O seu mote era a produção do choque, capturando a inocência do interlocutor.
Trocando em miúdos, você é contratado para fazer uma mostra de arte para crianças e adolescentes, com dezenas de excursões de colégios e centenas de menores de idade, e escolhe para esses jovens uma pedagogia macabra da erotização para desconstruir a “normatividade do gênero”. Pensemos na ética desse estético produzido noutra situação. Imagine você contratando um sujeito para fazer a decoração da festa de aniversário do seu filho, tendo como tema a “diferença”, e este te entrega uma decoração com cachorro sendo currado, surubas, e macacões com capuz e vários zíperes para “alterar percepções de gênero”. A reação de qualquer pessoa normal, que ainda preserve aquele senso natural de repelir um abuso contra uma criança e que só não se encontra entre os que perderam o espírito, é afastar imediatamente o tarado.
Se a intenção do sujeito para com os jovens era da mais absoluta perfídia, por que a elite falante da nossa sociedade simplesmente foi incapaz de ter qualquer tipo de imaginação moral sobre o tema, incapazes de buscar a origem da circunstância concreta em que agiu o curador em sua (má) intenção, incapazes de distinguir o bem do mal mais evidente? Por que simplesmente um abuso infantil dos mais descarados e asquerosos tornou-se positivo a partir de discursos formais, aparentes e descolados da sua realidade – tal como “a arte é livre para tudo”, “censura não” –, ou mesmo um problema ideológico (conservadores x progressistas)? O que simplesmente aconteceu para o abuso infantil tornar-se elegia na boca da elite falante? O que se passou para que nenhum raciocínio moral se importasse com o gesto do autor e simplesmente colocasse a ideia de arte (sem sua definição) como acima de tudo e do todo?
Uma das respostas é o esteticismo. Em Desenvolvimento e cultura, Mario Vieira de Mello levanta a hipótese de que uma das nossas marcas é a compreensão estética (das artes, da literatura, das humanidades etc.) como se ela existisse em si mesma e não tivesse uma relação mais ampla com o espírito, que leva da contemplação à confissão do certo ou do errado, ou seja, à sua dimensão ética. O esteticismo é a fruição estética do filisteu. Ainda segundo Vieira de Mello, por não alcançar essa dimensão ética, o esteticismo tenta se resolver no direcionamento prático: no ativismo da ação política. Para o esteticista, a sua fruição, a sua apreciação das artes, está acima de qualquer dimensão ética, acima do correto e do errado. Martim Vasques resumiu o argumento de Vieira de Melo assim:
Este fenômeno bizarro foi analisado brilhantemente por Mario Vieira de Mello em seu livro Desenvolvimento e Cultura (1963), quando ele mostra que a alma brasileira – este bicho estranho que muitos intelectuais da nossa raça tentam reduzi-lo ao extremo, independentemente de serem da direita ou da esquerda – não consegue encarar a existência como um problema moral, em que o Bem e o Mal são objetivos, dependentes de uma escolha singular, mas sim como uma questão estética, igual a uma obra de arte em que você pode modificar à vontade, mesmo que isso ocorra às custas dos outros ou até mesmo de si mesmo.
O esteticismo, como devoção da aparência, torna também os conceitos apenas uma performance. As palavras são enunciadas para produzir um efeito emocional mesmo que não toquem qualquer realidade. Assim, no mundo dos filisteus, e o Queermuseu é a representação máxima de todo o ambiente amorfo que lhe gerou, não há espaço para o discernimento ético, mas só para o estético em sua camada mais superficial. A tragédia do esteticismo chega ao seu momento de coroação quando precisamos fazer um raciocínio moral sobre um ato concreto numa circunstância concreta para concluir que este não passou de abuso infantil e, no entanto, tratamos do estético como apartado do ético: a beleza formal, a liberdade irrestrita etc. Se o estético funciona só a partir de si mesmo, então um tarado ejaculando no ônibus pode se tornar uma manifestação artística que transgrida a normatividade sexual, tanto como um tarado que faça ativismo pedagógico em torno da erotização precoce de crianças está igualmente fazendo uma manifestação artística transgressora. O esteticismo se dirige sempre à ação material num sentido político e traz como seu resultado o irracionalismo prático.
Há um texto na grande mídia, de autoria de Rodrigo Cássio, que, por tentar fundamentar bem suas escolhas, deixa a tragédia do esteticismo ainda mais evidente. Utilizo ele – e não outros – como exemplo porque é o melhor fundamentado e o único que tentou tatear as questões colocadas. Nele, o autor critica a suspensão da exposição pelos seguintes motivos: a) não existe limites para arte (como para o humor); b) a arte não pode ser tomada pela moral; c) ultraje a culto pode fazer parte de uma grande obra de arte transgressora que é formalmente bela e não deve ser impedida; d) a pressão exercida para o seu fechamento é censura, motivada por questões ideológicas, e aqui moral e religião aparecem como ideologia; e) a liberdade de expressão foi suprimida. Entretanto, ao mesmo tempo que afasta o ético do estético para defender a independência e a autonomia deste, o autor clama, ao final do texto, por quatros predicados éticos contraditórios entre si e com seus predicados sobre estética: a) quanto menos limites à liberdade, mais democracia; b) a liberdade de expressão é a base da vida democrática e transcende os sinais ideológicos; c) uma resposta para a convivência desejável entre pessoas reside no “liberalismo mais autêntico” de Mill, e não noutros grupos; d) a liberdade de expressão possui como limite o “bem-estar físico e psicológico de indivíduos e seres sencientes”.
Vamos por partes. É interessante que, ao criticar a interrupção do Queermuseu, o autor tenha falado de um “preconceito ideológico/religioso/moral” que julgava a obra de arte sem sequer tocar na análise formal dessas obras. Quer dizer, um sujeito é contratado para fazer uma exposição para o público infanto-juvenil e a apresenta tal como foi; desse modo, o que por fim interessa é a análise formal das obras ou a liberdade do artista, mas nunca o efeito ético da ação? Ou seja, a arte se torna a realidade em si mesma, não sendo relevante nem mesmo o fato de que se trata de um produto de abuso infantil. Sendo ainda mais claro, no esteticismo, não importa se o autor usou a sua arte com perfídia, maledicência, má ventura contra jovens e adolescentes, mas a obra de arte em si mesma: se ela choca, se ela deve ser mantida ou silenciada, se ela é formalmente bela, se é boa arte ou ruim. O raciocínio moral sobre as escolhas do curador nunca se tratou de estética, mas sempre de ética. Todavia, na ótica do esteticismo, a arte é um mundo em si mesmo, e não um instrumento, uma técnica, que pode servir ao mal.
Isso se torna ainda mais interessante pelo fato de que Rodrigo, ao longo da primeira parte de seu texto, fez sua análise sobre o encerramento da mostra Queermuseu partindo do ponto de vista estético e da liberdade artística contra uma pretensa censura à liberdade de expressão. No entanto, ao final do texto, ele limita a liberdade de expressão quando esta causa problemas ao “bem-estar físico e psicológico de indivíduos e seres sencientes”. Um predicado que me parece bastante razoável. Se este é o limite para a expressão (seja a arte ou o humor), então temos uma contradição com o segundo parágrafo do texto, quando o autor afirma: “Não hesitei em responder que o humor não deveria ter limites. Continuo pensando o mesmo”.
Diante desse predicado ético, o razoável seria esperar como primeira pergunta da reflexão sobre a exposição: o Queermuseu, enquanto exposição encomendada para o público infanto-juvenil, abusa do bem-estar psicológico dos jovens? O autor da mostra teve tal intenção? Qual foi a sua intenção para os indivíduos que ele deveria cuidar e educar com sua arte? Esta seria a pergunta óbvia para o predicado ético – que, repito, parece-me razoável. Em nenhum momento de sua defesa da manutenção da exposição, há qualquer reflexão sobre este predicado, mas só no tocante à estética.
Um dos momentos mais interessantes do texto é a parte em que Rodrigo Cássio defende que, “quanto maior é o nosso empenho em julgar moralmente e barrar os conteúdos afrontosos da arte, menor é a nossa disposição a conhecer”. Todavia, não interessa à maioria das pessoas conhecer realmente o sentido da arte do sr. Esquisito. Novamente, a questão jamais foi estética. Ninguém tem interesse em saber se as obras são formalmente boas ou ruins. O que está em questão, em primeiro lugar, é se os temas presentes e sua formulação são adequados ao público da exposição. Um sujeito pode ejacular em praça pública numa manifestação e usar como defesa: “quanto maior é o nosso empenho em julgar moralmente e barrar os conteúdos afrontosos da arte, menor é a nossa disposição a conhecer”.
Por fim, Rodrigo faz a defesa de uma ideologia específica como amparo ontológico para o mundo que considera ideal, no qual quanto mais liberdade de expressão, mais democracia, porém se contradiz ao chamar de censura a escolha de indivíduos por não patrocinarem manifestações artísticas com fundo político-pedagógico com o seu próprio dinheiro. Afinal, de onde veio o dinheiro do Santander para ser mecenas? Do bolso de todos nós e do bolso dos seus clientes. Logo, o artista tem liberdade irrestrita para usar a arte como instrumento de abuso infantil, mas quem patrocina isto não tem o direito de não querer patrocinar mais. Não há liberdade de expressão para o verdadeiro mecenas (o bolso do cidadão e dos clientes), pois configura-se censura. No esteticismo, as palavras tornam-se apenas performance, e não realidade efetiva, como presenciamos nesse emaranhado de contradições.
2.
Já não bastasse todos esses elementos, há mais um ponto interessantíssimo sobre o esteticismo: a citação de Mill como um “liberalismo mais autêntico”. Encaminhemo-nos, pois, para o começo dessa história, para a ascensão da crítica liberal. Os estados absolutistas ascenderam para dissolver as guerras civis religiosas, passando o todo comum para a figura do soberano. O Estado ainda estava sendo construído, e era representado substancialmente pela mística do soberano. O soberano absoluto assumia a função da escatologia. Diz Creveld: “Agora que os governantes não eram mais beatificados, tornara-se disponível uma série de divindades com as quais podiam identificar-se. O favorito dos homens era Hércules, (…) Henrique IV da França certa ocasião foi denominado ‘o Hércules que agora reina’”. Todavia, se o soberano assumia a função de assegurar e dar sentido à vida, o súdito deveria deixar suas convicções privadas afastadas da esfera pública para ser protegido. Tendo, como consequência, a diluição da relação entre “culpabilidade e responsabilidade, constitutiva da consciência”[1]. Sem a responsabilidade política, o súdito poderia ser culpado por atentar contra os interesses do soberano e pôr em risco a segurança de toda a sociedade. Sem a culpabilidade, o soberano era levado a tomar qualquer tipo de atitude, independentemente de sua violência, desde que resguardasse seus poderes[2]. De tal modo que a exigência em torno da responsabilidade do soberano e a ameaça diante do peso dessa responsabilidade tornaram-se critérios de substituição da moral religiosa com consequências políticas para outro tipo de moral, aquela em que a substância é imanente à própria ação política, como afirma Koselleck:
A doutrina da razão de Estado estava de tal modo condicionada pelas rivalidades confessionais que não se restringiu ao Absolutismo monárquico. No continente, infiltrou-se na tradição que defendia o fortalecimento da realeza, mas também ganhou terreno em países que tinham uma constituição corporativa ou republicana. Nessa época, todo poder que quisesse exercer autoridade e ter validade geral precisava negar a consciência privada, que era o esteio dos vínculos religiosos ou dos laços estamentais de lealdade Até o Parlamento inglês, quando quis suspender em 1640 as prerrogativas de Carlos I, invocou rapidamente o argumento de que toda consciência, mesmo a do rei, deveria subordinar-se ao interesse estatal. (…) Também Spinoza, na Holanda, longe de falar em nome do Absolutismo monárquico, achava totalmente razoável ver como pecado as boas ações que prejudicassem o Estado e como piedoso um pecado que servisse ao bem comum.
Essa cisão, e o afastamento do foro privado das questões públicas que cabiam apenas ao soberano, prepara a crítica liberal. Portanto, esta começa fundamentalmente como limitação da liberdade do soberano. A liberdade do soberano deveria ser limitada por lei, e a essência deste contrato social vem da sociedade civil e das leis morais (a opinião pública, e não mais a religião). Assim, a Bill of Rights limita a liberdade do soberano em fazer aquilo que bem queira, devendo este respeitar a constituição, fruto de uma construção da sociedade civil e da universalização dos seus valores. Do mesmo modo, a sociedade se submete a este contrato. A limitação de ambas as liberdades dentro de um contrato social é o arranjo que melhor garante a própria liberdade. No lugar do temperamento do soberano, o Estado racional e constitucional cumpriria o seu papel a partir da soberania dos cidadãos. O foro privado volta ao público como uma moral laica que funda o Estado civil.
Nunca se passou na cabeça de Locke ou dos seus “sucessores” a ideia de que a liberdade do soberano deveria ser limitada para que a liberdade da sociedade fosse ilimitada. Locke concorda com Hobbes que, no estado de natureza, os homens são livres para fazer aquilo que bem entendam e que aceitam o contrato social por autopreservação. No entanto, para Locke, o homem nasce com a vocação para querer ser feliz e fugir da infelicidade. E, por esse desejo natural de felicidade, ele pretende, mediante a razão, procurar o encaminhamento mais esclarecido e desejável para sua vida. Se o homem quer se preservar e ser feliz, é verdade também que só utilizando a razão ele pode saber qual o melhor encaminhamento para sua existência. No estado natural, os homens são livres para suas ações, mas percebem também que todos os outros homens possuem a mesma liberdade e isto pode lhe ocasionar problemas. Então, racionalmente, o homem percebe que precisa regular suas relações com outros homens. Primeiro, pelos costumes, depois, pelas leis. Diz Locke a esse respeito:
Entretanto, ainda que se tratasse de um “estado de liberdade”, este não é um “estado de permissividade”: o homem desfruta de uma liberdade total de dispor de si mesmo ou de seus bens, mas não de destruir sua própria pessoa, nem qualquer criatura que se encontre sob sua posse (…). O “estado de Natureza” é regido por um direito natural que se impõe a todos, e com respeito à razão, que é este direito, toda a humanidade aprende que, sendo todos iguais e independentes, ninguém deve lesar o outro em sua vida, sua saúde, sua liberdade ou seus bens; todos os homens são obra de um único Criador todo-poderoso e infinitamente sábio, todos servindo a um único senhor soberano (…). Cada um é “obrigado não apenas a conservar sua própria vida”, (…) (mas) “velar pela conservação do restante da humanidade”, ou seja, salvo para fazer justiça a um delinquente, não destruir ou debilitar a vida de outra pessoa, nem o que tende a preservá-la, nem sua liberdade, sua saúde, seu corpo ou seus bens.
A crítica liberal começa como limitação da liberdade absoluta do soberano e limitação da liberdade absoluta do homem no estado de natureza. O soberano não pode fazer tudo aquilo que ele queira, nem as pessoas comuns. A liberdade se desenvolve enquanto direitos fundamentais, “império da lei”, contrato social; ou seja, como um arranjo social para que o homem conviva melhor a partir de um entendimento racional do seu comportamento em sociedade. Embora eles ainda não tivessem a dimensão dos problemas deste arranjo, e acreditassem que ele levaria à melhor vida prática do homem (e, em certo sentido, levou), nenhum deles pensava a liberdade como o próprio Senhor Soberano da vida das pessoas.
Quando estes elementos são tornados em espécie de princípios político-ideológicos, temos o “liberalismo clássico”. Ainda assim, a ideia de liberdade só deixará de ser um arranjo criado pelos homens, mas uma ordem (quase metabólica), entre os séculos XIX e XX. É quando Mill entra no quadro.
John Stuart Mill viveu boa parte da sua vida na Era Vitoriana, entre um melhoramento progressivo da técnica por causa de um grande período de paz e um excesso de rigidez com os princípios morais[3]. Seu pensamento tenta resolver essas tensões entre progresso, liberdade e indivíduo. O pai de Stuart Mill era o famoso utilitarista James Mill. Por isto, o utilitarismo de Jeremy Bentham exerceu grande influência sobre seu pensamento. Em contraste, Mill também tinha grande admiração pelo romantismo (em especial, o de Coleridge) e pelo socialismo utópico de Saint-Simon. Essas tensões de formação entre a ética utilitarista e o romantismo que realçava a força natural do indivíduo gerou inspiração para a elaboração de sua obra[4]. Em 1843, publica Sistema de Lógica, e no simbólico ano de 1848 publica Princípios de Economia Política. Todavia, seu texto mais influente viria a ser publicado em 1859: Sobre a Liberdade.
Os utilitaristas destacavam a importância da ação ética destinada à felicidade geral. No seu sistema, realçavam os fatos e o cálculo da ação adequada para o progresso da felicidade entre as pessoas. Ao contrário, para Coleridge, o indivíduo era, acima de tudo, uma força do espírito, independente para agir e criar. Ele dava mais importância à imaginação, ao sentimento moral, aos costumes e à estabilidade das tradições. Ambos representavam dois ângulos sobre o indivíduo na sociedade – material e espiritual. Para Mill, era um erro desprezar esses dois postulados sobre o indivíduo. O erro de Coleridge era olhar apenas para a imaginação e colocá-la acima da ética utilitarista, e o erro de Bentham era desprezar o sentimento no exercício da moral. Mill admirava a fortaleza da ação humana, direcionada à felicidade universal. O individualismo de Mill está ligado, acima de tudo, a essa admiração pelos grandes homens e ao rumo correto para a felicidade universal. Noutras palavras, o culto da aparência.
A partir desses princípios norteadores, ele escreve Sobre a Liberdade, sua obra da maturidade. Para reconhecer a liberdade do indivíduo, era preciso primeiro reconhecer a diversidade dos seus objetivos. O individualismo só é possível com respeito ao outro indivíduo. A liberdade individual é o valor mais importante para a felicidade universal, e aquela consiste em que cada um faça aquilo que queira, de acordo com sua capacidade e desde que não interfira na liberdade do outro. Proteger a liberdade individual é a maior virtude cívica. Acima de qualquer axioma moral, o desejo do indivíduo é sua força, sendo imperioso para a felicidade de toda sociedade.
A liberdade individual garante a busca da excelência humana. Não como um conceito abstrato, mas como uma forma de vida que sustentaria a vida democrática, republicana e liberal. Mill acredita que a base da sociedade política é a liberdade assegurada pela possibilidade de seu exercício. Por isso, a vida democrática depende de indivíduos que possam exercer suas capacidades livremente e respeitar a diversidade dentro do individualismo[5]. A individualidade é útil para as virtudes cívicas, pois podem desenvolver também o respeito à variedade de opiniões. Essa é a verdadeira virtude cívica, que mantém a liberdade como uma ordem, não apenas como uma restrição de poder ao soberano. Eis a utilidade da vida democrática. A utilidade para o exercício do espírito dos grandes homens.
A educação cívica e a participação ativa tornam-se fundamentais na construção do poder político. A partir disto, Mill defenderá a participação das mulheres na política e o sufrágio feminino. Sua fórmula é uma soma de liberdade individual, autonomia negativa, desenvolvimento pessoal, e defesa da privacidade e do poder de escolha. A força do indivíduo é o que justifica e dá utilidade à vida democrática. O individualismo de Mill destaca que o egoísmo e a força do indivíduo podem ser virtuosos para toda a sociedade. É a vontade do indivíduo que deve ser determinante, acima de qualquer outro impeditivo. Os críticos de tais ideias destacam a distinção entre desejo e responsabilidade. Pensar que o indivíduo, enquanto uma força do espírito, age sempre para o bem quando de acordo com sua vontade, separa-o do todo e lhe retira a consciência da responsabilidade, e mesmo a ideia de ser “eu” diante de um “outro”.
3.
No individualismo de Mill, vemos perfeitamente a integração do utilitarismo burguês ao irracionalismo romântico, a mesma força de expressão que foi combinada entre Banco Santander e os seus eventos culturais. O tédio de homens amorfos comercializando moeda e produzindo valores úteis para a marca da empresa que comandam. O tédio do homem estetizante que faz da sua arte uma ação político-pedagógica que não respeita nem mesmo crianças. O tédio de dois filisteus abraçados na sua perspectiva materialista, sem qualquer tipo de imaginação moral. Mill foi ao romantismo para dar ares de significância e heroísmo pessoal à vida utilitarista burguesa, e não à toa o romantismo é um dos percussores do esteticismo. Abbagnano define assim o esteticismo para Kierkegaard: “a atitude de quem vive no instante, ou seja, vive para colher o que há de interessante na vida, desprezando tudo o que é banal, insignificante e mesquinho. O homem estetizante (…) evita a repetição, (…) a vida estetizante desemboca no tédio e, portanto, no desespero”. O esteticismo sempre foi próximo ao irracionalismo e ao individualismo, pois tenta fazer da fruição estética o centro de sua individualidade, o seu heroísmo particular, extraordinário, jamais insignificante.
A recepção de Mill não foi das melhores entre seus contemporâneos no Reino Unido, mas será fundamental para a formação do liberalismo-social de Hobson e Hobhouse no começo do século XX. No entanto, Berkowitz afirma que, até o sucesso do kantismo de Rawls, Mill era uma referência do modern liberalism americano. O inglês abriu caminho para uma nova concepção de liberdade que trazia de volta o Estado para sua promoção como uma ordem ou cultura, não apenas como limitação dos poderes do soberano.
O liberalismo moderno descobre a liberdade como um poder de fazer escolhas e se livrar de obstáculos para suas capacidades. Agora, não se trata mais de uma liberdade política concedida pela lei ao restringir o poder, mas a ação do soberano, garantido pela lei, ampliando o que entende por liberdade. Esse novo liberalismo abdica da ideia de direito natural e da centralidade da liberdade individual vista de maneira restrita, e aposta numa liberdade positiva que transforma um projeto utópico em um projeto de ação através do poder. A partir deste novo liberalismo, mais do que um arranjo, mais do que um princípio de organização da vida política, a ideia de liberdade ganhava contornos épicos de homens entediados, tornando-se uma ordem que precisa produzir seus valores para a continuidade da vida democrática. Em meu texto anterior, expliquei por que esta liberdade leva necessariamente à tirania.
Na última parte de seu artigo, Rodrigo Cássio reflete sobre alguns elementos éticos e toma a liberdade de expressão como um princípio. Ele deixa claro ao leitor qual a perspectiva que influencia seu pensamento – a cultura liberal. Assim, nos vemos diante de certa confusão, pois o autor não enfrenta a principal questão ética do seu texto: quando é que o produto da livre expressão oferece perigo físico e psicológico a alguém? Por que o Queermuseu não oferece este perigo?
Voltemos a Mill, pois este compreende a liberdade individual como finalidade. Porém, se o sentido da vida é a felicidade e se a finalidade do indivíduo é ser livre para agir de acordo como bem entender a partir de suas capacidades (desde que não esbarre na liberdade do outro), então o que é o outro diante de mim senão um obstáculo para minha realização? Ao tentar conceder o estatuto de heroísmo à ação humana, ao retirá-la de sua cotidianidade, transformamo-la no próprio sentido da vida. A ação pessoal é o objeto da felicidade e o ponto ao qual se dirigem todas as virtudes cívicas. De tal feita que a coisa mais importante da vida social (organizada tal como democracia) seria a proteção dessa ação pessoal, como se ela fosse especial, grandiosa, extraordinária, tornando-se o próprio sentido do existir. Transformado em Deus, esse indivíduo que tem fé na ação de cada homem, porque possui fé apenas em si mesmo, só pode conceber o próximo como um obstáculo à sua liberdade. O outro não é a realização de um reencontro, não é a contemplação da comunicação, nem um retrato do Criador a ser protegido, mas o empecilho necessário que dá sentido a si mesmo e a sua ação.
Assim, os limites estabelecidos para a liberdade (a liberdade do outro) são formais, sendo apenas uma performance que acaba não significando nada na prática, embora pretenda ser “consequencialista”. Dito de outro modo, o sentido da vida social é a liberdade individual, com cada um fazendo o que bem queira desde que não prejudique o outro. Por que este predicado ético “não prejudique o outro”? Porque se eu te prejudico, segue-se que você não pode ser livre como eu. Desse modo, a sociedade passa a ser composta por átomos, que existem em si mesmo e por si mesmos, um domínio em que o outro é apenas uma desculpa formal para delimitar a si próprio; caso contrário, você não poderia nem dizer que era livre. É um jogo formal. Na prática, essa liberdade individual não pode existir, porque é contraditória em si mesmo. Se critico o sr. Esquisito estou usando da minha liberdade para limitar a dele. Se ele exerce sua curadoria para abusar de crianças, usa da sua liberdade para limitar a do próximo. No exercício da ideia utilitária, ou eu te privo, ou você me priva. A razão de ser dessa ética é tentar tornar universal o indivíduo, a sua ação prática, como se esta tivesse descolada da ideia de todo. A ética de Mill é esteticista, pois não consegue escapar da sua própria fruição, do seu próprio universo, da performance de si mesmo. A sua ética é a vida burguesa usando como combustível a excepcionalidade romântica. O individualismo não pode ser parâmetro para o sentido ético da ação, mas só algo que transcenda a própria existência. O que deve decidir o caso prático não é o princípio da liberdade individual (que não é princípio), mas uma coisa tão ultrapassada como necessária: o que é certo, o que é errado.
E este autoengano em torno do individualismo é um círculo-vicioso próprio ao esteticismo, onde encontramos Rodrigo enredado na mesma contradição. É por isto que o seu texto entra em curto-circuito quando afirma que há limite para liberdade como consequência da ética de Mill, mas não pode afirmar isto no caso prático (no humor ou na arte, como no segundo e terceiro parágrafo), pois seria contrariar a ideia da ação do homem como extraordinário existir a ser cativado.
Do mesmo modo, ele afirma que a democracia se dá quando temos cada vez menos limites à liberdade, quando isto – na experiência prática, num contexto concreto – seria a proximidade com a anarquia, o reino onde o mais forte priva a liberdade dos mais fracos. Se quanto mais liberdade de expressão, mais democracia – pois quanto mais ações individuais respeitadas, mais democracia –, logo teremos uma situação em que o máximo possível de liberdade é eu fazer o que bem queira contigo, e você fazer o que bem queira comigo. Posso fazer uma exposição artística com 25 maneiras de estuprar sua mãe e você retribuir ou partir logo para um soco. É a barbárie, o acirramento das rivalidades, e não o máximo de democracia. Era exatamente esse tipo de violência que o arranjo “liberdade de expressão” pretendia evitar. Logo, a democracia não é o máximo respeito possível às ações humanas individuais, mas um equilíbrio tenso, um consenso movediço, que limita a liberdade do poder e limita a liberdade da sociedade, num arranjo para que se tenha a liberdade possível para convivermos sem violência física ou psicológica. A base da democracia só é o máximo do “eu faço o que eu quero” para entediados em geral. É por este motivo também que o autor precisa igualar moral e política, religião e ideologia, para que a sua perspectiva temporal e ideológica não seja percebida como banal, mas como um ato extraordinário diante do caos de ambas ideologias/religiões/morais. É o mesmo procedimento esteticista do individualismo de Mill. Quando, por fim, a religião não é ideologia, a ideologia não é moral, e tudo o que importa aqui não são sinais ideológicos, mas o que é o certo e o que é o errado.
Essa contradição nos fornece um elemento importante sobre a cultura liberal. A cultura liberal é também esteticista, pois – como má imitação daquilo que ela rivaliza – precisa do outro para existir, mas – ao mesmo tempo – só pode existir afirmando a si mesmo contra o outro. Ao ser uma má imitação do cristianismo, ou seja, da sua antropologia e da sua ética, tornando a descoberta do indivíduo em individualismo, os arranjos práticos para suprimir a violência em princípios universais, a cultura liberal só pode funcionar como um esquecimento que projeta o futuro, sem a possibilidade de abdicar daquele. A sua tragédia, como também a do esteticismo, leva ao âmbito irracional.
Daqui, partimos para a terceira questão ética que suscitou a exposição do Santander. A primeira foi sobre o certo e o errado da finalidade do curador da qual a arte era um instrumento. A segunda foi sobre o boicote e a sua legitimidade. A terceira – e última – é sobre o ultraje a culto. Por que na maioria das constituições do mundo ocidental encontramos a figura do “ultraje a culto” ou do “vilipêndio a objeto de culto”? E por que esta lei é cada vez menos aplicada e respeitada?
É óbvio que não há uma definição precisa sobre ultraje à culto, pois nesse campo tudo é movediço. Uma piada pode funcionar como deboche, seria ultraje? Uma crítica a qualquer religião e aos seus elementos seria ultraje? O que realmente é ultrajar a religião do outro? Isto ocorre quando há desrespeito, escárnio, abuso da religião do próximo, ou mesmo vilipêndio de seus objetos de culto. Os liberais adoram falar de ‘contrato social’ e ‘império da lei’, mas parecem não importar-se muito para o artigo 208 do Código Penal.
Definir no caso prático cada situação não é fácil, e depende do bom senso e dos costumes. Mas, por que os antigos colocavam essa condição como essencial para a liberdade de religião? Por que se sabia lá atrás que a liberdade como um arranjo era um equilíbrio entre limitações. Você limita a liberdade do poder em estabelecer a religião oficial e, ao mesmo tempo, limita a sociedade de desrespeitar a do próximo. Assim, nesse equilíbrio entre extensão e distensão, temos o arranjo chamado “liberdade de religião”. O “ultraje à culto” é um desses elementos limitadores. É mais um arranjo prático com todas suas contradições inerentes como todos os outros. Se você o retira, então não preciso mais respeitar sua religião, e isto vale também para quem está no exercício do poder soberano. Assim, o cristão pode perder a guarda.
O que muitos liberais não percebem aqui é a distinção entre Estado e governo da estrutura estatal. A estrutura legal nem sempre é aplicada no caso prático por uma série de motivos morais, culturais, de imaginário, etc., porém, a ausência desse direito fundamental libera a figura do poder instituinte para as pessoas que agem na estrutura estatal, como já havia percebido Negri. Retirar o “ultraje à culto” dos limites da liberdade de expressão não amplia a liberdade de expressão, nem garante mais liberdade de expressão ao católico. Ao contrário, acaba com o arranjo chamado ‘liberdade de religião’ e, então, será o domínio dos mais fortes (no caso, da cultura liberal) sobre os mais fracos.
Como já expliquei, essa é uma questão mais ampla que leva aos elementos da cultura liberal e porque ela rivaliza com o que imita. Um sujeito pode chamar o outro sem provas de “estuprador”, um sujeito pode pegar hóstias e profanar em sua manifestação. Em ambos os casos, o sujeito ofendido de estuprador e os religiosos que pedem respeito até mesmo para que a convivência social não descambe para o completo desrespeito em que prevalece a reciprocidade, o sentimento de vingança, e a irracionalidade, podem e devem entrar com um processo contra ambos. Caberia ao Estado a limitação dessa liberdade de expressão com sanções, que são educativas para toda a sociedade. Sem esse elemento, não vale mais “liberdade de expressão” para toda sociedade, mas o prevalecimento de quem tem mais poder sobre quem tem menos poder. Daí em diante, teremos leis sobre pais cristãos perdendo a guarda dos seus filhos por leva-los ao seu templo ou por discordar da ideologia de gênero. Não significa que esta seja a raiz do problema, mas apenas um arranjo prático que deve ser utilizado sempre que preciso. Caso contrário, as portas estarão abertas e, então, será ranger de dentes e sofrimento. Tal como a tragédia de uma sociedade esteticista que já não sente qualquer sentimento diante de uma criança exposta a adultos maus.
______
NOTAS
[1] KOSELLECK, Reinhart. Crítica e Crise: uma contribuição à patogênese do mundo burguês. Rio de Janeiro: Eduerj: Contraponto, 1999. (p.23)
[2] KOSELLECK, Reinhart. Crítica e Crise: uma contribuição à patogênese do mundo burguês. Rio de Janeiro: Eduerj: Contraponto, 1999. (p.23/24)
[3] Sobre o tema, há o clássico: “HOUGHTON, Walter E. The Victorian frame of mind, 1830-1870. New Haven: Yale Univ. Press for Wesley College, 1957”.
[4] Mill chegou a escrever a respeito desses dois autores que tanto lhe influenciaram em “On Bentham and Coleridge. Harper and Row, 1962”.
[5] BERKOWITZ, Peter. Virtue and the Making of Modern Liberalism. New Jersey: Princeton University Press, 1999. (p.137)
Elton Flaubert
Doutor em História pela UnB.
[email protected]