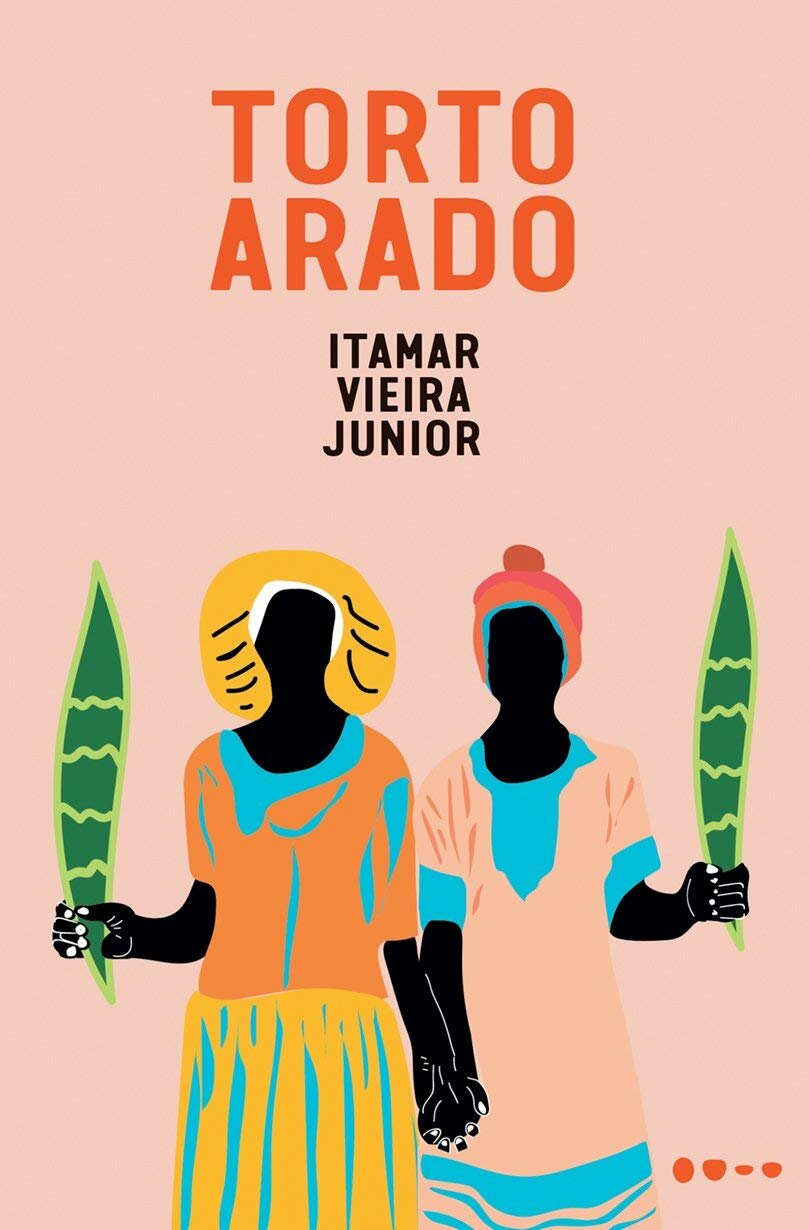Miriam Mambrini, em “A Bela Helena”, aborda autoconhecimento e descoberta através da conturbada vida de Talita-Helena
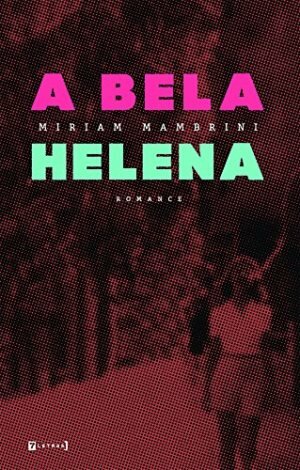
“A bela Helena”, de Miriam Mambrini (7 Letras, 2015, 212 páginas)
Talita completa sessenta anos entre os séculos XX e XXI. Em seu aniversário de 59 anos, prelúdio da velhice definitiva, recebe apenas um telefonema do filho distante: um “parabéns” seco, indiferente. Sentindo-se solitária, exaurida, fisicamente decaída, essa mulher, antes avassaladora e de beleza envolvente (como Helena), para compreender suas facetas e exorcizar um passado cheio de mágoas, decide escrever as memórias de uma vida iniciada durantes anos longínquos, quase em outro mundo.
Em A bela Helena, novo romance da autora Miriam Mambrini, somos apresentados ao Rio de Janeiro da década de 1940, quando o conservadorismo e o getulismo vivam seu auge; somos apresentados também a personagens palpáveis, multifacetados, humanos. Ainda que a obra seja categorizada como romance, é em forma de livro de memórias que se destaca: lembranças narradas de maneira frenética, em jatos, como se a protagonista o fizesse temendo perder logo a coragem de exteriorizar seus traumas, revivendo a miséria de uma existência permeada por breves momentos felizes.
“Minha história daria um romance”. Essa frase, aplicável à vida de todos (aposto que você já a proferiu), é o ponto de partida. Talita, apesar de sua trajetória marcante, defeituosa, nada tem de especial. Sua biografia, muito pelo contrário, é bastante comum. Na infância, é filha indesejada de uma mãe inconsequente, interesseira, revoltada com a gravidez precoce que lhe impediu de ascender financeiramente, e de um pai burguês que a despreza, cuja família vive em um apartamento à beira-mar em Copacabana. É jogada de lá para cá; ora pela mãe que não tem como sustentá-la, ora pelo pai que não a aceita como filha e a apresenta para os outros como “filha de uma amiga”.
A rejeição sofrida desde os mais tenros anos faz com que Talita tenha aversão ao próprio nome, chamado pelos pais com brutalidade, rispidez, o “tá, tá” lembrando os dolorosos açoites de um chicote. Seu desejo de amor, aceitação e reconhecimento, move-a, na adolescência e vida adulta, a relações abusivas, casamentos assimétricos, humilhantes e destruidores. É quando adota para si o nome Helena, afinal, sua beleza de “anjo mau” (como ressalta Laerte, o grande amor de sua vida) é capaz de inspirar desejos e tragédias. Não apenas isso: Talita crê que, sendo Helena, preencherá o vazio causado pelo desprezo dos progenitores e a repulsa do mundo burguês, que a enxerga como alguém que não pertence e nunca pertencerá àquele meio.
Diante da mãe obcecada por dinheiro e do romantismo de livros e filmes, Helena tenta alcançar a felicidade como lhe foi ensinado: através da figura de homens, como Laerte, que nunca está presente, mas também nunca se vai, irremediavelmente ligado a ela por um sentimento quase sobrenatural; ou seu marido agressor, Gustavo, que lhe toma o filho após descobrir seu adultério; ou ainda Eugênio, o velho rico e terno com quem se casa no fim da vida. Nesse caminho, contudo, Helena só encontra ruína, decadência. Descobre, então, que ser Helena significa morte, guerra, significa ser objeto de desejo, mas não ser pensante, com vontades e autonomia.
A construção da narrativa, a verossimilhança dos personagens e as angústias da protagonista, tão similares às nossas, fazem desse livro uma experiência deliciosa, reflexiva, capaz de incomodar e acariciar, simultaneamente, nossas próprias perspectivas com relação à vida. Afinal, somos todos dúbios, e nossas personalidades entrelaçadas, ainda que discerníveis, muitas vezes nos governam a seu bel-prazer.
Bruna Gonçalves
Formada em Letras pela PUC-Campinas, revisora, tradutora e "semiescritora" nas horas vagas.
[email protected]