Rafael Gallo escreveu uma obra de fôlego, extensa em sua construção formal e intensa na emulação do próprio drama.
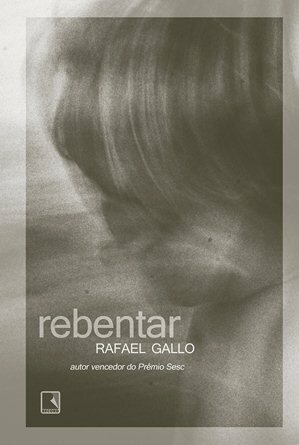
“Rebentar”, de Rafael Gallo (Record, 2015, 378 páginas)
Praticamente inexistente como objeto ou preocupação da literatura brasileira, a não ser na crônica jornalística, o sequestro ou desaparecimento de pessoas ainda não tinha sido enfrentando como matéria de ficção até o surgimento do romance Rebentar, de Rafael Galo, autor vencedor do Prêmio SESC de Literatura com o livro Reveillon e outros contos.
Nessa história de fôlego em que narrador e personagem deambulam por cenários de paradoxos e contradições durante três décadas para tentar desvendar a sumiço do menino Felipe, o talento na composição do enredo, a perícia e o mergulho de escafandrista do autor num tema tão incomum e delicado, nos lembram o mesmo empenho escrutinador com que os órgãos policiais e a mídia da época tentaram desmontar o quebra-cabeça do rumoroso caso Carlinhos que, nos idos de 1970, movimentou a imprensa carioca e desafiou os processos de investigação sem nunca terem encontrado a vítima nem apontado os culpados.
Nessa leitura ficcional que guarda analogia com aquele episódio, em Ângela e Otávio, os pais do garoto que desapareceu numa galeria de lojas, subsistem os mesmos drama e angústia da família de Carlos Ramires diante de um mistério até hoje não desvendado. No entanto, o autor transforma a luta, o luto e a dor desses pais numa experiência existencial mais profunda. A crise instaurada dentro de casa vai ganhando corpo na medida em que a ausência e a eterna busca reduzem-nos a um estado de estagnação íntima. O efeito devastador recai principalmente sobre a mãe, que viveu todos aqueles anos obcecada por encontrar o filho, mas diante da incerteza (ou falsas certezas) decorrente de pistas que nunca levaram a um desfecho, é quem mais se exaure, quando vão minando suas resistências e criando as condições objetivas para o enterro psicológico do filho cujo corpo nunca foi achado.
Essa renúncia metaforiza a sensação de impotência diante da realidade instaurada na vida pessoal, doméstica e social dos pais com aquele sumiço (ou rapto). Ao mesmo tempo opera-se lentamente a corrosão das razões subjetivas e dos liames afetivos que os ligam ao filho e ao passado ressuscitado, em vão, a cada manhã, na medida em que três décadas depois, mesmo se encontrado, a mãe se sentiria diante de outro filho, não o procurado, mas o que foi possível (re)encontrar.
Isso fica claro num momento dramático do livro quando, diante da iminência de reconhecer Felipe na figura de um homem que vive num abrigo, Ângela, na hipertrofia de suas já reiteradas frustrações e pressionada pelo desespero, resolve dar um golpe de misericórdia na sua angústia ao sair do local sem ter a certeza de que era o filho desaparecido nem mesmo emulando qualquer alternativa para elevar o seu nível de confiança naquele mínimo rastilho de possibilidade.
Esse momento de renúncia também sela a ruptura com o grupo “Mães em Busca”, que a alimentou durante todos esses anos. Nesse ínterim, diante de uma circunstância factual que poderia selar a reaparição do filho, Ângela, como que num surto de derradeira lucidez, recolhe as armas, pois poderia muito valer-se dos recursos disponíveis (que na época não existiam) como o exame de DNA para confirmar o parentesco do homem que aparentava ser o filho que procurava no breve diálogo que conseguiu estabelecer com ele. O Felipe com as três manchas no pescoço e que desapareceu na galeria, ressurgia agora transmutado em um alguém apenas conhecido como “Ferida”, por conta de hematomas na mesma região, o que lhe valeu a alcunha para aquele rosto que indicava alguém perdido no labirinto de sua própria identidade.
Nesse particular, também, se instaura o contraponto dessa busca, porque é a desistência como fim de um ciclo oneroso emocionalmente. A dúvida permaneceria para sempre e seria menos doloroso carregá-la a ter que cair de novo diante de uma possível desilusão com a descoberta negativa. E se não, ali estaria um Felipe de 35 anos, não o que desapareceu aos 5 (e que ela tentava recuperar), quando deixado pela mãe numa loja de brinquedos, enquanto ela fazia compras. Essa constatação rebenta dentro dela como uma verdade irretorquível, como as águas daquele cais para onde diariamente Ângela se dirigia na contemplação de um horizonte distante e difuso como a falta de notícias do filho. Todo esse espectro criaria nela o efeito especular de uma sinergia com sua realidade, diante de um oceano de dúvidas que fazia rebentar ali as ondas da incerteza, pois “O mar: a solidão espelhada” trazia-lhe reflexos de uma tragédia que a consumia e devorava as forças da família, ainda que no íntimo se estimulasse por uma réstia de esperança ao entrar para o grupo de mães passageiras da nau do no mesmo desespero.
O momento crucial se instala e ela percebe que se não houve jeito para enterrar o filho, chegou o momento de realizar o trespasse simbólico, enterrando o tempo e o sentimento de fracasso, quando decide voltar a viver, colocando a casa à venda, retomando o cargo de professora no antigo colégio onde trabalhava e dar um novo sentido à vida. E o ponto culminante de seu renascimento como se fora a fênix generosa da mitologia grega, se manifesta quando a gravidez da sobrinha Isabela acrescenta-lhe um leitmotiv para o seu ressurgimento, deslocando para o sobrinho neto Gabriel todas as energias afetivas de sua maternidade interrompida.
A sensação de perda e de um luto nunca concluído (ou de um cadáver sempre insepulto) está definida pelo autor quando, com delicadeza conceitual, sutileza poética e profundidade semântica, estabelece um pathos para situar essa indefinível sensação de uma família diante do passivo que nunca se resolve, aterrorizados por esse alijamento existencial que não se pode nominar com clareza, mas se pode sentir em toda sua tsunâmica magnitude dilaceradora
Um filho desaparecido é um filho que morre todos os dias. Nem mesmo nas mitologias mais cruéis há tragédias equivalentes; essa dor nenhum deus teve de suportar. Cada noite que cai desaba sobre os pais com o peso renovado da notícia; você perdeu a sua criança e ela está em algum lugar nessa escuridão afora, desprotegida de seu lar. Essa mensagem silenciosa se impregna nas paredes da casa, nos vãos entre os azulejos, nos ponteiros dos relógios e nas páginas dos calendários, nos retratos da família, no chão que se pisa.
Rafael Gallo escreveu uma obra de fôlego, extensa em sua construção formal e intensa na emulação do próprio drama. No entanto, em nenhum momento pareceu excessivo nas descrições, nas informações ou nas imagens, muito menos resvalou para o sentimentalismo escatológico que muitas vezes contamina com as tintas da tragicidade acontecimentos como os desse pungente relato.
Em toda a obra percebe-se a habilidade do autor em compatibilizar o trabalho de pesquisa com nuances sobre processos de busca e investigação sem contaminar a prosa com detalhes técnicos ou didatismo. Sem dúvida, para essa harmonia e equilíbrio contribuiu uma linguagem refinada e capaz de prender pelo tom diáfano e por uma sintaxe peculiar, além da inegável relação do autor com a música, emprestando ao conjunto uma ressonância orquestral, como preparando o leitor para uma espécie de sinfonia do adeus em meio às turbulências de uma permanente tensão.
O autor soube dosar as duas experiências, a do texto longo e a do drama expandido e contá-lo com sofisticação verbal, emprestando uma poesia para ressignificar a humanidade dessa dor e a dos sulcos causados na vida de seus personagens, como aqueles que as ondas pouco comportadas de um mar agitado fazem ao rebentar nalgum cais desprotegido, rebentando também as fronteiras entre a vida e a própria arte.







