Minha torcida era por Lobo Antunes, considerado por muitos o maior escritor português contemporâneo.
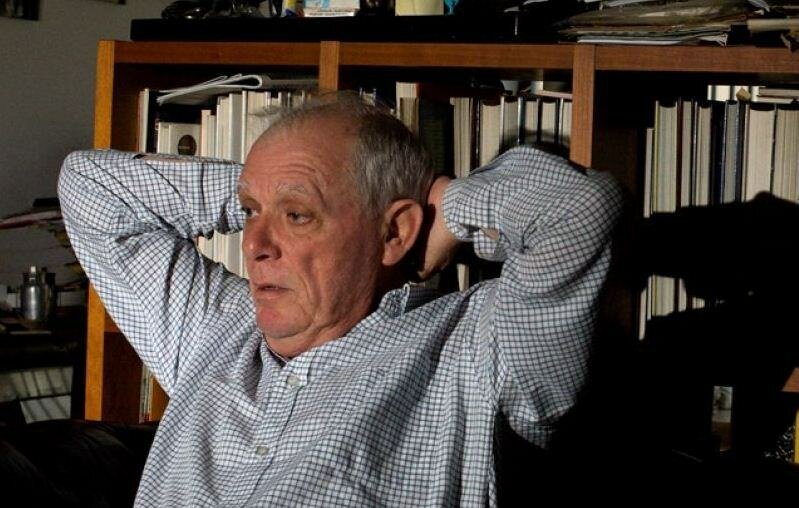
Nas últimas semanas, os jornais aparentemente transmutaram-se em cornucópia literária, na qual abundam comentários de leitores, literatos e críticos acerca da nomeação de Bob Dylan ao Nobel – comentários que partem desde a assertiva de que literatura e música pertencem a esferas diferentes até defesas da riqueza e presença de várias tradições literárias na obra do compositor. Em especial, Martim Vasques da Cunha – sem dúvida um dos nomes que mais apreciam a literatura em nossas terras – assinala, em seu artigo “A república invisível de Bob Dylan“, o desconhecimento, por parte do “círculo de sábios”, das sutilezas próprias da literatura, especialmente do cancioneiro americano. Ora, Dylan é, de fato, o epítome do “tormento da expressão” que aflige a alma daqueles que pertencem à confraria invisível dos escritores permanentes? Um dos nomes sempre cotados ao prêmio Nobel, o escritor norte-americano Cormac McCarthy, por exemplo, em sua obra Blood Meridian (Meridiano de Sangue), reúne desde os temas espinhosos da história americana: o massacre de índios, de mexicanos e brancos, a violência dos Comanche, que emergiram como grupo distinto num período posterior à chegada dos colonizadores e capturavam indivíduos de outras tribos para vendê-los como escravos, e dos Apache, tão viscerais em seus métodos quanto os assassinos contratados para eliminá-los, e do exército do general mexicano José María Elias que também escalpelavam seus inimigos; tudo isto executado no cenário de Western (o gênero original mas não exclusivamente americano), que, por sua vez, serve de palco para a “manifestação” de uma encarnação psicopata do mal, o juiz Holden, que, a julgar pela autobiografia de Samuel de Chamberlain, realmente fez parte do grupo de assassinos liderados por Glanton, os quais recebiam dinheiro por cada escalpelo que traziam consigo.
O juiz Holden, que traz calafrios a todos aqueles que já leram o livro, funde a maldade mais sombria (as crianças tinham pesadelos pouco antes de Holden chegar em suas aldeias) numa entidade demiúrgica (e, portanto, gnóstica), cujo conhecimento enciclopédico do mundo é a chave mesma para sua extinção (ele registra detalhadamente os objetos mais díspares a fim de eliminá-los da história). Como derradeiro senhor da guerra, Holden, em seus assassinatos e torturas, parte da concepção de que a “guerra é deus”, já que traz unidade e avanço ao mundo.
Se Herman Melville traçou em “Moby Dick” a batalha eterna e cósmica entre bem e mal, elencando como signo da maldade a baleia albina homônima, McCarthy, por seu turno, nos apresentou o monstro moral igualmente albino, Holden, como demônio caminhando pela terra. Tudo isto escrito numa linguagem bíblica, hipnótica, profética, quase encantatória. Isto sem contar sua “Border Trilogy” (All The Pretty Horses, The Crossing e Cities of the Plain), no qual recria o gótico sulista, uma tradição oriunda de Faulkner, Flannery O’Connor e Harper Lee, e a obra Outer Dark, um conto sombrio sobre a natureza humana conduzida num contexto apocalíptico, no qual homem é perseguido e punido pelo universo, devido a um pecado original. E temos ainda The Road, obra que demonstra, com mais habilidade do que qualquer canção de Dylan, a absoluta falta de transcendência e o abandono de Deus (aliás, tema tratado no magistral Sunset Limited, no qual um operário cristão e um acadêmico ateu, salvo por aquele do suicídio, se lançam num gládio espiritual e cósmico acerca da vida com ou sem Deus) e a esperança materializada na fragilidade da infância.
Contudo, não pontuo tais referências com o simples intuito de afirmar que McCarthy deveria ter recebido o Nobel em vez de Dylan – na verdade, torcia descaradamente por Lobo Antunes, considerado por muitos o maior escritor português contemporâneo. O prestígio de Lobo Antunes se deve não apenas à permanência de sua qualidade literária ainda que levando em conta seu ritmo de composição – isto é, vinte e sete romances (fora crônicas e outros projetos), a contar de 1979, quando da publicação de seus dois primeiros livros, Memória de Elefante e Os Cus de Judas, até este ano (2016), com o recente lançamento de Para Aquela que Está Sentada no Escuro à Minha Espera –, mas também pela sua contribuição ao que podemos temporariamente denominar de “renovação da arte romanesca”.
Desde o Iluminismo, com a sobreposição da razão sobre a revelação, houve tentativas de composição de uma Bíblia secularizada – de uma obra que pudesse não somente abarcar as múltiplas particularidades do real, mas também, por meio de um princípio unificador, delegar sentido aos atos, eventos e experiências humanas. A Enciclopédia iluminista é, de certo modo, o resultado desse esforço “alexandrino”, no qual a razão humana, supostamente neutra e autônoma, atua como elemento basilar e agregador. Todavia, no decorrer dos tempos, tal experiência demonstrou sua esterilidade, isto para não dizer que, numa perspectiva pós-iluminista, é possível somente lançar olhares complacentes sobre sua puerilidade. Mallarmé, abalado pela crise de vers, e, angustiado no seu processo de composição, pela necessidade de insuflar o “sopro primordial” novamente na “linguagem da tribo”, já dizia que o mundo existe para terminar em livro. Daí segue-se o desejo gnóstico de coerir todo o universo em livros – de abarcar a realidade na literatura –, desejo que transparece no livre à venir, de Maurice Blanchot, na “Biblioteca de Babel” ou no “Livro de Areia”, de Borges, nas odisseias profanas de Joyce, nos romances-paranoias de Pynchon, ou naquilo que o crítico britânico James Wood chama de “realismo histérico”, em nomes como Salman Rushdie e David Foster Wallace.
E quanto a Lobo Antunes, embora não possamos incluí-lo dentro dessa tônica histérica ou paranoica, é fato que há uma busca por aquilo que Franco Moretti chama de “livro-mundo”, ou sistema mundial, esforço que remonta ao Goethe de Fausto até Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Marquez. Em última instância, essa composição, majoritariamente cerebral ainda que por vezes oculta por uma camada superficial de associação voluntária, é uma transmutação do desejo demiúrgico de criação de um universo próprio regido pelas leis arbitrárias do próprio escritor, o qual se cristaliza naquilo que a academia convencionou designar de metaficção. Lobo Antunes, no entanto, supera esse impasse do romance contemporâneo (impasse tão letárgico que a crítica se apressa a sentenciá-lo como morto) por meio de seu projeto de composição que, segundo próprio autor, tem início quando da publicação de seu primeiro romance, culminando nos seus últimos quatro romances que, supostamente, serão publicados (incluindo o já citado Para Aquela que Está Sentada no Escuro À Minha Espera).
Em última instância, em grande parte de seus romances, não há um protagonista – ao menos não no sentido do formalismo russo, isto é, o personagem no qual incide a maior carga de emoção. Antes, os romances antonianos se espraiam como rizomas históricos, memorialísticos e biográficos, os quais, por vezes, abarcam gerações distintas mas unidas por uma espécie de solidariedade da miséria. Ademais, o tempo e o espaço são inteiramente subvertidos, de modo que um mesmo discurso ou ação transcorre em estratos temporais distintos, de modo que um evento análogo une presente e passado, ou um personagem vivencia simultaneamente sua experiência presente e as dores passadas arraigadas sua memória. Além de transportar as ruínas aristocráticas sulistas de Faulkner para o Portugal salazarista – com Ur-Vaters (pais primordiais freudianos) que controlam despoticamente suas quintas e engenhos, com a mesma violência de um Popeye (o impotente sexual que na obra Santuário, de Faulkner, estupra a personagem Temple com uma espiga de milho), ou a altivez dos Sartorius –, Lobo Antunes também retoma a tradição do horror místico da África explorado por Joseph Conrad em suas narrativas da guerra colonial em Angola (tendo ele mesmo participado dela como alferes médico). Isto sem mencionar a influência da prosa noturna de Céline, ou a retomada do drama pessoal em meio a uma comunidade que divorcia espírito e lei, como em A letra escarlate, de Hawthorne, uma das obras mais queridas do escritor português. Arquipélago da Insônia, por exemplo, um dos livros mais emblemáticos e dolorosos de Antunes, é tão saturado de fantasmas que, por fim, todo o cenário, tendo se tornado espectral, desmorona-se na incompreensão ou fusão da realidade com fantasia. A narrativa, transcorrida na mente de um autista numa possível quinta abandonada de seu avô, conjuga não somente os elementos típicos do interior português (relembrando a vitalidade de Aquilino Ribeiro), mas também a amplitude cósmica da mitologia clássica, quando Hortênsia, supostamente uma prima, transmuta-se na própria Morte ou numa das Parcas.
Portanto, tendo vivenciado os horrores da guerra colonial em Angola, imerso “num país que ardia”, vivido no ambiente ocluso da ditadura salazarista, desnutrido pelas narrativas espectrais do último império ocidental que se desmoronava subitamente nas décadas de 60 e 70, num país que, orgulhosamente, se relaciona ambiguamente com a Europa – parte intrínseca dela (“Jardim da Europa à beira-mar plantado, como no verso de Tomás de Ribeiro) ou como a “jangada de pedra” (José Saramago) que se distancia da Europa, velejando em direção ao Atlântico –, Lobo Antunes é um dos oceanos de imaginação povoados dos dramas mais vívidos do Ocidente hoje: dipsomaníacos, ex-combatentes, travestis, torturadores, guerrilheiros comunistas, ditadores, prostitutas, autistas, lunáticos, toxicomaníacos. Como observou recentemente Bruno Vieira Amaral, numa resenha sobre o último romance de Lobo Antunes:
Obedecendo à máxima de Balzac, que o próprio Lobo Antunes por várias vezes citou, segundo a qual o verdadeiro romancista tem de ter vasculhado toda a vida social porque o romance é a história privada das nações, o escritor português vasculhou e escreveu sobre o Portugal suburbano, a burguesia lisboeta das Avenidas Novas, a classe média urbana, a velha fidalguia rural, os esquecidos dos bairros periféricos, os pornograficamente ricos das moradias de luxo, os banqueiros e os delinquentes menores, os deslocados do campo para a cidade, os deslocados das colónias para a metrópole, as cabeleireiras e os empregados de balcão, os políticos, os enfermos, os traficantes de diamantes e de influências. Portanto, quer se fale dos temas ou do meio social retratado, a acusação de repetição não tem fundamento.
Mas todo esse périplo é somente para corroborar, ainda que superficialmente, a frase de Lobo Antunes, cujas opiniões sobre prêmios são as mais controversas, segundo a qual são os autores que concedem honra aos prêmios, e não o contrário. Num exercício deveras fútil, os leitores de hoje podem vaticinar, com certa segurança, a curta permanência, na memória coletiva, das obras de laureados como Herta Müller (2009) ou Nadine Gordimer (1991).
A literatura, Borges dizia, é sempre arredia à teoria; de igual modo, dada sua liberdade congênita, por vezes ridiculariza as próprias instâncias ou instituições coletivas de legitimação. A bem da verdade, a opinião de Harold Bloom, embora imersa num contexto e estrutura gnósticos, é profundamente real: são os escritores fortes que reconhecem o cânone – não os leitores comuns nem, ainda menos, a academia. Como na igreja primitiva, ou mesmo no Concílio de Jâmnia promovido por rabinos, a legitimação, por parte de uma coletividade, das obras fundantes e autoritativas se dá, em parte considerável, pelo reconhecimento da presença do mesmo espírito vital subjacente ao grupo. Dito de outro modo, a instância não é capaz de insuflar, mas simplesmente detectar e trazer à tona uma força motriz (Schelling: “A nação não produz um mito, antes, o mito que produz a nação”).
Basta notar, citando Martim Vasques da Cunha, o totalitarismo cultural da academia brasileira e os nomes que, na sua hybris, deseja sacralizar ou incluir à força na confraria do invisível: de Eduardo Galeano a Pepetela, ideólogos que, num delírio, se querem escritores. Já que estes autores, tomados em seu projeto estético e estrutura noética, são insuficientemente fortes para se afirmarem ou legarem suas marcas aos espíritos de seus leitores, a academia deve, pois, se encarregar não apenas de incentivar sua leitura e análise, mas também elencá-los como símbolos da alta literatura. De semelhante modo, a academia, quando lhe convém, é capaz de suprimir ou relegar ao desprezo, embora no mais das vezes por um limitado período de tempo, autores que não se coadunam com suas ideologias, como é o caso do magistral Knut Hamsun, autor do romance protoexistencialista Fome, e também laureado com o Nobel, atualmente ostracizado no meio acadêmico devido à sua simpatia pelo regime nazista nos seus anos iniciais.
Desse modo, uma apreciação desmedida das nomeações do Nobel – a qual todos estamos sujeitos – é capaz de negar o próprio funcionamento interino da literatura; afinal, os grandes escritores sobrevivem e se perpetuam, por assim dizer, na medida em que se lançam ao desbravamento da condição humana; de maneira que, conforme Milan Kundera afirmou em Arte do Romance, “o romance que não descobre uma porção até então desconhecida da existência é imoral. O conhecimento é a única moral do romance”.
Por fim, tendo esquivado da questão central acerca de Bob Dylan, partindo da premissa de Sara Danils, secretária permanente da Academia Sueca, de acordo com a qual as composições de Bob Dylan¹ remontam à tradição de Homero e Safo (numa analogia um tanto quanto deformada por não considerar o descompasso de mundos, funções e finalidades dos bardos e o compositor contemporâneo), textos poéticos compostos para apresentação pública, é preciso primeiramente refletir se as letras (não estamos levando em conta suas crônicas e seu livro Tarântula) de Dylan sobrevivem à parte de sua música. Caso positivo, há na poética de Dylan, tomada em si, um processo em prol da renovação da literatura? O alerta de Todorov, em Literatura em perigo, acerca dos três fossos para os quais a arte literária se encaminha para seu fim – niilismo, formalismo e solipsismo – ainda se faz ouvir. Embora a morte da literatura tenha servido de próprio material de composição literária, vivenciamos efetivamente um progressivo exaurimento da substância narrativa devido aos reducionismos ideológicos e pobreza espiritual das civilizações. A literatura, ou mais especificamente, os verdadeiros literatos cônscios de sua função serão os únicos responsáveis por reverter ou permitir tal situação. Nesse sentido, poderemos delegar a Dylan a tarefa de guardião da literatura? Ou devemos simplesmente incumbi-lo daquilo que até aqui tem feito de forma exímia – a composição musical?
Miguel Esteves Cardoso, um escritor português que na maior parte do tempo somente coleciona e agrega lugares-comuns em seus escritos, afirmou acerca da polêmica em torno de Dylan:
Está fora de moda falar na eternidade, mas tanto Alexievich como Dylan serão imortais. Escrever é escrever. Um mau poeta será sempre pior do que um bom jornalista. Dylan é inegavelmente um grande escritor. A Academia sueca está a usar o Prémio Nobel para restaurar a literatura. Tomara que regresse à literatura oral. As histórias que não são escritas também podem ser grandes e imortais. A obra de Dylan – que é caoticamente desigual, havendo coisas terríveis ao lado de obras-primas – é uma gloriosa colecção de todas as tradições literárias da humanidade, desde os trovadores aos cantores de blues, desde os contos de fada às orações (ênfase acrescida)².
Particularmente, duvido profundamente de qualquer potencial restaurador da Academia sueca, especialmente para com a esfera da literatura, que depende inteiramente da força espiritual e percepção amorosa da realidade por parte do indivíduo. Se este foi o objetivo ao atribuir o prêmio a Dylan, talvez a Academia tenha dado o prêmio não a quem não o merecia, mas, a julgar levianamente pelo próprio silêncio do compositor e sua aparente recusa em contatar seus premiadores, a alguém que se julga incapaz ou indisposto a tarefa de restauração de tão importante república.
Por fim, parte considerável de toda a polêmica talvez pudesse ser dirimida mediante a reflexão sobre a importância, ou mesmo relevância, do prêmio Nobel para não somente a formação do cânone, mas também para o hábito dos verdadeiros leitores que veem na grande literatura uma lente cristalina para a percepção, apreensão e ordenação de suas próprias experiências e sentimentos interiores. Em todo caso, resvalamos e retornamos mais uma vez à questão da legitimação da literatura – e, de qualquer maneira, a observação mais superficial do século XX, um período relativamente curto na história da literatura, deixará claro que a avidez espiritual dos leitores, e especialmente dos leitores superiores que são os escritores, permanece sendo a instância superior de legitimação e apreciação da literatura.
Novamente: “O prestígio são os escritores que dão aos prêmios literários, não ao contrário” (Lobo Antunes).
______
¹ É curioso o fato de que vários escritores, quando indagados acerca de Dylan, invariavelmente elogiam-no como músico, e, inclusive, afirmam apreciar suas composições, mas ao mesmo tempo criticam a Academia por considerá-las como expressões literárias em si. O escocês Irvine Welsh, autor de Trainspotting, por exemplo, escreveu num twitter: “I’m a Dylan fan, but this is an ill conceived nostalgia award wrenched from the rancid prostates of senile, gibbering hippies” [Eu sou fã de Dylan, mas esta é uma nomeação duma nostalgia mal concebida arrancada das próstatas rançosas de hippies senis e tartamudos].
² Poderíamos indagar a Miguel Esteves Cardoso como uma multidão de estudiosos ou simplesmente pessoas comuns teriam acesso a essa hipotética literatura oral premiada – acaso instaríamos com as pessoas que tivessem memorizado a narrativa para que a declamassem a todo momento que quiséssemos acessá-la? Evidentemente que tal narrativa oral poderia ser gravada e consequentemente reproduzida em dispositivos de mídia óptica, mas, ainda assim, excluiríamos os deficientes auditivos, aos quais, por motivos mais mercadológicos do que humanos (embora não excluindo estes últimos), certamente seriam fornecidas versões impressas dessas obras orais. Evidentemente a opinião, ou platitude, de Cardoso reflete a crença “primitivista” de que a literatura oral, sendo supostamente espontânea e livre das amarras editoriais, reflete, de modo mais puro, o ânimo literário genesíaco.
Fabrício de Moraes
Tradutor, doutor em Literatura (UFJF/Queen Mary University of London).
[email protected]





