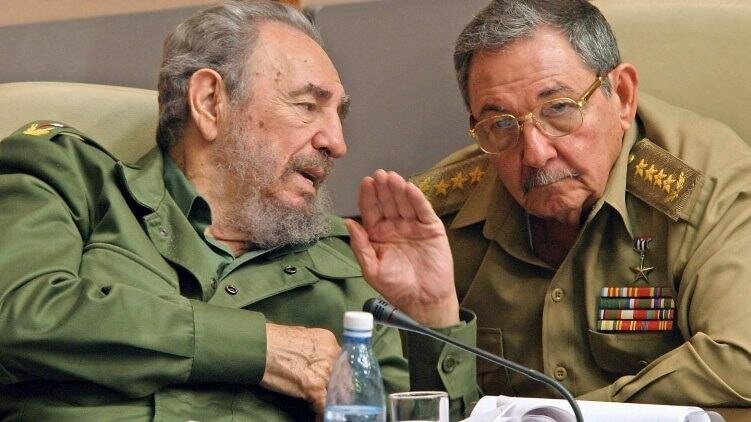Bob Dylan construiu um edifício poético e musical às custas de muita cobrança interior, desespero e solidão.

Nada é mais danoso para o espírito humano que o fracasso pessoal e a autocomplacência que, no mais das vezes, se exteriorizam como crítica impiedosa; jamais a si mesmo, mas sempre a um outro. Decerto, pode-se mensurar um caráter a partir da recorrência de suas críticas, cujo agravante moral é escandaloso desde que remetido a alguém de notório sucesso.
A crítica direcionada ao músico Bob Dylan no tocante à concessão do Prêmio Nobel de Literatura de 2016 parece confirmar a certeza de que, em parte, a recusa se deve ou ao desconhecimento da obra do agraciado, ou ao ressentimento de ver que um único homem tem mais louros em sua trajetória que um país continental como o Brasil; país que faz precipitar diuturnamente uma legião de pretensiosas autoridades virtuais que, munidas apenas de opinião, avalia tudo o que se move.
Pode-se concluir que estamos diante um fenômeno sociológico incomum em que fracasso, revolta e crises miméticas se alternam em análises rasas e superficiais. Há muito os gregos deram a esse incômodo fenômeno o nome de doxa, enquanto Heidegger o ampliaria como o falatório. Tornando-se inesperadamente o agraciado do aludido Nobel deste ano, o músico Bob Dylan fora lançado na teia do desejo mimético inconfessado, enredando-se em um falatório impessoal que, incapaz de avaliar a densidade de sua obra musical, o denegou à distância, diminuindo-o não por sua exclusividade, mas por seus acidentes: voz, cabelo e suscetível arrogância.
Avaliá-lo a partir dos critérios da própria Academia Sueca, que o fez por considerar que o músico criara novas expressões poéticas dentro da grande tradição da música americana, dá a real dimensão do prêmio tão controvertido. Pela justificativa da Academia se observa que Dylan fora avaliado pela ampliação do campo simbólico musical, a partir da utilização de imagens poéticas. Contestá-la talvez seja suficientemente entusiasmante, mas fracassa desde que uma letra eventual, como “A hard rains it’s a-gonna fall” de 1962, compromete qualquer crítica, afinal extrapola uma letra de música popular qualquer: “conhecerei minha canção antes de começar a cantá-la”. Na narrativa kafkiana que esboça a partir do assassinato de Hattie Caroll e da conotação racial que abranda a punição de seu assassino, presente na monumental “The lonesome death of Hattie Caroll”, Bob Dylan dá mostras daquilo que o faria extraordinariamente diferente, alçando-o para um território entre a poesia e a música:
Na honrosa corte/ O juiz bate seu martelo/ Para mostrar que todos são iguais/ E que a corte está neutra/ E as cordas dos livros/ Não são puxadas e persuadidas/ E que até os nobres recebem tratamento adequado/ Uma vez que a polícia os caçou/ E os apreendeu/ E que a escada da lei não tem nem topo nem fundo/ Encarou a pessoa que matou sem motivos/ Que por acaso se sentiu assim/ Sem aviso/ E ele falou através das roupas/ Tão profundas e distingue/ E clamou fortemente/ Por penalidades e arrependimentos/ William Zantzinger com uma sentença de seis meses/ Oh, mas você que filosofa desgraça/ E critica todos os medos/ Enterra o pano fundo em seu rosto/ Pois agora é hora para suas lágrimas.
Com um olhar aguçado para as tragédias humanas, confirmadas inclusive por sua declaração em sua autobiografia de que preferiria morrer em um campo de batalha, há em canções como “Only a pawn in their game”, “Who killed Davey Moore”, “Lenny Bruce” e “Hurricane”, um fascínio pela crueza angustiante da vida, contestando impremeditadamente a impecável observação de T.S.Eliot: “A espécie humana não suporta demasiada realidade.” A propósito, como se fizesse uma avaliação existencial do drama da Shoah, que ceifara o seu povo judeu, Bob Dylan parece encadear em “With God on our side” uma análise filosófica próxima da Espécie Humana de Robert Antelme e Noite de Elie Wiesel, cujo ápice é o perdão: “embora eles tenham assassinado seis milhões/ nos fornos em que fritaram/ ao alemães agora também/ têm Deus ao seu lado.”
Pelo teor das supostas críticas que pulularam nas redes sociais desde o anúncio da Academia Sueca, pude observar, sobretudo, um desconhecimento assoberbado da obra de Bob Dylan, constrangimento que seria minimamente reparado se músicas como “Whentheships comes in”, “Chimesoffreedom” ou “The times they are a-changin” fossem minimamente avaliadas. Antes disso, excetuadas as melodias – gaitas e violões – a poesia de Dylan basta-se a si própria, algo constatável na leitura da sua providencial “Allalongthewatchtower”: “Deve haver algum jeito de sair daqui, disse o coringa ao ladrão. Há confusão demais, não consigo nenhum alívio. (…). ‘Não há razão para ficar excitado’, o ladrão bondosamente falou, ‘existem muitos por aqui entre nós que sentem que a vida não passa de uma piada.”
Em decorrência do veio caudaloso e provocador de canções dessa envergadura, que o põem na tradição da poesia profética de William Blake (haja vista a canção “I shall be released”), Bob Dylan vem desde os anos 60 criando um gênero particular que reflete sobre política, religião, morte, sem nem mesmo se deixar envolver. Como um observador privilegiado, dimensiona seus temas desde um ponto de vista pictórico, afinal – dentre outros dons – tem a pintura como segunda atividade.
Por nunca ter sido autoindulgente consigo mesmo, o músico vem – desde a juventude – burilando um estilo único e poeticamente inconfundível, que o fizera nas noites frias de Nova York. Quando ainda era um incômodo inquilino de eventuais amigos, cadenciava os longos poemas de Coleridge, Wordsworth e Whitman no seu violão. Dentre outros feitos, que surpreenderia até o mais radical seguidor do musicólogo Alan Lomax, Dylan conciliaria – sem perder a cadência – uma gaita entrecortada por versos, cujas palavras eram ajustadas por seu violão, feito que creditara à compreensão da obra de Jesse Fuller, também conhecido como o espetacular one-man band.
Fã dos versos brancos e da prosa filosófica de autores como Nietzsche e Rimbaud, emulados a partir da musicalidade sofrível de Hank Williams, Blind Lemon Jefferson, Cisco Houston e Woody Guthrie, Bob Dylan construiu um edifício poético e musical às custas de muita cobrança interior, desespero e solidão, fazendo-o ingressar em um lugar inalcançável, afinal é – em um só tempo – o único homem agraciado com um Nobel, um Pulitzer, um Oscar, um Globo de Ouro e onze Grammys.
Em um tribunal muito mais implacável que os anteriormente supracitados, certamente Dylan já julgava sua própria obra desde a mais tenra idade, de modo que acidentalmente, nesse percurso musical, transformara versos em música, sagrando-se triunfal. Goste-se ou não de sua voz, bem como de sua música, o certo é que nada é mais nietzschiano (no cancioneiro popular do último século) que “Mr.Tambourine Man” e nada é mais poeticamente sofisticado que “It’s alright ma (i’m only bleeding)”, que renderia, segundo Iggy Pop, o rótulo de “a canção que jamais envelhece”. Por corroborar com a tese de que a crítica mais bem-sucedida é a interior, de modo que as demais são acidentais, Dylan é mais uma vez catapultado para um lugar inalcançável, cujo sucesso é proporcional ao nível de trabalho, genialidade e esforço dispendidos.
Em tese, fico com a observação de Henri de Montherlant em seus Carnets: “O crítico sabe que, ao julgar-nos, julga-se também a si mesmo?” Compreender essa breve citação é compreender o sucesso de Dylan e o fracasso de seus detratores, em um período nebuloso da história que parece confirmá-lo desesperadamente: “Quando não se tem nada/ não há nada a perder.” Em tempos de redes sociais, quem sempre sai ganhando é a perda de tempo.
Ivan Pessoa
Professor da UFMA, Mestre em Ética e Epistemologia.