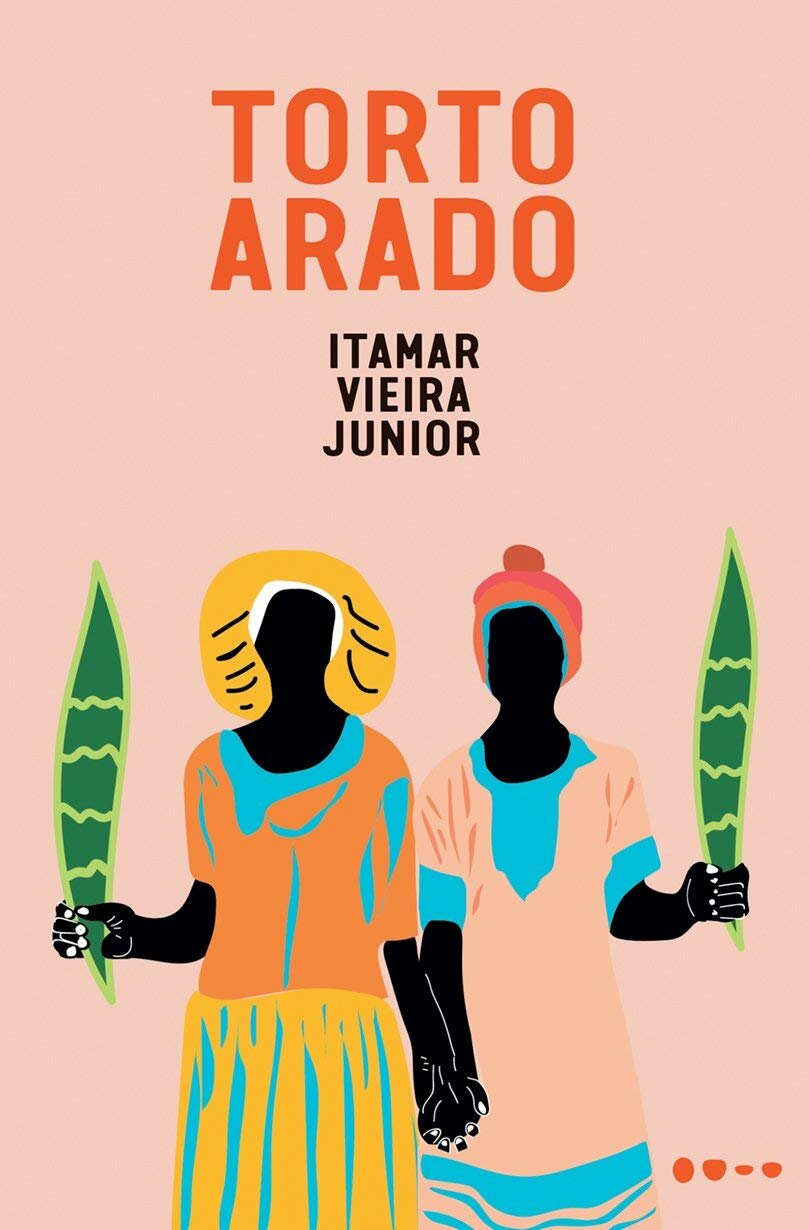Manter a mente alerta e o senso crítico desperto são coisas que consomem energia.

Parece que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está preparando uma força-tarefa para combater o uso de notícias falsas como arma nas eleições de 2018. Além de lhes desejar boa sorte, gostaria de propor às autoridades eleitorais a leitura urgente do livro-reportagem Post-truth, do jornalista britânico James Ball, que mapeia o uso de informação falsa nas campanhas de Donald Trump e do Brexit – e que tentem não entrar em desespero.
Ball mostra que a indústria de “fake news” é um resultado quase inevitável da colisão entre a natureza humana e a estrutura de incentivos financeiros da internet, onde cada clique gera uma fração de um centavo de dólar, o que faz com que os conteúdos mais rentáveis sejam os mais apelativos – capazes de atrair milhões de cliques – e os mais baratos de produzir. E inventar uma história sempre será mais barato que apurá-la.
Uma das principais usinas de notícias falsas pró-Trump, aponta Ball, foi uma cidadezinha da república europeia da Macedônia: os adolescentes entediados do município de Veles descobriram que podiam gerar alguns milhares de dólares ao mês (num país onde o salário médio era de cerca de US$ 400) apenas inventando bobagens a favor de Trump, ou contra Hillary, e publicando-as em inglês na internet.
Quem os remunerava não era a campanha republicana ou o governo russo, mas a própria web: a direita americana tinha um apetite insaciável por esse tipo de história, clicando e compartilhando os delírios da molecada de Veles como se não houvesse amanhã. Dado esse exemplo, talvez produzir notícias falsas sobre candidatos brasileiros em 2018 ajude a tirar a Venezuela da crise.
Como a socióloga Zeynep Tufekci aponta num recente TED Talk, o sistema de exibição de conteúdo nas redes sociais e de remuneração desse conteúdo, deixado a cargo de algoritmos cada vez mais inteligentes, é essencialmente amoral: o que é exibido e o que é remunerado é o que a inteligência do algoritmo percebe que “funciona”, no sentido de captar a atenção do usuário, e dane-se o resto.
É a corrida para o fundo do poço que já afeta a qualidade da TV aberta, por conta das pressões crescentes por audiência, elevada à enésima potência, e sem nenhum elemento humano inserido no loop para, eventualmente, sentir um pouco de vergonha na cara e dizer, não, peraí, sushi erótico já é demais. Nesse contexto, as normas das redes sociais contra nudez ou “discurso de ódio” são tolas e pueris, perfunctórias.
A fábrica de “fake news” da Macedônia é algo quase inocente diante das máquinas profissionais de publicidade e relações públicas que, Ball mostra, foram mobilizadas para disseminar mentiras e meias-verdades em ambas as campanhas, mas aqui o autor aponta outra fragilidade – esta, pré-internet – das mídias de massa: sua incapacidade de lidar com a mentira direta.
O jornalismo tradicional é capaz de administrar controvérsias (ouvem-se os vários lados) ou diferentes interpretações de um mesmo fato (ouvem-se as partes interessadas e especialistas), mas tem um ponto cego fundamental: é totalmente vulnerável à mentira dita, sem rodeios ou ambiguidades, na cara dura. O exemplo dado no livro é o do senador americano Joseph McCarthy, com sua lista inexistente de 205 comunistas infiltrados no governo americano, mas a política brasileira também é pródiga em exemplos.
Se um candidato a cargo eletivo diz uma mentira bombástica numa entrevista, a frase provavelmente aparecerá no título da matéria, que é só o que a maioria das pessoas vai ler. Se o jornalista conseguir expor a mentira no corpo do texto, apenas uma minoria chegará ao esclarecimento. Que talvez não exista: muitos veículos de comunicação, seja por questão de espaço, seja para evitar parecerem parciais, evitam fazer esse tipo de juízo de valor em seu conteúdo noticioso.
Se um serviço de checagem de fatos vier a expor a falsidade, talvez o público atingido seja diferente do que foi impactado pela alegação falsa. E, de qualquer modo, será quase impossível produzir um esclarecimento a posteriori sem voltar a enunciar a mentira, reforçando sua presença na consciência do público.
Todo o exposto acima trata da oferta de notícias falsas. O que muito pouco se discute é o lado da demanda. Se os algoritmos amorais do Facebook nos oferecem “fake news” que depõem contra nossos desafetos políticos e não, digamos, o vídeo no YouTube da mais recente montagem de Don Giovanni, é porque sua inteligência artificial lhes diz – porque nós a ensinamos, com nossos repetidos cliques do mouse, que são registrados e analisados – que a notícia falsa nos interessa bem mais do que ópera, e que a probabilidade de compartilharmos a mentira é maior do que a de compartilharmos Mozart.
Há vários motivos para isso. Começa pelo viés de confirmação (confiamos mais numa informação que parece confirmar nossos preconceitos), passa pela sinalização de virtude e termina, enfim, no cansaço.
“Sinalização de virtude” é um termo pejorativo criado por jornalistas britânicos de direita para se referir às ondas de histeria politicamente correta que volta e meia tomam conta da internet de língua inglesa. A ideia é a de que pessoas compartilham certas coisas (ou embarcam em certas histerias) apenas para mostrar aos outros que estão antenadas, que são parte da tribo, que são boa gente – a implicação é mais ou menos a mesma da velha chacota de que os feministas do movimento estudantil só são “feministas” porque isso impressiona as meninas.
No Brasil, a sinalização de virtude parece ter sido encampada, em tempos recentes, pela direita – haja vista as ações recentes do MBL, ou a oposição à visita de Judith Butler ao país –, o que só mostra que há fenômenos que são politicamente ecumênicos. O efeito é sempre o mesmo: uma espécie de “obrigação moral” de compartilhar acriticamente qualquer bobagem que pareça ajudar a “causa”, não pela causa em si, mas para ficar bem na fita, fazer amigos e influenciar pessoas.
Por fim, o cansaço: manter a mente alerta e o senso crítico desperto são coisas que consomem energia. É muito mais fácil deixar-se levar pelo fluxo dos afetos: se nos parece emocionalmente plausível que o político X, além de ladrão, também seja pedófilo, por que não passar isso adiante?
Plausibilidade emocional – aquela sensação mágica de “mas eu já sabia!” que nos acomete quando encontramos uma afirmação que se coaduna perfeitamente com nossas intuições não articuladas, nossas impressões inconscientes – é uma das maiores fontes de erro e precipitação da história da humanidade. Ela até acerta às vezes, mas é sempre bom conferir antes.
Dá para argumentar que o melhor antídoto para notícias falsas e fatos alternativos esteja nesta ponta, a da demanda, e não na da oferta. Tentar conter a produção e disseminação desse tipo de material requereria não só uma reformulação da estrutura de incentivos financeiros da internet, como uma transformação da forma como as mídias tradicionais tratam suas fontes: enquanto os jornais não se sentirem à vontade para chamar um senador (ou governador, ou presidente) que mente de mentiroso, sem meias palavras, a falsidade seguirá sendo uma estratégia viável para manipular o público.
Mas conter a demanda seria mais fácil? O esforço, aí, estaria na educação do público. Do compartilhamento de correntes de e-mail sobre crianças desaparecidas, lá nos anos 90, à disseminação de memes com alegações falsas neste século 21, o fato é que a maior parte dos usuários na internet desconhece, ou prefere ignorar, o poder de seus cliques e a responsabilidade que os acompanha. Pode ser a hora de começar a falar com as pessoas sobre isso.
Carlos Orsi
Jornalista e escritor, com mais de dez livros publicados. Mantém o blog carlosorsi.blogspot.com.
[email protected]