Yuval Levin defende que Edmund Burke ganhou a batalha intelectual, mas perdeu a grande guerra das narrativas.
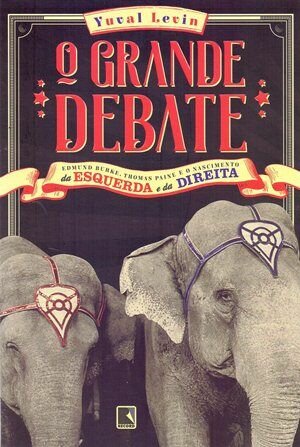
“O grande debate: Edmund Burke, Thomas Paine e o nascimento da esquerda e da direita”, de Yuval Levin (Record, 2017, 294 páginas)
A Record destoa mais uma vez dos cinquenta tons de vermelho ambiente, e lança o livro O grande debate, de Yuval Levin, em ótima tradução de Alessandra Bonrruquer.
Levin é fundador da National Affairs e atual editor da National Review, e na recente obra The fractured republic, publicada nos Estados Unidos em 2016 e ainda não traduzida para o português, consegue articular os grandes dilemas contemporâneos desde uma compreensão sensível do passado e das influências deste sobre o presente. Em O grande debate, texto responsável por seu PhD pelo Committee on Social Thought da Universidade de Chicago, Levin preparou os alicerces teóricos não somente para a publicação de The Fractured Republic, mas, sobretudo, para tentar deslindar a gênese das ideias que prevalecem no ambiente contemporâneo.
A proposta de Levin é despertar a sensibilidade do leitor em relação aos impasses do presente a partir de uma leitura atenta do passado. Para o autor, debates atuais como Obamacare, ideologia de gênero, limites ao poder, fronteiras abertas etc. são apenas a ponta de um grande iceberg no debate contemporâneo. Cumpre-nos enxergar além das aparências, na tentativa de buscar as disposições epistêmicas dos indivíduos que formulam essas demandas, a fim de perceber a complexidade de suas teias psíquicas. Levin não visualiza a política como mero extrativismo destrutivo, mas sim como espaço de paixões.
Conquanto certos adolescentes furiosos e deslumbrados (muitos com 80 anos de idade) imaginam-se criadores do corpo de ideias que organiza suas existências, o texto de Levin povoa-nos do saudável ceticismo epistêmico que perscruta, para longe de bolhas cognitivas, se realmente atuamos como criadores daquilo que afirmamos pensar, ou se somente trilhamos caminhos intelectuais de segunda mão (a lavagem cerebral mais bem acabada é sempre aquela que empodera a criatura na ilusão de que atuaria como criadora). É como se a máquina de inteligência artificial do filme 2001 – Uma Odisseia do Espaço, de Kubrick, não dependesse de seres humanos para desligá-la, e se julgasse criadora de seus próprios conteúdos. Com efeito, não é nada fácil admitirmos para nós mesmos, em tempos de narcisismo e vontade de poder generalizados, que apenas um círculo muito restrito de seres humanos realmente gira a roda intelectual do mundo, e que não passamos, geralmente, de marionetes de vontades alheias.
O grande debate fomentado no século XVIII, entre Burke e Paine, consiste em um dos mais importantes eixos condutores do corpo teórico que regeu a filosofia moral e política dos últimos duzentos anos, e congrega – mutatis mutandis – as teorias que mobilizam os adeptos dos partidos republicano e democrata dos EUA. Mutatis mutandis, sem dúvida, porquanto como o próprio Levin explica: “os revolucionários que adotaram Paine muitas vezes infundiram em sua memória histórica sensibilidades socialistas que lhe teriam sido bastante estranhas. E grande número de comentários (e mesmo estudos acadêmicos) sobre a obra de Burke, particularmente no último século, parecem ter querido torná-lo (ainda) mais conservador do que era, ignorando no processo importantes qualidades de seu pensamento”.
Ao aceitar a nomeação para o Partido Republicano, em 1980, Ronald Reagan “lembrou aos seus apoiadores a insistência de Paine na transformação das instituições governamentais falhas. A ênfase de Burke no gradualismo, por sua vez, foi evocada por alguns liberais contemporâneos preocupados em resistir a transformações dramáticas no Estado de bem-estar social. Ninguém menos que o ícone da esquerda americana, Barack Obama, supostamente se descreveu como seguidor de Burke, disposto a evitar mudanças súbitas”.
Levin defende que “não é nesses usos e abusos dos nomes e reputações dos dois que podemos encontrar o duradouro legado de seu debate. Ao considerar os argumentos como os enunciaram, e não como seus vários partidários ao longo de dois séculos tentaram usá-lo, podemos ver que suas visões de mundo ainda descrevem duas amplas e fundamentais disposições em relação à vida política e à mudança em nossa era liberal”.
O grande debate transmite ao leitor um imenso sentimento de cautela em meio ao intenso fluxo de eventos, a fim de descobrir como e quais as ideias que movem a política. Os capítulos aplicam esse método ao profundo debate entre Burke e Paine, e buscam revelar os argumentos que ainda moldam nossos tempos. Levin inicia onde ambos os autores iniciaram: “que concepção de natureza e natureza humana deve servir como pano de fundo para as decisões políticas e qual o lugar da história em tais decisões”. Na sequência, o autor considera suas ideias profundamente diferentes sobre direitos naturais e políticos, e analisa suas opiniões sobre as relações sociais e políticas. Depois, examina a abordagem de Burke e Paine quanto ao papel da razão no pensamento político e suas visões sobre os modos e fins adequados para tal pensamento. Somente após perscrutar essas facetas de sua profunda discordância, Levin aborda o assunto que geralmente surge primeiro nas discussões sobre eles: “suas opiniões sobre mudança política, reforma e revolução”. Por último, Levin destaca a crucial corrente comum nos amplos e variados debates entre os dois: “a disputa sobre o status do passado e o significado do futuro na vida política – uma questão incomum e pouco familiar que, até hoje, frequentemente se aninha silenciosamente no âmago de nossa própria política”.
A palavra “disposições” é a chave de leitura da obra em questão. Para tentar compreender os movimentos totalitários do século XX, e a vitória de certa narrativa no debate público contemporâneo, é essencial revisitar um dos fatos históricos mais marcados por sentimentalismos e paixões desordenadas: a revolução francesa. Levin estuda minuciosamente os textos de Burke e de Paine, no sentido de buscar as disposições epistêmicas de cada um deles, e também seus argumentos filosóficos quando do exame da revolução ocorrida na França. A própria influência da revolução americana sobre a francesa recebe cuidadosa argumentação, a fim expor a defesa da liberdade tanto por Paine quanto por Burke desde caminhos jamais passíveis de equiparação.
Burke apoiou a insurreição dos revolucionários na América, porquanto percebeu que as ações inglesas eram uma afronta aos seus hábitos e sentimentos, e não uma violação aos seus direitos, como acreditava Paine. A mesma preocupação com os Estados Unidos fez Burke se perguntar como os jovens ingleses enviados à Índia seriam influenciados pela autoridade ilimitada que receberiam sobre os locais. Burke temeu, muito antes que a maioria, “que os revolucionários franceses, ao destruírem os mitos que embelezavam a vida social, gerassem uma onda de mesmerizante terror que poderia desancorar todos os envolvidos de seus hábitos e restrições”.
A clarividência de Burke o situa ao lado dos grandes homens cultivados em sabedoria, comprometidos com a verdade e não com o poder, e munidos tanto de profunda intuição de autogoverno quanto de atenção no tocante aos perigos de alucinações aniquiladoras – os únicos indivíduos com sabedoria para influenciar positivamente seu ambiente. O fato de não se deixar envolver pelas paixões e deslumbramentos de turbas furiosas, e em prever o difícil enquanto ele ainda era fácil (como ensina o Tao Te Ching), o fez antever que as revoluções mais bárbaras que a humanidade experimentaria se embasariam em sentimentos antirreligiosos, e em ideologias abstratas.
Michael Polanyi responsabilizou o destempero antirreligioso da revolução francesa pelos totalitarismos do século XX, porquanto as religiões são as grandes “guardiãs da moral”, como bem elucidou o agnóstico F.A. Hayek. Até mesmo John Ralws, domesticado pela esquerda norte-americana, ao examinar os fundamentos do liberalismo no texto Lectures on the history of moral philosophy, publicado em 2000, escreveu que a fé religiosa não é antitética à liberdade e, de certo modo, pode ser compreendida como fundamento para o apreço individual pela liberdade.
A tradição liberal escorou-se também em religião ao longo dos séculos. A lei da razão formulada por Locke – uma lei moral universal e objetiva – era para o autor expressão da ordem eterna de Deus. Ademais, Locke argumentou que a religião, a exemplo da razão, ensinava tolerância. No século XIX, Tocqueville defendeu que a democracia liberal na América dependia da vitalidade da fé religiosa do povo americano. E Hegel, por sua vez, procurou demonstrar que o estado liberal nada mais é do que o cristianismo em forma secular e política. Nesse rumo, não surpreende que Inglaterra e Estados Unidos tenham permanecido imunes à barbárie totalitária. Com efeito, a força e a concorrência entre suas instituições (mercado, ciência, famílias, religiões) serviram de limites à desumanização do Estado total.
Sem qualquer compreensão a respeito do papel dos mitos religiosos sobre os aparelhos psíquicos individuais, e instituições sociais e políticas, consoante estudaram Jung e Hayek, Paine acreditava que uma era de governo liberal iluminista traria consigo uma percepção religiosa igualmente liberal iluminista, que desencorajaria os conflitos sectários que durante tanto tempo haviam dividido a Europa: “À revolução no sistema de governo se seguiria uma revolução no sistema religioso”. Mas como seu livro, que chamou de A era da razão, criticava as formas tradicionais de religião organizada com a mesma fervorosa paixão pela justiça de seus textos políticos, Paine se colocou tão decididamente contra o cristianismo que era inevitável que gerasse controvérsia e lançasse uma sombra sobre sua própria reputação, especialmente nos Estados Unidos. “De todos os sistemas religiosos jamais inventados”, escreveu, “não há nenhum mais derrogatório ao Todo-poderoso, mais aniquilador para o homem, mais repugnante para a razão e mais contraditório que essa coisa chamada cristianismo”.
Conquanto a imparcialidade do exame de Levin contribua para a honestidade do estudo, é importante pontuar suas filiações ao pensamento de Burke, de maneira que endossa a análise de Peter Berkowitz quanto à obra Reflexões sobre a revolução na França. Em razão de Reflexões, Hayek – que jamais escondeu a influência decisiva de Burke sobre seus escritos, e sobre sua crítica ao racionalismo construtivista – nominou o irlandês de vidente, uma vez que este rejeitou a definição direitos do homem tão marcante nos escritos de Paine. Consoante Burke, referidas abstrações filosóficas – os direitos do homem – fornecem as bases teóricas para as liberdades positivas, uma vez que legitimam tanto um arbítrio sem limites quanto a falta de moderação do poder político. Para Burke, os revolucionários franceses eram destemperados e extremistas, uma vez que a pretensão emancipatória quanto às religiões e à monarquia não materializava apenas uma recusa a tradições e a costumes específicos, mas sim um ataque a toda e qualquer autoridade decorrente da tradição. Ao contrário de observarem a educação ao longo da história, a literatura e as ciências voltadas a disciplinar e a elevar a frívola condição humana, os revolucionários desejavam reformulá-la integralmente, a fim de enquadrá-la na razão abstrata dos direitos do homem. Não é à toa que a genialidade de Burke antecipou tanto o terror jacobino quanto os totalitarismos do século XX, uma vez que a fé dos revolucionários em modificar a condição humana, via poder político, era um convite manifesto a toda espécie de violência desumanizadora.
Em resposta a Burke, no texto Direitos do homem, Paine formulou ataques veementes ao indivíduo que ousou manifestar oposição aos princípios que nortearam a revolução jacobina. Para Paine, cada indivíduo possui direitos naturais, sobretudo, o direito ao autogoverno, e de ser governado apenas por consentimento. Direito e Justiça são conceitos abstratos que podem ser intuídos racionalmente da natureza, sem qualquer mediação de instituições, e independentemente da história e da cultura. Na visão de Paine, o exercício da autoridade sem o correspondente consentimento dos governados é ilegítimo e deve ser destituído via revolução, caso se faça necessário.
A política de Paine é uma política de aplicação de princípios abstratos, porquanto pensava que a única maneira de resgatar a política construída sobre princípios errados é destruí-la e reconstruí-la a partir do zero. Paine claramente acreditava, como afirmou no texto Senso comum de anos antes, que “temos o poder de reiniciar o mundo”. De fato, em Os direitos do homem, existe a sugestão de que essa é a única maneira de construir uma sociedade justa. Não espanta o ceticismo de Burke em relação a tamanha pretensão demiúrgica – tornar o homem um Deus racional com a aptidão de reiniciar o mundo!
Consoante Burke, a ideia de revolução de Paine parecia uma receita para o suicídio social, porquanto se baseava na presunção – que Burke acreditava falsa – de que, pela natureza das coisas, a sociedade persistirá quando seu regime for dissolvido. Escreve Levin:
Na onda de tal dissolução, argumenta Burke, não haverá regras ou métodos para que um novo regime possa se formar: nenhuma proteção à propriedade ou às pessoas, nenhuma razão para seguir um líder ou aderir ao domínio da maioria, nenhuma maneira de se “regenerar”. De fato, ele considera apavorante o próprio desejo por tal regeneração da sociedade. “Não consigo conceber como qualquer homem possa se obrigar a considerar seu país como nada além de carte blache, sobre a qual ele pode escrever o que desejar. Um homem cheio de cálida e especulativa benevolência pode desejar que sua sociedade fosse construída de outra forma, mas um bom patriota e um verdadeiro político sempre pensam em como tirar máximo proveito dos materiais existentes em seu país”.
Para Burke, os seres humanos são desprovidos de poderes para reiniciar o mundo.
Não espanta, nesse cenário, acompanhar movimentos como o libertário ganharem solidez justamente no país em que foi publicado Senso comum, de Paine. Ao concedermos aos indivíduos os direitos abstratos formulados por Paine, não surpreende que se julguem novidades intempestivas no tempo e no espaço, e que se mobilizem desde uma racionalidade construtivista que os garanta o “direito” de secessão por simplesmente emergirem em um território qualquer. Também não espanta a defesa de “direitos naturais” por conservadores bem mais ocupados com um sentido religioso de ordem, do que com princípios que modulam a tensa relação entre ordem e liberdade. E, outrossim, parece bastante lógico que teorias de gênero, ignorantes quanto ao papel da biologia, utilizem a retórica abstrata dos “direitos” para se empoderarem a ponto de não mais visualizarem qualquer diferença entre estrogênio e testosterona.
Compreender a gênese de nossas ideias, e nossas disposições epistêmicas, é o intento de Yuval Levil com a publicação da obra filosófica O grande debate. E, em meio à ausência de bom senso nas discussões atuais, fomentadas por narcisistas histéricos e niilistas vulgares, a disposição moderada do livro lança luzes sobre todos os espectros da política, consoante se infere da análise do texto:
A esquerda de hoje, portanto, partilha grande parte das disposições básicas de Paine, mas busca libertar o indivíduo de maneira bem menos quixotesca e mais tecnocrática que a dele, sem sua fundamentação nos princípios e direitos naturais. Assim, os liberais atuais são deixados filosoficamente à deriva e abertos demais à fria lógica do utilitarismo – poderiam aprender com a insistência de Paine nos limites do poder e do papel do governo. A direita de hoje, enquanto isso, partilha grande parte das disposições básicas de Burke, mas busca proteger nossa herança cultural de maneira menos aristocrática e (naturalmente, sendo americanos) mais populista que a dele, sem sua ênfase na comunidade e nos sentimentos. Os conservadores atuais são retoricamente estridentes e abertos demais ao canto da sereia do hiperindividualismo e geralmente carecem de uma teoria não radical sobre a sociedade liberal. (…) Cada grupo poderia aliviar ligeiramente seus excessos ao considerar o debate Burke-Paine.
Levin defende que Burke ganhou a batalha intelectual, mas perdeu a grande guerra das narrativas. A despeito disso, não sei se Burke estaria preocupado com o ego na tentativa de vencer “guerras por narrativas”. No silêncio de suas meditações, grandes homens sabem que a genuína vitória pertence aos poucos que se preservam imunes quanto ao sadomasoquismo moral que prevalece neste mundo, e que possuem o desejo sincero de que suas ideias não se transformem em lavagem de porcos furiosos, mas sim que nutram, feito pérolas, somente certos corações moldados para a sabedoria e para a liberdade.
Raras são as obras que nos auxiliam a lançar um olhar inteligente sobre nossos pensamentos, a fim de abrandar arrogâncias cognitivas em tempos sempre mais complexos. O grande debate possui essa virtude, uma vez que nos inunda do agradável sentimento de moderação em relação à sociedade e aos nossos semelhantes.
Renata Ramos
Doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina.
[email protected]








