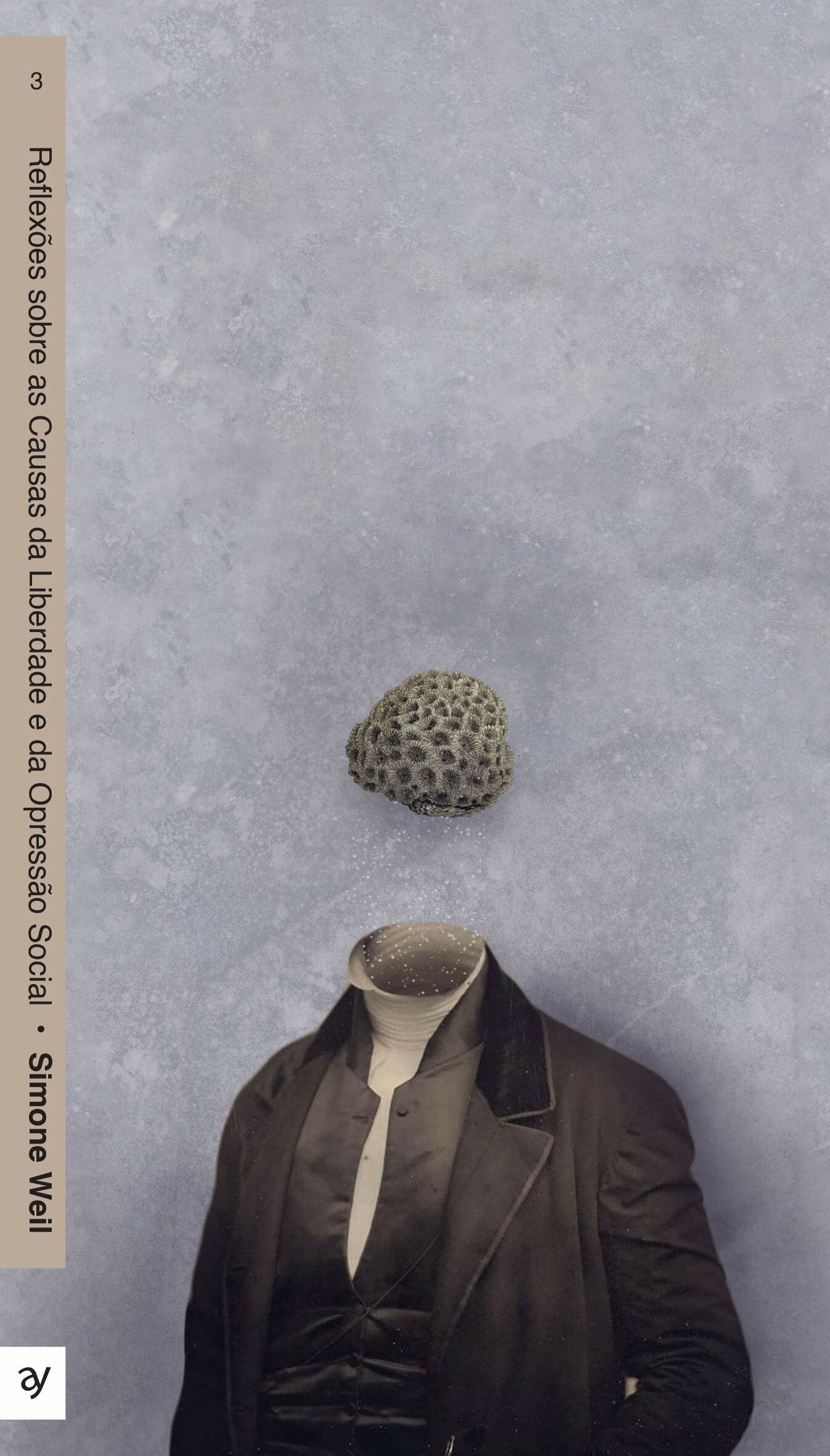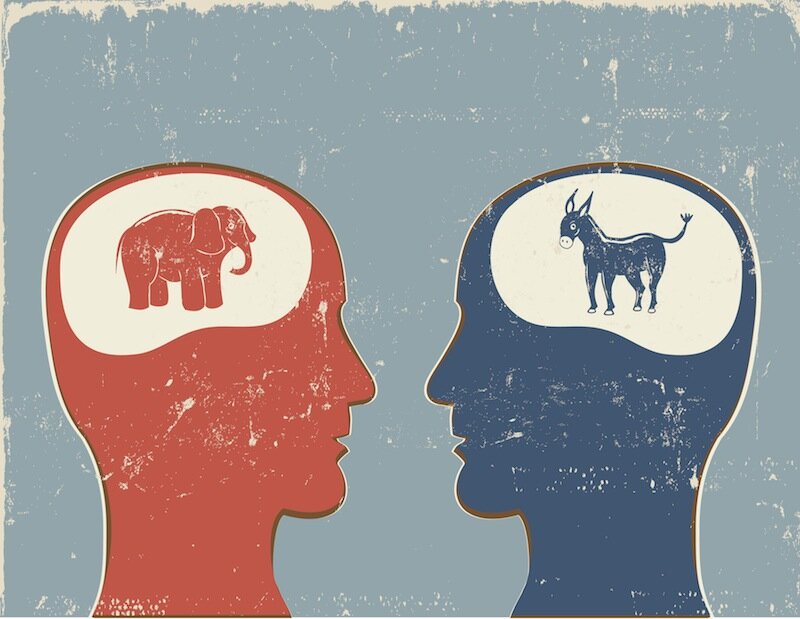O populismo bolsonarista se escora no antipetismo, no militarismo e no pentecostalismo político.

1.
Temos todos repetido que essas são as eleições mais importantes da história da democracia brasileira, e a política está presente por onde passamos, seja em mídias sociais, em conversas entre amigos, familiares, antigos ou recém-conhecidos, e em sala de aula. Hoje, passado o primeiro turno, é principalmente o bolsonarismo que parece nos compelir a falar de política. É o fenômeno que alguns de nós buscam entender, um pouco aturdidos. Neste ensaio tento dar minha contribuição para o debate sobre o bolsonarismo como um fenômeno social, esboçando um relato informado por minha experiência em mídias sociais, conversas presenciais e a presença em protestos nos últimos anos.
Nos meus círculos pessoais e profissionais, o termo “fascismo” começou a aparecer em 2014, sendo usado ora para denunciar posicionamentos contrários a posições mais liberais em matéria de gênero e sexualidade, ora para desqualificar aqueles que pediam o impeachment da presidente Dilma Rousseff, reeleita em 2014 pelo Partido dos Trabalhadores. Lembro-me que em 2015 um colega me mostrou, orgulhoso em um café na região da Paulista, sua mais recente aquisição, Como conversar com um fascista, de Márcia Tiburi. Na época não era claro para mim quem eram os fascistas em sua opinião, e minha leitura nas entrelinhas de nossas trocas acabou sendo que ele se referia a gente como eu, que era crítica do PT, ainda que não antipetista, e não conseguia cerrar fileiras com o partido.
Na minha lembrança desses anos recentes e turbulentos, liberais na política, mais à esquerda ou mais à direita em matéria econômica, pareciam-me compartilhar do entendimento de que a categoria “fascismo” não era usada em sentido histórico. Como seu uso era mais de denúncia e deslegitimação dos críticos da política petista, esboçou-se um debate público em torno do termo. Minha impressão era de que, na melhor das hipóteses, os que falavam em fascismo tinham por alvo um grupo insignificante nas manifestações pelo impeachment que, de fato, defendia uma ‘intervenção militar constitucional’[1], e os já habituais detratores de pessoas LGBT, especialmente lideranças evangélicas mais vocais, como Silas Malafaia e Marco Feliciano, que para atacá-las alvejavam seus direitos.
É certo que o uso da categoria “fascismo” em ambos os casos começava a se mostrar politicamente potente em despertar reações e instaurar um conflito que acabaria configurando o campo político; contudo, ele não me parecia rigoroso teoricamente. O desacordo em matérias como a transição de gênero na adolescência ou a abordagem de temas relacionados com a sexualidade nas escolas não me surpreendia, e eu mesma não tinha uma posição absoluta em relação a essas questões. Por mais que elas acenassem com a possibilidade de maior liberdade, de autonomia, eu tendia a considerar que a sociedade brasileira é mais conservadora nos costumes, e, se isso não significa que ela não tenha abertura para a mudança (ela tem!), implica empenhar esforços para a construção de consensos. Como na época concluía a partir de minha própria tese, a linguagem dos direitos pode ser útil nessa construção, mas o processo é político, tenha ou não a participação do Judiciário.
Já quanto aos clamores por uma intervenção militar constitucional, eu os tinha ouvido vez por outra dos mais velhos em conversas familiares ao longo de praticamente toda a minha vida, e, por mais perplexidade que eles me causassem, no final as pessoas iam, votavam e acreditavam que através do voto o país ia melhorar. Mesmo em 2016, tais clamores não tinham eco nas manifestações. Eram coisa de um grupo muito restrito e desacreditado pelo grosso dos manifestantes antigovernistas. Em São Paulo, esse pequeno grupo protestava em datas fora do calendário do impeachment, com trio elétrico, faixas em que se liam palavras de ordem, todo mundo vestindo peças em verde e amarelo. Na altura da Augusta, onde se encontravam, eles estavam fora de contexto: pareciam caídos ali do nada, um rastro do passado sem eco no presente. Por isso os transeuntes olhavam, um pouco atônitos. Para eles a ordem constitucional era, afinal, desordem? Não tinha sentido.
2.
Hoje, no entanto, os clamores por intervenção militar de dois anos atrás ressoam no que chamarei de bolsonarismo, o qual sustenta a campanha de Jair Messias Bolsonaro e nos surpreende aparentemente reconfigurando o campo político e o meio social brasileiros. Mas como podemos ser surpreendidos depois de tanta política? Como foi que aconteceu? Como não percebemos?
Passado o impeachment, procuramos seguir com a vida, aproveitando a liberação da política que sabíamos curta. Tentamos olhar um pouco mais para a família, a casa, os amigos, o trabalho. Estávamos cansados. Permanecemos atentos, esperando as eleições e acompanhando dia a dia o ritmo alucinante da Lava Jato, uma das pautas das manifestações pró e contra o governo da presidente Dilma, ferreamente criticada e defendida nas ruas. Enquanto víamos a operação varrer o sistema político e esperávamos para ver quem sobreviveria a ela, Bolsonaro e seus apoiadores se mantiveram mobilizados. O deputado percorria o país, enquanto só tínhamos olhos para o presidente Lula, e seus entusiastas amealharam apoio mais amplo, sobretudo através das mídias sociais, aproveitando a rede que se tinha articulado pelo impedimento da presidente.
Por essa rede circularam notícias e mentiras, vídeos de Olavo de Carvalho e do Brasil Paralelo. Figuras renegadas pela academia emergiram como intelectuais prestigiados no campo da ultradireita, a moldarem a política do país. Com esse material circulando, entre alertas sobre segurança cotidiana, contra golpes e estelionatos, orações e humor[2] (i) o liberalismo se resumiu a uma agenda econômica; (ii) direitos individuais recém-conquistados em matérias em que a moralidade dos direitos humanos concorria com a cristã se tornaram, primeiro, privilégios e, depois, ameaças frontais à família e às crianças; (iii) reforçou-se o anticomunismo a partir do antipetismo; (iv) negou-se publicamente a ditadura, abrindo um largo flanco para a defesa do militarismo como prática e ideologia; (v) inoculou-se um antiglobalismo cuja necessidade foi justificada em função do globalismo do movimento LGBT (à revelia de existir ou não um movimento LGBT global ou não) e do internacionalismo da esquerda.
Esses cinco elementos nos ajudam a entender, entre outras coisas, o lugar que questões morais passaram a ocupar no debate público nacional, ou a ideia de que há uma iminente ameaça comunista ao país e que as saídas devem ser militares. Mais do que isso, o anticomunismo e o posicionamento anti-LGBT do bolsonarismo são estratégicos para a produção de inimigos a serem batidos e a legitimação de meios preferenciais, o militar e o fortalecimento do Estado em relação ao indivíduo, abrindo caminho para se retroceder em relação aos ganhos que o liberalismo, aí incluídos os direitos humanos, representou.
O anacronismo dessas posições bolsonaristas pode suprimir a relação entre indivíduos e Estado ao controle do direito internacional, em especial do regime interamericano de direitos humanos, seu mecanismo mais efetivo no Brasil. A sujeição da relação dos indivíduos com os Estados a um duplo controle de legalidade, o interno e o internacional, foi, entretanto, um dos ganhos das últimas décadas quando se pensa em autonomia e democracia, ou simplesmente em tornar a razão de Estado mais razoável[3]. O controle do direito internacional é acionado quando o nacional falha ou é inoperante: então, o sistema interamericano de direitos humanos entra em funcionamento para assegurar a legalidade das ações estatais em relação àqueles que se encontram em seu território, tendo por parâmetro o direito internacional. O antiglobalismo bolsonarista tem potencial de bloquear a atuação desse mecanismo, ainda que sem arcar com os custos políticos de uma ruptura formal com ele, por deslegitimar interferências de qualquer ordem em assuntos internos e se propor a restaurar um ideário soberanista (sem esclarecer, note-se, como farão para que com as trocas comerciais globais também não circulem pessoas e valores). Por outro lado, a possibilidade de o sistema interamericano alcançar os Estados repousa em que ele cria constrangimentos e obstáculos a processos de destruição da democracia, seja pela instituição de uma ditadura, seja pela desfiguração da democracia através da própria democracia.
Um aspecto interessante e mais desafiador do antiglobalismo bolsonarista é que não se trata de um fenômeno isolado. Se o lulopetismo se insere em dinâmicas regionais, como a do chamado “socialismo do século XXI”, o bolsonarismo se alinha a dinâmicas globais, como o renascimento da ultradireita na Europa e o trumpismo. Não quero com isso identificar lulopetismo e bolsonarismo, nem qualquer daqueles outros fenômenos uns com os outros, mas é o caso de assinalar linhas de força contemporâneas, que podem apontar para sinergias e merecer nossa atenção. No caso do Brasil, a eleição do presidente americano Donald Trump e o trumpismo animaram os bolsonaristas, que passaram a se engajar na defesa do presidente norte-americano em mídias sociais e na imprensa escrita, ora justificando as suas práticas, ora relativizando as críticas a ela pela construção de falsas equivalências, como aquela entre as manifestações do movimento Black Lives Matter com as da ultradireita do sul dos Estados Unidos. Com a eleição de Trump, os bolsonaristas parecem ter passado a realmente acreditar que Bolsonaro, por que não?, também poderia chegar lá. Deu-se, então, a construção do capitão como um outsider, mesmo ele tendo sido eleito 7 vezes para o cargo de deputado federal e tendo três filhos na política.
O que chamo de bolsonarismo desponta, nesse contexto, como um conjunto de ideias, práticas e discursos escorado no militarismo, no antipetismo e no que podemos chamar de pentecostalismo político, associado a políticos e lideranças evangélicas que mobilizam a religião para formar e responder a bancadas legislativas. Parte dos bolsonaristas crê que a restauração da ordem é um interesse primordial, ao qual mesmo a liberdade pode ser sacrificada; parte entende que a restauração da ordem passa pela reafirmação de valores tradicionais, como a família, a hierarquia e a obediência. A mobilização desses valores parece ter se tornado, enfim, tanto mais fácil quanto mais a operação Lava Jato avançou nas ações e em publicidade, com a atenção que seus procuradores atraíram, a grande circulação do discurso anticorrupção e anti-impunidade, da pretensão de depuração da política, acompanhado de atos que de fato puseram um processo desse tipo em curso (para tanto apontaram o sociólogo Luiz Werneck Vianna, ao falar em “tenentismo de toga” a propósito da operação, e os analistas políticos Demétrio Magnoli, em colunas na Folha de S. Paulo, e Augusto de Franco, em artigos para o seu site Dagobah, que adotaram a categoria “jacobinismo” para se referir ao discurso jurídico-político dos procuradores da Lava Jato). Os que tinham como prioridade condenar Lula, os que não queriam engrossar o coro do lulismo e mesmo parte dos que viam na operação uma oportunidade para refundar a República no Brasil mantiveram-se em maior ou menor medida acríticos em relação aos procuradores, inclusive depois da questionável homologação da delação de Joesley Batista. Em meio a esse turbilhão, o bolsonarismo se criou como um populismo centrado no capitão reformado e deputado inoperante. Hoje assistimos ao grande ato da transformação de um pária na política, que durante 30 anos defendeu a ditadura, a tortura e até milícias, em sua figura central.
O populismo bolsonarista se escora, como disse, no antipetismo transformado em anti-esquerdismo, no militarismo e no pentecostalismo político, mas também em redes e estratégias de comunicação específicas, apostam na transmissão de mensagens diretamente ao eleitor, em lives ou entrevistas à neopentecostal TV Record, sem a mediação do partido político ou da imprensa. São mensagens diretas, fragmentadas, sem uma história, sem narrativa, não raro com humor e um comando – repasse! -, ao qual as pessoas claramente têm obedecido sem que cheguemos a nos espantar com sua aparente obediência.
3.
Seja qual for o resultado do pleito de 2018, os eleitores fiéis de Bolsonaro não são mais aqueles gatos pingados da Paulista de dois anos atrás e seus valores já estão entre nós. Também arrisco afirmar que o bolsonarismo, como um populismo de ultradireita que ascende no Brasil, apresenta elementos do fascismo em sentido histórico. Isso não implica afirmar que todos os seus eleitores sejam fascistas. Quem vota em Bolsonaro não concorda com tudo. Para votar nele basta que uma daquelas grandes causas seja a sua principal causa no momento, ou que a política não importe muito, ou mesmo que importe como a forma de manifestação de frustração, ódios, pânicos ou desejos de ruptura. Como o PT tem grande responsabilidade pela crise econômica, o antipetistmo ainda contempla respostas ao colapso da economia brasileira, e Bolsonaro deu esse último pulo do gato ao se assessorar do economista, aparentemente ultraliberal e sem história no serviço público, Paulo Guedes. Muitos eleitores de Bolsonaro rejeitam um ou mais dos elementos em que o bolsonarismo se escora, mas encontram no capitão uma esperança de restauração: da ordem econômica, pública, jurídica ou moral.
A questão é: como esse desejo restaurador se manifesta? É o repositor de mercadorias, para quem Bolsonaro vai ‘limpar a Piedade dos viados’, o motorista da fábrica no interior que critica a corrupção da polícia (ele a conhece de dentro) e crê que só Bolsonaro pode dar um jeito na situação. São policiais, o morador do prédio em frente de casa, aqueles que acreditam que nosso maior mal é a corrupção ou que nossa insegurança pública se deve à falta de acesso a armas, a leis pouco rigorosas para os bandidos e muito rigorosas para a polícia, aos direitos humanos, à falta de família e de religião. Embora pelo que leio na imprensa alguns cientistas políticos apostem que nossa democracia resistirá, porque as instituições políticas e de controle (Judiciário, Ministério Público e Polícia) têm se mostrado resilientes, cabe ainda nuançar um pouco essa análise (e para tanto não colocarei em discussão a funcionalidade das instituições, que também precisa ser considerada com parcimônia).
Isso não significa decretar a morte da democracia, mas reconhecer que ela corre riscos. Por um lado, as bandeiras anticorrupção e anti-impunidade na política colocam o direito sob tensão, em especial no ponto em que as instituições se encontram. Somos uma sociedade em que grassam os usos do direito penal para dar respostas imediatas e sem eficácia a demandas por punição, e os crimes violentos, especialmente os contra a vida, inclusive pela polícia. É comum lermos que temos a polícia que mais mata e também a que mais morre. Diante desse quadro, soluções populistas para questões como o combate ao crime, seja o homicídio, sejam os crimes econômicos, colocam em questão a nossa já débil relação com a lei. Penso que não dá para ir mais longe do que a Lava Jato foi em termos de criação hermenêutica do direito dentro de molduras legais. Ir além do que foram os aplicadores do direito na operação pode resultar tanto em uma ruptura com a ordem constitucional quanto na abertura de espaço para a instituição de uma nova ordem no país. Por outro lado, olhando apenas para instituições, partidos e mesmo elites políticas, não conseguimos apreender processos que não são propriamente autocráticos, mas criam condições para a autocracia ao longo do tempo. Porque operam no nível da sociedade, eles dificultam a crítica do poder e as alianças para uma potencial resistência. Esse hoje me parece ser o caso do lulopetismo e pode ser uma pista para pensarmos a relação deste fenômeno social com o bolsonarismo.
Uma das maneiras de pensar o lulopetismo é tomá-lo como um populismo de esquerda, com pretensões hegemônicas e uma relação tensa com o dissenso. Nessa linha de argumentação, ele atuaria facilitando o controle da sociedade pelo Estado, com a potencial cooptação de sindicatos, movimentos sociais e a atuação de ‘intelectuais orgânicos’. Um dos seus aspectos interessantes é que ele pretende encobrir o controle da sociedade pelo Estado com mecanismos que proporcionam um controle do Estado pela sociedade, como a proposta de controle social da mídia e do Ministério Público. Principalmente, quando passou a ser mais duramente questionado, ao perder a bandeira da moralidade na política com o Mensalão, o lulopetismo respondeu com uma concepção restrita de povo, que aposta na oposição ora entre povo e a elite, ora entre povo e classe média, e recoloca na prática a separação schmittiana amigo-inimigo, construindo o conflito social de modo a transformar adversários ou mesmo meros críticos em inimigos. Mas, em que pesem todos esses elementos, inclusive o ‘nós contra eles’ de que parte da sociedade brasileira se ressente, o lulopetismo e o PT no governo não buscaram a aniquilação dos seus adversários, não encontraram respaldo nas forças armadas e nunca ambicionaram criar um novo homem, uma ambição no bolsonarismo. O lulopetismo aspira a hegemonia e em certos momentos incorporou alguma retórica reformista da sociedade; o bolsonarismo, porém, mal esconde o seu alinhamento com utopias regressivas, que pretendem depurar o Estado e a sociedade: do comunismo, do ‘esquerdismo’, dos ‘esquerdopatas’, das ‘feminazi’, dos ‘gayzistas’, dos ‘laicistas’, dos ‘defensores de bandidos’, que é como os bolsonaristas comumente designam ativistas de direitos humanos. Se a concepção lulopetista de política é adversarial, a bolsonarista é de turba e miliciana.
Muitos se ressentem de que tudo agora é discurso de ódio e não há lugar para a liberdade de opinião. Mas não é de opinião que se trata. Na impossibilidade de atacar mortalmente a pluralidade, o bolsonarismo aposta em dificultar a vida daqueles com os quais preferia não dividir a terra. Para tanto, usa as liberdades da mesma ordem que quer reformar ou em que pede uma intervenção militar: por isso, mesmo o seu aspecto perverso sendo tão evidente, muitos democratas têm dificuldade de levar seu élan depurador a sério.
É compreensível. Na atual conjuntura, é difícil mesmo atentar para palavras como ‘limpar a Piedade dos viados’. Mas creio que, para a minha geração, que nasceu nos anos 1980 e cresceu com a democracia, vendo os direitos individuais se transformarem em questões de justiça, ampliarem nossas possibilidades e tornarem nossos círculos mais plurais, é este o elemento realmente desconhecido e assustador que o bolsonarismo apresenta e que em minha opinião justifica denominá-lo de fascista, sem aspas. Ele não transforma apenas a cena política: ele me parece destruir o Brasil que conhecíamos, em que aprendemos a nos orientar, e assombrar brasileiros que, sob ameaças concretas ou não, já não dão as mãos, não trocam as ideias que gostariam e escolhem a roupa com que saem. O lulopetismo começou a falsificar a opinião, pretendeu inaugurar um novo tempo e pode ter agido contra a democracia usando a própria democracia, ainda que também tenha contribuído para torná-la mais inclusiva agindo em outras frentes; mas o bolsonarismo elevou a falsificação ao absurdo, construindo um mundo paralelo ao que os demais compartilham e concorrente da esfera pública. Nele a história do Brasil e mesmo acontecimentos mundiais é reescrita e temos mostras do que o ódio a minorias, especialmente a negros e LGBTs, pode representar: relutância em coabitar com pessoas que eles não escolhem, às quais o mundo se abre de um modo único e que são o que são, necessariamente singulares, cada uma em uma condição e cujos amores, preferências e opiniões tendem a desafiar os padrões sociais. No limite, trata-se de recusar e agir para transformar a lei da terra[4].
______
NOTAS
[1] Pait, Heloisa. Intervenção no Rio de Janeiro. Visão Oeste, Fevereiro de 2018. Disponível em https://www.visaooeste.com.br/heloisa-pait-intervencao-no-rio-de-janeiro/ (último acesso em 14/10/2018).
[2] Santos, Maria Carolina. O jornalismo não vai nos salvar do Whatsapp. Medium, 10 de outubro de 2018. Disponível em https://medium.com/@carolsmaila/o-jornalismo-n%C3%A3o-vai-nos-salvar-do-whatsapp-cd82fb2ab620 (último acesso em 14/10/2018).
[3] Delmas-Marty, Mireille. Direito penal do inumano. Tradução de Renata Nagamine. Belo Horizonte: Editora Forum, 2014.
[4] Arendt, Hannah. A condição humana. 12ª ed. Tradução de Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014.
Renata Nagamine
Doutora em direito internacional pela USP e pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UFBA.