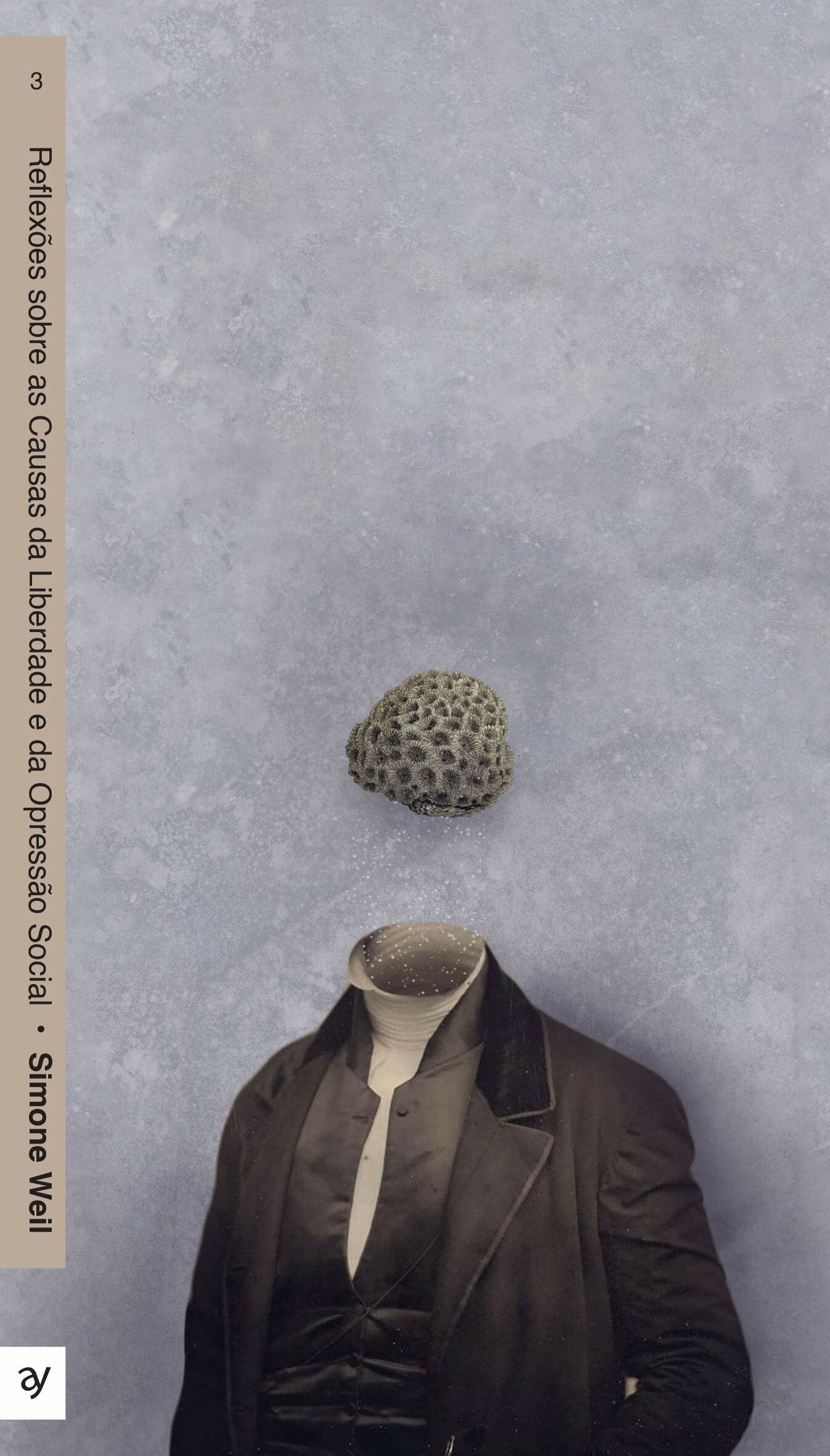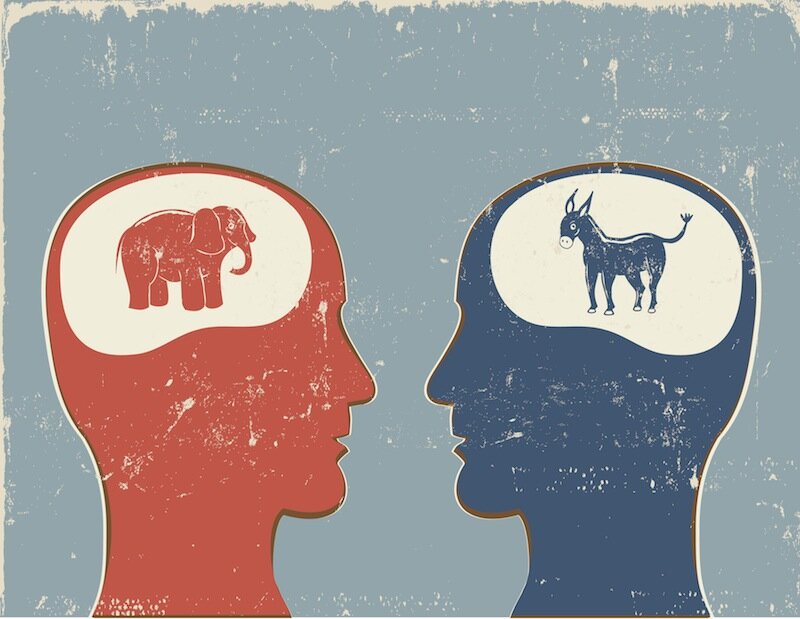A resistência dos tea-parties – e depois feita por Donald Trump – não é, em hipótese nenhuma, uma resistência da “direita” ou da “esquerda”.

O Patriota (2000)
“Strange things have happened, like never before.”
World Gone Wrong, The Mississipi Sheiks
1.
No dia 31 de maio de 2016, escrevi o seguinte texto na minha página do Facebook:
DONALDO TROMBETA GANHARÁ DE LAVADA
Enquanto vocês aí se preocupam com o Michelzinho [filho de Michel e Marcela Temer, nosso casal presidenciável], não podemos nos esquecer do verdadeiro acontecimento político dos últimos tempos: a ascensão assombrosa (e, para muitos, assustadora) de Donald Trump – conhecido também como “Donaldo Trombeta”.
Exceto eu, Nassim Taleb e Scott Adams [este, uma descoberta que agradeço ao Filipe G.Martins], todos estão a afirmar que, mesmo com a nomeação garantida no Partido Republicano, Trump não conseguirá superar Hilária “Não Tenho Clítoris” Clinton – bem, pelo menos, é o que Guga Chacra, este nosso Henry Kissinger que se gaba de ter sido paquerado pela Natalie Portman em pleno Lincoln Center, quer acreditar.
Desculpe-me dizer isso, folks, mas Donaldo ganhará de lavada. E pelo simples motivo de que os jornalistas criaram um clima de “arrogância epistêmica” em que ninguém espera o surgimento de um bufão como Trump. Ocorre que o bufão é mais esperto do que todos nós, mais esperto do que o nosso Tiririca.
Bem, a minha previsão aconteceu: Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos, eleito por uma ampla maioria no colégio eleitoral (280 votos). Depois de oito anos de Era Obama, o que teremos pela frente? Talvez Trump não seja o político ideal para a situação que se avizinha, mas o fato é que temos de admitir que estamos a testemunhar uma revolução política, uma tentativa de voltar às raízes daquele país que Alexis de Tocqueville descreveu em seu clássico A Democracia na América (1835).
Ali, o pensador francês comenta espantado como os EUA podiam existir sem ter um governo centralizado. Para o francês, as nações europeias só conseguiram se manter graças a uma centralização de poder que, no caso da França, ia do rei para as assembleias, das assembleias para os estados, dos estados para as cidades, das cidades para os funcionários públicos, dos funcionários públicos para os cidadãos normais – e assim por diante.
Nos EUA, tudo acontecia ao contrário – e, talvez por um milagre que só uma nova ciência política poderia explicar, era justamente o fato de ser um governo descentralizado que permitia os americanos a exercerem sua liberdade e sua igualdade de maneira harmoniosa. Foi justamente essa descentralização, mais do que qualquer componente demográfico ou racial, que deu a vitória espantosa a Trump (E é claro que, hoje, se Tocqueville visse os EUA, completamente diferente daquela nação que experimentou, diria sem misericórdia que não gostaria de forma alguma ver o seu diagnóstico realizado por meio de um político que não tem nada de aristocrático).
Contudo, isso não acontece somente na América. A obsessão de que um governo centralizado seria a solução de todos os problemas políticos – algo que dominou a mente do establishment progressista, seja do Partido Republicano ou do Partido Democrata – parecia ser a ideia fixa do momento tanto no resto do mundo como no Brasil.
2.
Por isso, surge a pergunta: Em quem Donald Trump poderia se inspirar para ir na contra corrente deste movimento? Por acaso já existiu alguém que realizou esse elemento alienígena chamado “auto-governo”, descentralizado, que deixa as coisas acontecerem de forma natural, sem qualquer espécie de intervenção nos assuntos do mercado e do indivíduo?
A resposta é “sim” e foi praticada por Calvin Coolidge.
Escuto um grito: Quem?! Em um mundo onde a mídia faz você acreditar que Roosevelt e Kennedy foram bons presidentes e que Lula e Barack Obama são exemplos de estadistas, é óbvio que ninguém ouviu falar neste sujeito.
Calvin Coolidge foi o presidente que governou os EUA entre Warren Harding (que morreu de ataque cardíaco) e Herbert Hoover (que foi seu secretário de Estado e com quem não se dava bem). Era um homem taciturno, de poucas palavras (seu State of the Union tinha só três linhas…), um quase puritano à maneira de Oliver Cromwell e deixava o governo se mover naturalmente.
O resultado é que foi nesta época – os chamados roaring twenties – que os EUA tiveram uma das maiores fases de prosperidade econômica – e que terminou logo depois com o crash de 1929.
Os historiadores progressistas afirmam que Coolidge foi o responsável pelo desastre porque ele não autorizou as intervenções necessárias. Talvez tenham razão: Paul Johnson conta, em seu A History of American People, que Coolidge realmente sabia que a bonança não duraria por muito tempo e queria deixar a bomba cair no colo de Hoover – que piorou o cenário com mais intervenção e mais centralização estatais. Mas Calvin era também um realista implacável: ele afirmou que a bonança tinha de acabar porque as coisas boas não duram para sempre.
Ou seja, apenas afirmou um princípio básico da arte de governar que, atualmente, todo mundo esqueceu – e que, anotem aí, Donald Trump terá de reviver novamente para governar com o mínimo de estabilidade (mesmo que seja com uma tempestade que se aproxima no horizonte).
Nos tempos atuais, esta é a lição mais difícil que um presidente pode absorver. Afinal, todos os governantes querem dar riquezas inimagináveis ao seu povo – como fizeram o PT no Brasil, como queria Obama e como pretendia Hillary Clinton prolongar por tempo indefinido, às custas de um aumento abusivo de impostos. Mas, infelizmente, eles não puderam fazer nada porque aprenderam que a política não é a arte de agradar a todos e sim, como bem definiu Henry Adams, “a organização sistemática dos ódios”.
Com este pequeno panorama, podemos ver como a verdadeira política é também a superação deste ódio sistemático ao assistir detalhadamente um filme que, na aparência, parece ser superficial, mas que guarda segredos interessantes para quem quiser saber o que acontecerá com o mundo nos próximos anos.
3.
Trata-se de O Patriota (The Patriot, 2000), de Roland Emmerich, um milagre do cinema por duas razões. Primeira, porque Emmerich conseguiu fazer um filme extraordinário, depois de ter feito duas das piores películas já feitas: Independence Day (1997) e Godzilla (1999). E a segunda, é o fato de ver uma obra que trata de família, pecado e redenção, sem o ranço politicamente correto e – o mais perigoso – a típica pieguice americana em torno dos EUA, pois, como veremos, a pátria à qual pertence o personagem principal Benjamin Martin não é deste mundo, como deveria acontecer com todos aqueles que não colocam a política como o horizonte último de suas esperanças neste planeta.
A história do filme tem um sopro épico raro, em que a dignidade do sofrimento é narrada com sobriedade. Benjamin Martin (Mel Gibson, finalmente provando que sabe interpretar algo além de Máquina Mortífera e o medíocre Coração Valente) é um fazendeiro viúvo e pai de sete filhos da Carolina do Sul, que tenta manter seu mundo em ordem em plena Guerra da Independência. Ele possui um motivo pessoal para isso: durante as Guerras Franco-Índigenas, Martin dizimou vários soldados franceses com apenas uma machadinha, instrumento no qual era perito. Este é o passado que quer afastar a qualquer custo, pois agora ele é um homem arrependido de seus feitos demoníacos, mas teme que sua família pague por seus pecados.
É o que acontecerá quando seu filho Gabriel (Heath Lodger) informa-lhe que quer entrar para o Exército dos colonos. Martin rejeita o pedido e faz isso de uma maneira brilhante em uma assembleia pública. Ao ser perguntado por que não deseja ir para a guerra, Martin responde que “não vejo diferença entre tiranos que estão a dez mil metros de distância e entre tiranos que estão a dez milhas”, o que mostra muito bem a postura de um homem que já viu de tudo no terreno da política e sabe que, invariavelmente, ela acaba corrompendo o ser humano com sua sede de poder. No entanto, o que está em questão não é se a causa da independência americana é justa ou não; para Martin, a guerra tira vidas e a única coisa que ele quer é proteger sua família, justamente para evitar que a sombra de seu passado o atormente de novo.
Mas, na verdade, em tempos de guerra não se pode fugir dela – pois ela acaba atingindo aquele que a evita de uma forma muito mais cruel. Depois de ter-se alistado no Exército, Gabriel volta para a casa de seu pai, ferido, durante uma missão para entregar um telegrama a um general, amigo de Martin (interpretado por Chris Cooper). Na frente da fazenda de Martin ocorre uma violenta batalha entre os ingleses e os colonos que deixa vários feridos. Martin decide ajudar ambos os lados da batalha. Contudo, sua solidariedade não é bem interpretada pelo Coronel Tavington (Jason Isaacs, assustador) que, num ato de disciplina draconiana, enforca os sobreviventes americanos e queimar a casa de quem ajudou os inimigos. Tendo a informação que Gabriel é um mensageiro dos colonos, Tavington o captura, e assim Thomas, irmão caçula de Gabriel – que também queria se alistar no Exército –, intervém na discussão, sendo baleado a sangue-frio pelo coronel inglês.
É a partir daí que O Patriota realmente começa. Benjamin Martin se vê na obrigação de seguir o filho Gabriel na guerra, não por uma questão de acreditar na causa ou por um motivo de vingança, e sim para manter a unidade de sua família. É a famosa ira de Aquiles: o sujeito é pacífico até o momento em que pisam no seu calcanhar, em particular quando ferem aqueles que lhe são mais queridos e próximos. A cena em que Martin entrega armas para seus dois filhos pequenos, para resgatar Gabriel das mãos de Tavington, é vibrante pelo simples motivo que qualquer um em sã consciência faria o mesmo.
Contudo, o dilema que envolve Martin não é apenas o político ou o emocional. Conforme o progresso da sua odisseia, ele verá que se trata de uma luta por sua alma, em que seu passado demoníaco volta para revelar, no fim, um homem redimido aos olhos de Deus. Nesse sentido, O Patriota é um filme profundamente religioso, e mostra com muita elegância os tormentos de ser um cristão em um mundo onde a ambiguidade impera e a salvação parece ser quase impossível. Nada mais interessante do que pôr estas questões em uma história que tem, como pano de fundo, uma guerra pela independência de uma pátria que é também pela independência do espírito.
Martin se confronta com o Diabo na figura do Coronel Tavington que, apesar de sua crueldade, é uma marionete nas mãos de Lorde Cornwallis (Tom Wilkinson), talvez um ser mais demoníaco ainda, pela sua frieza em decisões militares – durante uma batalha decisiva, ele fala que “tomaremos seus espíritos” [o dos colonos]. Na época em que o filme foi lançado, historiadores o criticaram pelo fato de que seria impreciso e incorreto, especialmente no modo de retratar os ingleses. Eis uma crítica fajuta: se alguém quer ver um filme correto em termos históricos, que veja um documentário tedioso no canal People and Arts. Isto é um filme de ficção, em que a suspension of disbelief é atingida plenamente, graças a uma direção que deixa o enredo se desenvolver com calma, algo raro em se tratando de um blockbuster, ainda mais dirigido pelo abominável Roland Emmerich.
Talvez o grande motivo de vitória do filme seja o roteiro de Robert Rodat, historiador que se tornou roteirista, e escreveu também O Resgate do Soldado Ryan, que tinha até uma boa premissa, se não fosse estragada pela visão pseudo-talmúdica de Spielberg. Basicamente, o tema de O Patriota trata do relacionamento de um homem com sua família, e todas as decisões e escolhas que isso implica. Como diz Benjamin Martin ao ouvir a pergunta de um amigo – “Você não acredita na causa?” –, quando se é pai não se tem este luxo. Mas é por causa de Gabriel, que acredita na causa da independência e leva outras pessoas crerem nela, que Benjamin Martin se vê obrigado a torná-la realidade. Não há uma razão de oportunismo político; seu único motivo é que ele entrou em um caminho em que não há mais volta.
Este caminho é o da salvação da sua alma e o de pôr a sua honra pessoal em risco, e é óbvio que o Diabo fará a sua parte nesta trajetória. Tavington é a personificação do Cão quando ele entra montado num cavalo (por si só, um animal com um forte simbolismo demoníaco), na igreja, onde queimará os habitantes de uma cidade que ajudou a milícia de Benjamin Martin; a ressonância se acentua quando ele mata um pastor e dizima a família de um dos soldados, forçando-o ao suicídio. Para pessoas como Martin, a família é a razão de sua vida, o elemento central que lhe dá todo o sentido. Ele foi um assassino, mas o fato de ter sido pai e marido o mudou profundamente, como atesta o próprio Gabriel numa delicada cena. Contudo, para acabar com o demônio dentro de sua alma, Martin terá de perder mais do que o necessário para ter, então, a humildade perfeita.
A cena em que Martin vela o corpo de seu filho Gabriel, depois que ele é assassinado por Tavington (que, por sua vez, matou a noiva do jovem no incêndio da igreja), mostra como a dúvida permeia a fé do homem religioso. “Como o homem pode encontrar algo que justifique a morte?”, sussurra Martin naquele modo contrito que torna a revolta um daqueles segredos entre o homem e Deus. A causa do filho só pode ser completada pelo pai e, nessa inversão trágica da ordem das coisas, Martin se vê obrigado, no meio de uma batalha em que poderia acabar de uma vez com Tavington, a superar o bem pessoal a favor do bem comum. Aqui reina a dialética da circunstância que move a vida do homem religioso, aquele que sabe que Deus não é uma mera abstração e que a vida do espírito é a única que importa: a história pessoal e a história geral se imbricam de tal forma que elas se tornam um amálgama, algo único, em que o indivíduo deve escolher (ou, para complicar o problema, é obrigado a escolher) entre o bem particular e o bem comum. O primeiro seria a queda no individualismo, no homem que se fecha no seu próprio umbigo; o segundo seria a ascensão da individualidade, em que a pessoa preserva sua diferença em relação aos outros, respeita-a e, por isso mesmo, decide reparti-la com seus semelhantes.
Neste momento do filme, Martin resolve refazer a linha de frente, erguendo a bandeira americana costurada por seu falecido filho, e muda o curso da batalha. Só depois que o bem comum foi realizado, então a redenção individual será alcançada: Tavington e Martin se encontram. Numa luta sangrenta – como deve acontecer quando Deus e o Diabo se confrontam –, Tavington fere gravemente Martin, que se ajoelha e vê a bandeira de seu filho como o símbolo da vitória. “Você disse que iria me matar antes do final desta guerra. Não conseguiu. Prova que você não é um homem melhor”, diz ironicamente o coronel inglês. De joelhos, Martin rapidamente pega um arpão e empalha Tavington, não sem antes responder: “Você está certo. Não sou um homem melhor. Meus filhos foram melhores do que eu”. O homem religioso consegue exterminar o Diabo dentro da sua alma quando tem a noção que seus filhos serão os continuadores e os aperfeiçoadores de sua obra na Terra, vivos ou mortos.
Embora não seja um filme de autor – lembrem-se que o seu diretor é o abominável Roland Emmerich – O Patriotaapresenta uma complexidade temática que ainda deixa muitas cenas para serem analisadas corretamente. Entretanto, fica claro que o patriota do título pode ser alguém que lutou pela pátria dos EUA, mas também alguém que lutou pela sua pátria espiritual. Este parece ser o caso de Benjamin Martin – e de uma significativa parcela da população americana que demitiu o establishment progressista de Washington e que dominou o debate público nos últimos oito anos. A maior prova dessa observação é o final, quando ele, casado com uma nova mulher (nada mais nada menos que a irmã de sua falecida esposa) e com os filhos que lhe restaram, volta para o local onde morava, e encontra os soldados de sua milícia reconstruindo a sua antiga casa, como prova de amizade. Depois da guerra, a única coisa que se deseja não é a paz, mas a possiblidade de recomeçar. A luta para quem põe a sua alma em risco, em conjunto com a sua honra pessoal, sempre continua, e a História nunca deixará de pregar suas peças na sua trajetória enquanto indivíduo. Talvez este seja o grande enigma da verdadeira política: o de se renovar constantemente, sem medo de enfrentar a próxima batalha.
4.
Foi justamente isso que o “círculo dos sábios” tentou fazer com os eleitores de Donald Trump, principalmente no início do surgimento dos tea-parties, ocorrido há seis anos: levar a crer que esse enigma – expresso numa enorme insatisfação – seria uma anomalia, uma piada que não poderia ser levada a sério. O que a imprensa incutiu na sociedade foi um primor de desinformação, encharcado de “preconceito ideológico”. Obviamente, a ideologia aqui em questão é a “obamista”, e o relato sobre a resistência dos tea-parties e, depois, dos “trumpettes” – adjetivada com os clichês de sempre, como “direitista”, “radical”, “histérica”, “populista”, etc. – mostra também um medo que prova que tal movimento sempre foi importante, com ampla representação nos EUA.
O problema central desta atitude é o de ver o mundo pelos prismas ideológicos – vícios dos quais o jornalista, especialmente o brasileiro, parece padecer como se fossem virtudes. Talvez o pobre diabo nem perceba isso, mas eles estão lá o tempo todo e é muito difícil tirá-los do seu organismo. Trata-se de um peculiar mecanismo de sobrevivência psíquica; o jornalista progressista precisa fazer isso senão ele morre – não só profissionalmente, como também existencialmente.
O detalhe que chama a atenção para o serviço de desinformação feito pelos nossos “iluminados” é que a resistência dos tea-parties – e depois feita por Donald Trump – não é, em hipótese nenhuma, uma resistência da “direita” ou da “esquerda” e sim de pessoas que divergem em muitas coisas, mas também estão unidas por um interesse em comum: o desejo de que o Estado não se meta mais na sua vida. Assim, uma grande parcela do povo americano decidiu se unir através de um problema concreto apresentado pelas exigências do real – e não através de uma retórica igualitária (e, neste sentido, realmente populista) que, a propósito, o próprio Obama percebeu que teria de se afastar se quisesse governar decentemente pelos anos seguintes do seu governo. Como vimos, felizmente tal estratégia não deu muito certo porque ele sequer conseguiu fazer a sua sucessora.
No famoso ensaio The Paranoid Style in American Politics, um dos textos mais superestimados já escritos, Richard Hofstadter argumenta que a política americana é uma forma mentis que sempre apela para a culpa do outro – ou seja, a responsabilidade do político não ter dado certo na realização de seus projetos é sempre do “comunista”, do “conservador”, do “reacionário”, do “extremista”, do “radical”. Em outras palavras, trata-se do princípio do bode expiatório explicado para dummies. A ironia que aconteceu com a derrota de Hillary Clinton é que a própria imprensa progressista ficou aprisionada na retórica reacionária deste raciocínio distorcido, ao apelar para o termo – olhem só! – “paranoico” para classificar a existência dos tea-parties e justificar a sua falta de visão ao prever a vitória de Donald Trump. Ou seja, a culpa de quem impede a concretização das políticas dos Democratas cai nos ombros de um movimento apartidário, já rotulado como “oposição organizada”, quando não passa de uma resistência informal de pessoas que simplesmente querem ser deixadas em paz.
Neste sentido, se o leitor quiser algo parecido e mais honesto para entender a forma mentis do americano médio e a História dos Estados Unidos, sugiro que leia Patriotic Gore, de Edmund Wilson, em especial a sua introdução, uma perfeita amostra de como um intelectual progressista pode se soltar das amarras da ideologia política quando necessário e ver a realidade tal como ela é; já Hofstader mostra, em seu ensaio, uma incompreensão básica de um detalhe essencial da verdadeira política americana – e que contaminou inconscientemente todos os diagnósticos sobre esta eleição em particular: o de que a política de verdade, a da pátria do espírito, é feita através de intimações da vida e não através de slogans ideológicos. Querem uma prova? É só lembrarmos de 1776, dos Founding Fathers, do Federalista, de Alexander Stephens, de Martin Luther King e Ronald Reagan. E lembrar também que toda vez que o governo americano partiu para a última alternativa sempre se se deu mal no curto, no médio e no longo prazo – vejam os casos de Lincoln, Roosevelt, Kennedy, Nixon, Bush, Jr., Barack Obama e o casal Bill e Hillary Clinton.
É uma pena que não existem possibilidades de se realizarem tea-parties ou de existirem políticos como Donald Trump no Brasil – justamente porque todas essas tentativas foram sufocadas não só por textos de desinformação publicados na imprensa progressista (e que não apresentam nenhum outro contraponto) e outros órgãos supostamente “plurais” da nossa imprensa, como também por uma soi-disant oposição “liberal e conservadora”. Esta última simplesmente escolheu a apatia como meio de vida, na crença ingênua de que fez o impeachment de Dilma Rousseff, quando isso não passou de um evento em que a “maioria silenciosa” se manifestou de forma ruidosa e que poderá explodir novamente, talvez de maneira ainda mais perigosa, principalmente porque não há um grupo de líderes que consiga fazer a “organização sistemática de ódios” que Henry Adams nos ensinou.
5.
Tudo isso tem a ver com aquilo que pode ser chamado de “a morte da honra”. Como o esquecimento é a nossa única herança, ainda assim somos obrigados a ler a grande imprensa – este pão nosso de cada dia que Hegel afirmava ser a sua Bíblia matinal logo que acordava e sobre a qual caiu uma pá de cal desde a vitória de Trump – para percebermos que há uma estranha sombra pairando sobre todos nós.
Este espectro que nos assombra não é nada perto daquilo que James Bowman diagnosticou de forma assustadora no seu ensaio “A Bias against Honor“. Ao analisar uma matéria do The Washington Post sobre como estavam algumas famílias de vítimas do 11 de setembro, após oito anos do ocorrido, Bowman narra como vários parentes, por exemplo, e apesar de serem democratas convictos, não viam com bons olhos todo o “papo humanitário” que o governo de Barack Obama realizou sobre as chamadas “torturas” em Guantanamo. O que eles mais desejavam, obviamente, não era apenas uma reparação, mas, sobretudo, uma espécie de justiça. É claro que – e o René Girard dentro de mim começa a coçar logo os dedos –, posso entender isso como vingança ou retaliação. Mas aqui vem a pergunta que não quer calar: Será que a justiça não vem antes de qualquer espécie de perdão?
Um exemplo da “morte da honra” que Bowman descreve – e que, na verdade, é apenas um outro caminho para a vitória do esquecimento – é a carta testamento que o senador democrata Ted Kennedy escreveu ao Papa Bento XVI antes de morrer em 2011, devido a um furioso tumor cerebral. Recentemente, li um artigo de uma dessas jornalistas brasileiras que moram em Nova York e que sempre agem como moças de baile de debutante quando se trata dos Kennedy e do chamado “pensamento-democrata-liberal-americano” (leia-se: de esquerda); a tietagem era tamanha que ela chegou a apelidar Ted de “O Leão do Senado” ou algo que o valha.
E aqui precisamos deixar uma coisa clara: em 1969, Ted Kennedy foi o responsável de, no mínimo, ter se omitido a ajudar a sua secretária Mary Jo Kopechne enquanto ela se afogava no fundo do lago Chappaquiddick (o nome é impronunciável, mas, talvez por isso mesmo, fácil de ser lembrado para sempre) no famoso acidente em que a limousine onde os dois estavam – e sem ninguém saber para onde iriam – simplesmente caiu de uma ponte e espatifou direto na água. Neste caso, não foi um “leão” em hipótese nenhuma: até hoje nunca ficou explicado porque ele demorou nove horas para chamar a polícia e porque, nesse meio tempo, resolveu falar com seus advogados e deixar que o seu “nível alcóolico” diminuísse. (A propósito, este foi um evento que quase passou despercebido nos obituários hagiográficos sobre Kennedy durante a sua morte). Além disso, foi um político que apoiou entusiasticamente medidas pró-aborto, pró-casamento gay, de controle de natalidade, e como se não bastasse, usou o seu tumor cerebral como bandeira para a reforma de saúde que Barack Obama quis fazer nos EUA – o temeroso Obamacare.
Entretanto, em sua carta ao Papa, redigido nas suas horas finais, o que ele escreve?
Santíssimo Padre,
Escrevo-lhe com a mais profunda humildade para lhe pedir que ore por mim enquanto a minha saúde declina.
Fui diagnosticado com câncer cerebral há mais de um ano e, apesar de continuar com o tratamento, a doença se espalhou no meu corpo. Tenho 77 anos de idade e me preparo para a próxima travessia da vida. Fui abençoado por fazer parte de uma família maravilhosa e tanto os meus pais, especialmente a minha mãe, mantiveram a fé católica como o centro das nossas vidas. Este dom da fé foi sustentado e alimentado e me dá alento nas horas mais sombrias. Sei que fui um ser humano imperfeito, mas com a ajuda da minha fé tentei permancer no meu caminho.
Quero que Sua Santidade saiba que, nos meus quase cinquenta anos de exercício efetivo, fiz o meu melhor para ser o defensor dos direitos dos pobres e abrir as portas da oportunidade econômica. Trabalhei para receber o imigrante, para lutar contra a discriminação e expandir o acesso aos planos de saúde e à educação. Fiz oposição à pena da morte e lutei para acabar com a guerra.
Estes são os tópicos que me motivaram e que foram o foco do meu trabalho como senador dos Estados Unidos. Quero que o senhor também saiba que, apesar de estar doente, me comprometi a fazer de tudo o que posso para que todos tenham acesso a um bom plano de saúde no meu país. Esta foi a causa política da minha vida.
Vossa Santidade, apesar de ter me rendido às minhas falhas humanas, nunca deixei de acreditar e de respeitar os ensinamentos fundamentais da minha fé. Continuo a orar pelas bênçãos de Deus sobre o senhor e a nossa igreja e ficaria muito grato se pudesse rezar por mim.
Reparem, como bem observou James Pierson em um texto que medita sobre as implicações desta carta, que Ted Kennedy jamais faz referências às suas políticas a favor do aborto e do casamento gay. Como diria Jerry Seinfeld, not that it is anything wrong with that; mas se você está a escrever para o Papa – o doutor de uma doutrina que se opõe a tudo o que foi mencionado acima – e, especialmente em seus momentos finais, o mínimo que se espera é ser ser um pouquinho honesto consigo mesmo.
Pierson também põe o dedo na ferida quando argumenta o seguinte:
O que é muito interessante sobre esta carta é que, no entanto, ela é a expressão perfeita da visão de que a salvação pessoal pode alcançada por meio da política liberal [grifos meus]. Os cristãos se unem para servir aos pobres e para expiar os seus pecados por meio dos atos sacrificiais de caridade e de bondade. Eles foram tradicionalmente compreendidos como intimações para o indivíduo, mas o Senador Kennedy lhes dá uma interpretação política ou legislativa. Ele serviu aos pobres e quis sua penitência pelos seus pecados ao usar a habilidade e influência política dele para elaborar leis “que abriram portas de oportunidades econômicas” e “expandir acesso aos planos de saúde e à educação”, ao mesmo tempo em que lutava contra a pena de morte e tentava terminar com a guerra. O Senador Kennedy ganhou fama e proeminência por esses esforços dedicados em virtude das causas e dos programas liberais, e, nos dias seguintes à sua morte, quase todos concordaram que, ao fazer tudo isso, ele teve a sua redenção pelos atos passados de omissão e irresponsabilidade.
Não se trata apenas mais um sintoma da “morte da honra”. Trata-se da raiz de uma doença que consome todo o Ocidente. Afinal, honra não é somente um “sentimento” de dignidade, de manter o respeito por si próprio; é talvez algo até mesmo um pouco menos grandioso: a capacidade de alguém perceber seus próprios erros e saber que deve assumir a responsabilidade por eles – e que qualquer outra pessoa deve fazer o mesmo, seja um cidadão comum, um terrorista e, sobretudo, um político. O sistema jurídico serve justamente para reparar a honra daqueles que foram feridos e, assim, evitar o contágio da escalada violenta. Contudo, nos nossos dias, os quais Ted Kennedy resolve esquecer o que fez de grave durante toda a sua vida e que ninguém mais se lembra do que aconteceu com os mortos no World Trade Center, a igualdade e a paz progressistas são o que corroem qualquer espécie de reparação. A nossa incapacidade de perceber o mal radical que temos dentro de nós é o que provoca reações desesperadas como a do tal “Leão do Senado”. Queremos ser salvos pelo que supomos ser as nossas intenções mais puras, disfarçadas pelo manto do liberalismo, e não pelas próprias ações, sempre contaminadas pela nossa natureza decaída. Queremos que todos vejam o que a mão direita faz pela mão esquerda e vice-versa. Afinal, o que se tem a perder quando o esquecimento é tudo o que resta no mundo antes representado por Barack Obama?
6.
É aqui que devemos voltar a um texto que o crítico cultural James Wood escreveu há seis anos, publicado na New Yorker, em que ele resolve meditar sobre ninguém menos que o já conhecido Alexis de Tocqueville. Wood tem lá os seus problemas epistemológicos – ele implica em demasiado com as referências espirituais dos escritores que analisa, talvez um reflexo do seu problema pessoal com a fé cristã –, mas ninguém pode negar que o homem lança umas hipóteses instigantes. Em seu ensaio sobre Tocqueville, ele desenvolve a premissa de que o célebre A Democracia na América é um livro sobre o advento de uma nova fé que veio para substituir a velha – no caso, o igualitarismo democrático e progressista em lugar do bom e velho Cristianismo – como se isso fosse, na verdade, um reflexo das lutas constantes do nosso querido Alexis com sua própria ausência de fé:
Tocqueville sentia que a sociedade precisava da ênfase na religião ao acreditar no além. Deus garante a autoridade da moral (a bondade vem Dele) e, em geral, a religião garante que o homem democrático saia do narcisismo e do materialismo que são endêmicos às sociedades não-aristocráticas. Mesmo assim, como alguém continua a renovar sua crença religiosa em uma era de dúvida radical? A solução de Tocqueville tem um toque característico do cinismo francês, até mesmo de hipocrisia. É aquilo que, basicamente, Voltaire, chamava de croyance utile, “crença útil”. Tocqueville pensava que a religião não precisa ser verdadeira, mas é muito importante que as pessoas acreditem nela. Logo, ele escreve, cada vez que a religião firma suas raízes profundas na sociedade, alguém deve “guardá-la contra seus opositores, e preservá-la cuidadosamente como se fosse a herança mais preciosa que tivemos de séculos aristocráticos; não procuremos separar os homens de suas antigas opiniões religiosas para substituí-las por novas”. O materialismo parecia ser um abismo terrível para Tocqueville, com seus demônios da descrença, niilismo e desordem. Em uma frase emocionante, ele adverte que, se um povo democrático tiver de escolher entre a metempsicose e o materialismo, ele preferiria que os cidadãos acreditassem que suas almas renasceriam nos corpos de suínos em vez de terem a certeza que eram apenas matéria.
Esta foi justamente a escolha que o povo americano teve de fazer ontem: entre Hillary Clinton e Donald Trump, preferiu o mal menor – ou seja: sua alma foi para os porcos para não se transformar em um mero acúmulo de átomos. Mas, ao realizar isto, talvez não tenha percebido que provocou uma revolução mais profunda para os que sempre souberam que a política terrena nunca foi a busca de uma pátria celestial. A falta de fé da sociedade ocidental – e a consequente “morte da honra” que fez o progressismo esquerdista ter o monopólio do bem e da justiça em sua retórica verdadeiramente populista – provocou um efeito bumerangue em que todos querem, do modo mais insólito, sentir o gosto do risco e da incerteza como algo genuíno e positivo na condição humana como um todo. É o que John Gray bem descreveu em seu recente ensaio publicado estasemana na New Statesman, chamado apropriadamente de “The Closing of the Liberal Mind” (O Declínio da Mentalidade Liberal): a partir de agora, o liberalismo (e suas variantes, como o progressismo, a esquerda revolucionária e o conservadorismo moderado) não tem mais razão de ser porque os seus principais integrantes perderam completamente a conexão com a própria realidade. É o que acontece quando você se esquece da pátria do espírito e troca a sua honra pessoal para ser mais um burocrata do pensamento ou dos corredores do poder.
O que devemos fazer, a partir deste momento, é jamais nos esquecermos do que realizamos, especialmente o mal que provocamos aos outros, mas sem se esquecer também do bem que ainda causamos, sempre tendo a aguda consciência de que, desde da sombra que existe sobre nós no dia 11 de setembro de 2001, mas que chegou à máxima espessura na madrugada do dia 8 de novembro de 2016, vivemos sob o peso da certeza de que, como bem disse W.B. Yeats, a terrible beauty has born – uma terrível beleza nasceu. O desafio agora é saber como dominá-la.
Martim Vasques da Cunha
Autor de Crise e utopia: O dilema de Thomas More (Vide, 2012) e A poeira da glória (Record, 2015). Pós-doutorando pela FGV-EAESP.