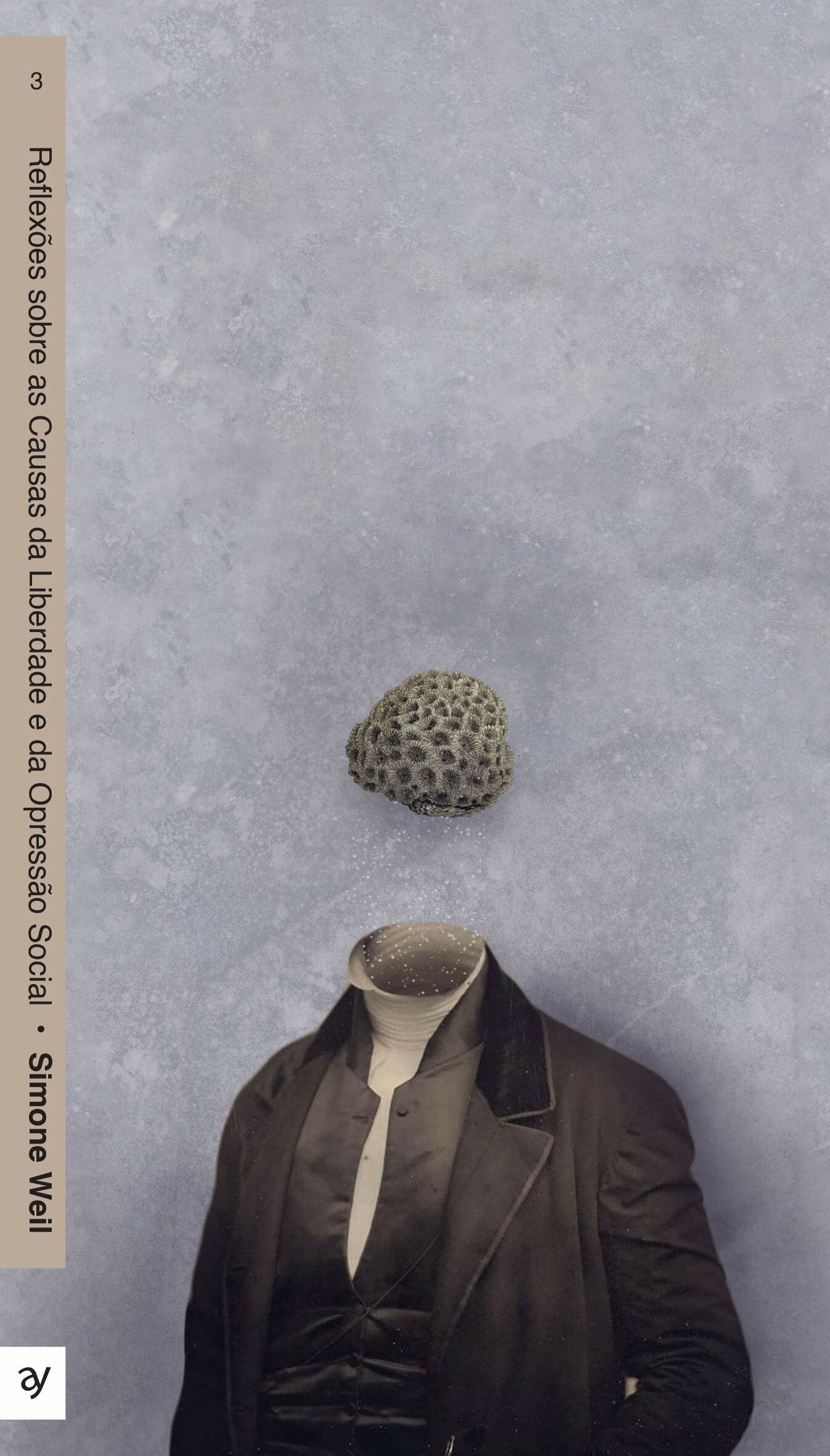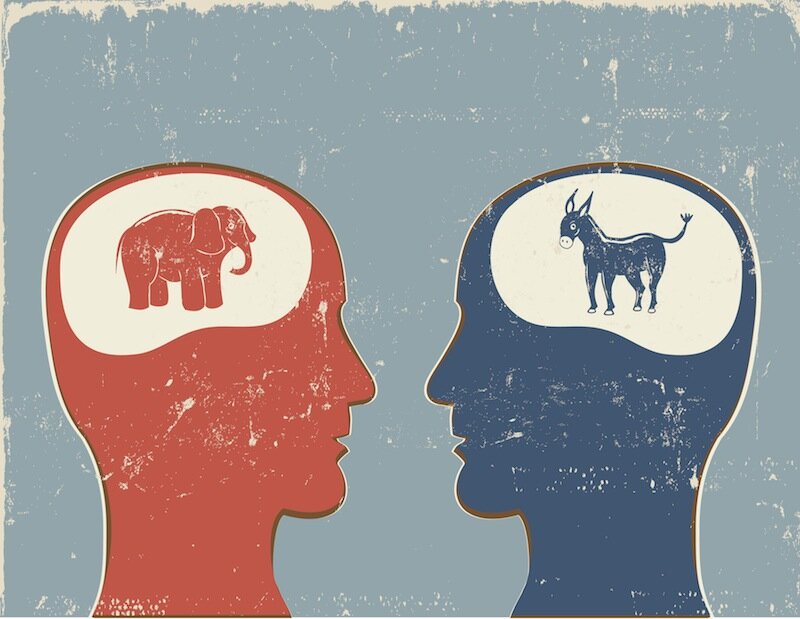Militares se mostraram incomodados com a ideia de atuar em meio aos brasileiros.

Há alguns meses as leis de guerra apareceram em artigos de jornal sobre a não-guerra no Rio de Janeiro[1]. Foi apenas uma troca de argumentos, mas ela chama a atenção por colocar essas leis, ou o direito internacional humanitário, no centro do debate público. Isso não é corriqueiro entre nós, embora tenda a se tornar mais frequente.
Os artigos abordavam a morte de civis em confrontos armados no estado do Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2018. Ilona Szabó, cientista política e diretora do Instituto Igarapé, criticou o abuso no uso da força pela polícia com respaldo das forças armadas em suas operações nas comunidades cariocas. Em seu entender o uso da força causou ‘sofrimentos desnecessários’, tendo resultado na morte de 444 ‘civis’ apenas até a metade do ano (os termos, inclusive a estranha ideia de ‘sofrimentos desnecessários’, são emprestados das leis de guerra). Uma dessas mortes foi a de Marcos Vinícius, um garoto de 14 anos atingido por uma ‘bala perdida’ com uniforme e mochila nas costas, a 100 metros de casa na Maré. Em resposta, o coronel e doutor em Ciências Militares, Carlos Frederico Cinelli, contestou o dado do relatório do Observatório da Intervenção mencionado por Szabó, questionando quantos dentre os mortos eram ‘civis inocentes’ e quantos ‘combatentes’.
‘Civis’ é uma categoria das leis de guerra e a ideia de culpa lhe é estranha. Esta ideia só tem sentido dentro do direito penal (civil ou militar), mas as leis de guerra afastam o direito penal dos campos de batalha. No espaço em que elas incidem, o direito penal não tem lugar e mesmo os direitos humanos só se aplicam no que lhes escapa. Isso significa que, onde e quando se aplicam, as leis de guerra têm precedência. Então, não sabemos, de fato, quantos dentre os 444 mortos em operações de agentes de segurança carregavam armas em público, mas um aspecto curioso do debate é que, ao mesmo tempo em que se afirma que as leis de guerra não se aplicam, a não-guerra no Rio de Janeiro é discutida em seus termos. Empresta-se delas tanto a linguagem quanto a lógica, ou seja, não só os argumentos são formulados em seus termos, mas suas normas são adotadas como parâmetros de legalidade e moralidade, e suas categorias são usadas para condenar ou justificar práticas.
Desde uma perspectiva técnica, as leis de guerra, ou o direito internacional humanitário, são um ramo do direito internacional que regula conflitos armados internacionais (em geral confundidos com as guerras tradicionais), conflitos armados não internacionais (em geral confundidos com a guerra civil) e a ocupação beligerante. Suas normas estabelecem parâmetros de legalidade para o uso de equipamentos e formas de combate, e pretendem diminuir o peso dos conflitos armados sobre os que se encontram fora de combate, sejam eles civis, feridos ou enfermos. Segundo historiadores[2] das ideias jurídicas internacionais, esse corpo de normas foi redesignado Direito Internacional Humanitário a partir dos anos 1970, em parte por força do predomínio dos direitos humanos como utopia.
É uma mudança mais do que nominal: ela assinala uma reordenação ideológica das leis de guerra, que teriam se tornado mais comprometidas com a proteção dos civis do que de combatentes, como era na origem, no século XIX. Desde os anos 1970 as ideias e categorias das leis de guerra se tornaram, assim, gradualmente mais populares, ainda mais depois dos atentados ao World Trade Center. Segundo Alexander[3], com o 11/9 de 2001 os quadros interpretativos da guerra se tornaram mais populares, passaram a ser usados em circunstâncias diferentes, com significados próprios, e, por conseguinte, também se tornaram mais disputados. Com isso a própria cidadania teria sido parcialmente deslocada do centro da política.
O uso confessadamente inadequado do direito internacional humanitário para tratar de segurança pública me parece ser, por tudo isso, antes um sinal do que a causa de um fenômeno. Da perspectiva do direito internacional não há guerra no Brasil, nem no Rio de Janeiro. Forças paramilitares, umas mais outras menos dedicadas ao tráfico de drogas, têm domínio sobre parcelas do território brasileiro e dispõem de armamentos pesados, alguns dos quais de uso restrito das forças armadas. Também há confrontações armadas, muitas delas com uso de drones, tanques, entre outros equipamentos militares da parte do Estado; mas as hostilidades não atingiram a escala de um conflito armado tal como ele é entendido no direito internacional: as hostilidades bélicas são dispersas no tempo e no espaço; a assimetria em termos de recursos (implementos de violência e inteligência) é favorável às forças estatais. Mesmo assim, o debate transcorre, como disse, em torno da ‘proteção de civis’, de evitar o ‘sofrimento desnecessário’ e de planos para a redução de danos, como pediu a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, o que remete tanto a políticas destinadas a usuários de drogas quanto à ideia de danos colaterais, aparentemente inevitáveis. Embora não estejamos em guerra, falamos como se estivéssemos em uma. Há elementos de realidade, enfim, que contribuem para a nossa percepção de que não estamos em tempos de paz: nossos homicídios por cem mil habitantes são comparáveis aos de conflitos armados contemporâneos e nós adotamos no dia a dia medidas usadas em países como Síria e Iêmen, como aquelas destinadas a assegurar as aulas em escolas, a construção de túneis para abrigar as crianças, a pactuação em torno dos horários de operações militares, a transfiguração do criminoso em combatente.
Nesses meses de intervenção no Rio de Janeiro, o alto escalão das forças armadas esclareceu que a garantia da lei e da ordem é uma de suas funções, mas não sua destinação primordial. Militares se mostraram incomodados com a ideia de atuar em meio aos brasileiros, ou seja, contra uma parcela da sociedade que eles têm por missão defender. Na primeira semana pós-eleitoral, contudo, já se tem defendido publicamente o uso de atiradores de elite, drones com armas embutidas e operações a partir de helicópteros (na realidade em curso há anos) contra quem carregue armas abertamente. Não se chega a falar em guerra no sentido do direito internacional humanitário, ou seja, em conflito armado, mas fica subentendido que a ‘guerra contra o crime’ justifica a adoção de medidas de guerra propriamente. Senão vejamos. Em uma guerra, ou ‘conflito armado internacional’, carregar armas em público é uma condição para se ter o status de combatente, que significa poder ser alvo legítimo de operações militares e também matar o inimigo sem que se configure crime. Já fora de conflitos armados, quando um agente estatal causa a morte de alguém, ele a princípio comete uma execução arbitrária, que, apesar disso, pode não chegar a configurar um crime por se entender que as circunstâncias tornaram a conduta justificada. Mas, como só se pode justificá-la posteriormente aos fatos e com base em circunstâncias necessariamente particulares, sua justificação não pode ser erigida a política de Estado, ou seja, ela não pode ser validada. A prática indiscriminada da punição com a morte, e sem investigação e julgamento, ou mesmo a omissão estatal em apurar a responsabilidade por ela configura uma violação de direitos humanos.
Não bastasse isso, ideias como o uso de atiradores de elite, operações a partir de veículos aéreos e a imunidade a agentes estatais em serviço têm potencial para deflagrar um recrudescimento das hostilidades bélicas e representam uma ameaça muito real aos moradores das chamadas ‘áreas conflagradas’, que são densamente povoadas. Neste ponto a distinção guerra/paz lança luz sobre a situação do Rio de Janeiro, sua não-guerra, as formas de atuação das forças de segurança na cidade e as propostas para equacionar seus desafios. Em uma guerra, atingir letalmente moradores em decorrência de uma operação pode ser enquadrado como ‘perda incidental de vidas civis’. Porém, se não estamos em guerra, a morte de moradores desarmados causada por atiradores e por tiros disparados de helicóptero configura crime, uma violação de direitos humanos e, adotada como política, também tem o potencial de transformar o Estado brasileiro em um Estado criminoso. O argumento de que o Brasil usou esses recursos na Missão da ONU para o Haiti, a MINUSTAH, não os torna legais à luz do direito internacional: no Haiti eles resultaram em violações de direitos humanos, entre as quais a execução de 30 pessoas na Cité Soleil, e isso deveria nos alertar. Não por acaso, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos estão acompanhando as operações dos agentes de segurança nas comunidades cariocas, com atenção ao abuso, à violência policial e à escalada da belicosidade nelas.
Então, cabe-nos perguntar em que medida a percepção fora dos círculos militares e dos especialistas de que estamos em guerra e o entendimento aparentemente prevalecente naqueles círculos mais restritos de que estamos em uma não-guerra justificam a crença em que força letal é a única ou a melhor saída para o problema da segurança pública no Brasil, limitando nossa imaginação política. Penso que uma resposta pode passar pelo fato de que a circulação de soldados e equipamentos pelas cidades contribui para moldar nossa esfera pública, a qual ganha, assim, uma forma mais propícia para a justificação de práticas militares incongruentes com a cidadania. Minha ideia é que torna-se tanto mais fácil usar soldados, armas e outros equipamentos militares quanto mais falamos em guerra contra as drogas, guerra contra o tráfico, guerra contra o crime: é como se aos poucos nós construíssemos desculpas prontas, que nos dispensam de parar para pensar e reforçam a percepção de que é de uma guerra que se trata, o que, por sua vez, nos predispõe a aceitá-las.
Com isso não quero desacreditar a percepção social de que se está em guerra em um país tão brutal quanto o Brasil. Entendo que esta percepção tem respaldo em elementos de realidade, tais como o número de homicídios, de tiroteios e mesmo o tipo de equipamento usado por grupos paramilitares e forças estatais. O que me parece nos escapar é que o próprio uso prolongado das forças armadas nas cidades e a aceitação do uso da força das armas para além dos limites jurídicos ordinários (constitucional, penal e penal militar) que tem se seguido a essas práticas criam condições para uma escalada de enfrentamentos armados e a predisposição de aceitar o uso menos restrito da força letal para além do cumprimento estrito e proporcional do dever legal, que são seus limites legais no Brasil.
O recurso a categorias das leis de guerra, como ‘proporcionalidade’, ‘população civil’, ‘sofrimento desnecessário’ e danos colaterais, aponta para a intervenção das práticas e da ideologia militares em nosso cotidiano. Como sucumbimos ao uso formalmente impróprio dessa linguagem? Minha intuição é que, a despeito dos rigores do direito, nós nos socorremos dela por força da incompatibilidade entre a cidadania e o militarismo cotidiano em cidades brasileiras, seja o dos grupos paramilitares, seja o das forças de segurança. Seu emprego aponta para nossa dificuldade de conciliar as práticas militares e sua intervenção em nossa vida diária com a linguagem e as expectativas da cidadania, de liberdade de ir ao trabalho e voltar intocado/a, de errar pela cidade, de não ter aulas canceladas, de frequentar o pátio da escola.
Estas expectativas não se confirmam para aquele/a/s que habitam os espaços mais pobres, em que grupos paramilitares se organizam e cobram pela prestação de serviços públicos. A disposição de acionar soldados e equipamentos militares para atuar nas cidades, em operações para a garantia da lei e da ordem, também só tem se traduzido em ação quando as expectativas em torno da cidadania deixam de se confirmar lá onde o cotidiano costuma seguir seu curso, sem sofrer intervenções imprevistas. Julgando pelo que lemos em jornais e pesquisas, estas não reclamam um cotidiano sem imprevistos fatais. Elas reclamam a previsibilidade da lei da terra, e não a precariedade da lei da guerra. Para elas se busca uma ordem em nome da liberdade, ao preço da libertação violenta das comunidades[4]. Se o uso dos implementos de violência pode ser justificado nesse caso[5], para não aniquilar a possibilidade de encontrar saídas pacíficas para os dilemas a coabitação e da justiça, ele deve respeitar os limites do direito.
______
NOTAS
[1] Artigo 2.1.1. As Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) caracterizam-se como operações de “não guerra”, pois, embora empregando o Poder Militar, no âmbito interno, não envolvem o combate propriamente dito, mas podem, em circunstâncias especiais, envolver o uso de força de forma limitada. Ministério da Defesa. Garantia da Lei e da Ordem. 2ª edição. Brasília, 2014.
[2] Moyn, Samuel. From Antiwar Politics to Antitorture Politics. In: Sarat, Austin; Douglas, Lawrence; Umphrey, Martha Merrill (orgs.). Law and War. Stanford: Stanford University Press, 2014, p. 154-197; Alexander, Amanda. A Short History of International Humanitarian Law. European Journal of International Law 26, 1(2015): 109-138.
[3] Alexander, Amanda. A Short History of International Humanitarian Law. European Journal of International Law 26, 1(2015): 109-138.
[4] Arendt, Hannah. Sobre a revolução. Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2011; Bernstein, Richard. Violence. Thinking without Bannisters. Cambridge, UK-Malden, MA: Polity, 2013.
[5] Arendt, Hannah. Crises of the Republic. San Diego-New York-London: Harcourt Brace & Company, 1972.
Renata Nagamine
Doutora em direito internacional pela USP e pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UFBA.