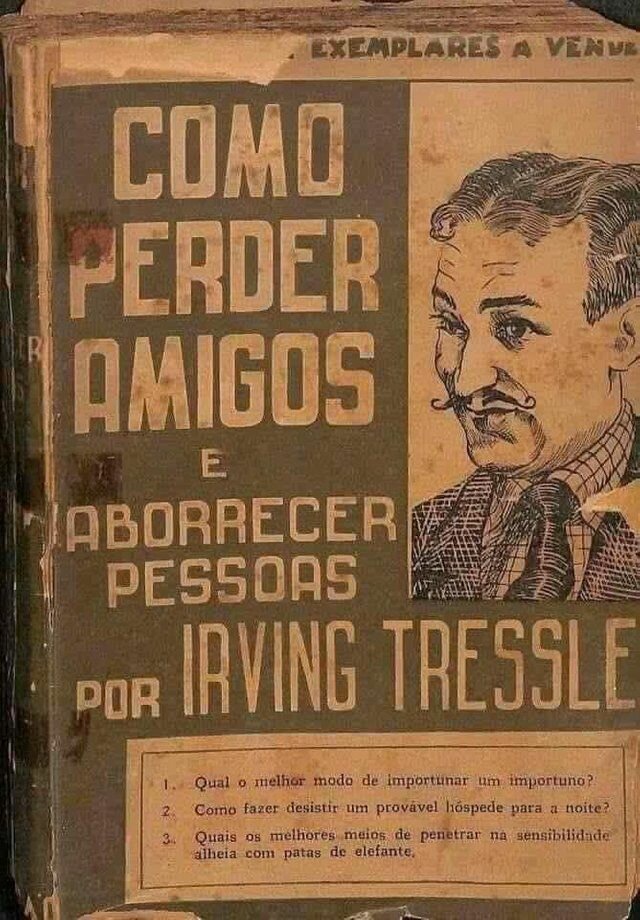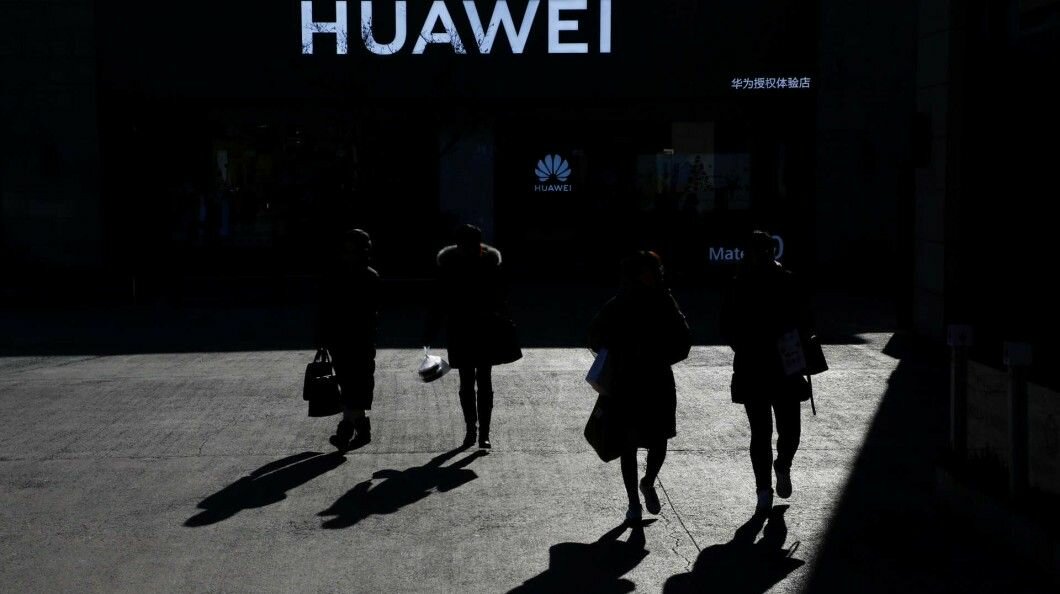O que os videogames me ensinaram sobre literatura.

Se me perguntam onde e como ocorreu meu aprendizado literário, geralmente me refiro ao sofá de minha casa, onde estudei latim e inglês elisabetano e li a maioria dos livros que de alguma forma me influenciaram (o sofá é o mesmo há vinte e tantos anos; antes dele, houve uma poltrona forrada em couro, há muito perdida em alguma nebulosa mudança domiciliar). Se me pedem nomes de autores, recorro a uma lista cambiante, que se estica, se encolhe e se transforma conforme o dia e o estado de espírito: Sófocles, Simões Lopes Neto, Cecília Meireles, Isaac Asimov, Conrad, Maupassant, Nabokov, Heródoto, e la nave va. Também é de bom tom incluir o cinema, especialmente o faroeste, com o qual aprendi mais práticas narrativas do que qualquer manual literário poderia conter. Há algum tempo, contudo, percebi que cometia uma injustiça. Para dar conta do que tenha sido meu aprendizado literário, eu teria de mencionar certos banquinhos de pé quebrado, recintos abafados cheirando a refrigerante e salgadinhos, joysticks estraçalhados por excesso de manuseio, apostas escandalosas e inexequíveis, noitadas insones em que os olhos inchavam até adquirir a tonalidade vermelho-trágica dos quadros de Caravaggio; seria preciso, enfim, falar sobre os videogames que joguei dos 12 aos 31 anos.
Ah, sim, eu aprendi muito sobre literatura enfiado naqueles jogos intermináveis, a começar pelos mais sanguinários, bem ao gosto de um menino do interior gaúcho, nos tempos em que não havia Google nem Youtube. Jamais tive videogame em casa. Aquelas máquinas maravilhosas vinham de inimagináveis terras estrangeiras e aportavam nos quartos de dois ou três vizinhos, sabe-se lá como, e todas as crianças do quarteirão formavam filas nervosas e barulhentas para revezar-se em frente aos consoles de Mega Drive e Super Nintendo, em tardes de mágica duração que, à revelia dos pais, facilmente degeneravam-se em noites alucinadas. Quantos inimigos incinerei, quantas cabeças arranquei, quantas vezes me extasiei ante o advento da palavra FATALITY em cintilantes letras escarlates! Passaram-se os anos, mas recordo meus companheiros de jogo com toda nitidez, como se os houvesse visto hoje. Raramente voltei a encontrar algum deles, porém os sinto mais reais que boa parte de minha vida presente; e, se acaso avisto na rua um antigo cojogador, minha inclinação é exclamar, sem nenhuma ironia: Mon semblable, mon frère! Pois, naqueles redutos penumbrentos, atravessados pelos clarões de mortandades pixelizadas, descobri que a fantasia ‒ para o bem ou para o mal ‒ produz alguns dos vínculos mais poderosos na existência humana.
Por muitos anos, fui obcecado por Super Mario Bros. Ah, o êxtase de cabecear quadriláteros flutuantes para extrair cogumelos que vivificam! O pânico de atravessar mansões atestadas de espectros em voos rasantes, tubulações infestadas por tartarugas mortíferas, vastas hidrografias de lava fervente que conduziam às formidáveis arenas dos Chefões de Fase! Um dos momentos mais felizes de minha infância foi quando conseguir montar e domar um dinossauro de duas pernas que cuspia reboleantes bolas de fogo; e como esquecer a primeira vez em que, virando um jogo, enxerguei surgirem em eufórica procissão as palavras YOU ARE A GREAT PLAYER?
Bem, mas o que tudo isso tem a ver com literatura? Ora, é evidente. Por volta dos 13 anos, passei a buscar nos livros o mesmo tipo de imersão mental, a mesma transfiguração da realidade, que encontrava nos videogames; em outras palavras, Mario, Luigi e a Princesa Toadstool me introduziram àquele conceito que, mais tarde, eu redescobriria nas páginas de Coleridge: “a voluntária suspensão da descrença, que constitui a fé poética”.
Ao fim da década de 90, migrei, como tantos jogadores, do console para o desktop. O jogo de computador que mais me marcou talvez seja, hoje, um tanto obscuro, mas conta ainda com alguns nostálgicos seguidores, que não deixam de se reunir às vezes para relembrar aqueles tempos de alta aventura ‒ we few, we happy few, we band of brothers… Chamava-se Arcanum (Troika, 2001). O cenário era uma espécie de Terra Média em processo de Revolução Industrial, de modo que era possível escapar-se de um desastre de zepelim para, em seguida, ser-se devorado por um lobisomem; e os proletários orcs (ou orques, para seguir a tradução corrente) organizavam motins e quebra-quebras contra os industrialistas élficos… Tudo isso poderia soar simplesmente paródico, não fosse pelo uso da linguagem: os personagens falavam um inglês byroniano com certos laivos de autoironia à Chesterton, de tal forma que nos sentíamos em um universo aproximadamente vitoriano transtornado por um pesadelo. Ora, ora: jogando Arcanum percebi que a chave da verossimilhança literária se encontra no uso da linguagem. Há um mistério que conecta o verbo ao fato; e a ficção só terá a densidade do real se for dita com as palavras certas ‒ mas esse acerto é geralmente difícil e jamais óbvio. Encontrar a entonação correta de uma história é lição que tentei aplicar a todos as coisas que escrevi de 2001 em diante, graças a meus passeios por aquele palavroso carnaval steam-punk.
Minha carreira de jogador encerrou-se uns sete anos atrás: a paternidade foi meu Game Over. Tento eventualmente retornar às práticas de antanho, mas perdi a velha capacidade de imersão; é preciso admitir que o Destino controla em parte nossas ações, e às vezes sonho que estou nos prados trágicos de Warcraft, construindo uma pocilga e grunhindo “Dabu!”. Inútil, enfim, lutar contra as Moiras. Uns meses atrás, no entanto, reencontrei um daqueles vetustos companheiros de jogatinas e descobri que ele mantivera-se fiel ao antigo credo. Enquanto eu regredira, ele avançara: informou-me que havia passado do desktop para a realidade virtual. Mostrou-me o assombroso equipamento que instalara em um quartinho nos fundos da casa: sensores nas paredes, luvas de astronauta, um capacete com fones de ouvido e óculos acolchoados… Por algumas horas, retornei a 1994 e redescobri o prazer de desmembrar humanoides sacripantas, desta vez com a impressão de tê-los bem à minha frente, prestes a revidar meus golpes com outros igualmente danosos… Minha experiência com realidade virtual ia muito bem, até que tentei sair correndo por uma campina e mergulhar num arroio. A impressão de realismo foi tão grande que me causou náuseas; era como se o cérebro desabalasse por uma trilha sinuosa enquanto o pobre corpo se contorcia, desnorteado, entre cabos e fios; tive de arrancar o capacete, a custo recuperei o fôlego, e sentei no assoalho para não desabar. O amigo me explicou que muita gente experimentava essa estranha condição, que já conta até com um nome científico: VR sickness, ou Náusea de realidade virtual. Aparentemente, a partir de certo ponto, a mimese do real deixa de intensificar a imersão e passa a sabotá-la cruelmente, ao ponto de revirar as entranhas.
Enquanto meu leal companheiro de aventuras ia buscar um copo d’água, eu, sentado no piso, vinte e tantos anos após o primeiro joystick, remoia esta derradeira lição dos jogos eletrônicos sobre alma da literatura: não obstante o que nos diz certa tradição crítica brasileira, o excesso de realismo é uma coisa meio enjoada.
-
162Shares
José Francisco Botelho
Autor de A árvore que falava aramaico (Zouk, 2014) e Cavalos de Cronos (Zouk, 2018). Tradutor de Shakespeare para a Penguin-Companhia.