Kirk criticou tanto o entendimento de "democracia" dos neoconservadores, quanto o de "liberdade" dos libertários.
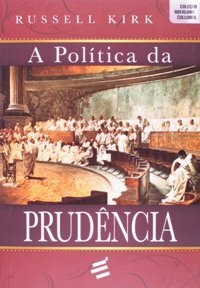
“A política da prudência”, de Russell Kirk. (É Realizações, 2013, 496 páginas)
Ano passado, a editora É Realizações publicou um dos mais importantes livros de seu catálogo: A política da prudência, de Russell Kirk. Originalmente lançado nos EUA em 1993, trata-se de uma antologia de palestras dadas ao longo de vários anos pelo autor. Os primeiros dezessete capítulos e o Epílogo foram palestras proferidas na Heritage Foundation. O décimo oitavo (e último), uma palestra ao Shavano Institute do Hillsdale College, em Michigan.
A publicação da obra de Kirk pode servir de contraste às ideias prontas de parte do movimento conservador brasileiro – ainda incipiente, é verdade, mas basicamente reativo ao mainstream político e cultural do país, inequivocamente de viés progressista e naturalizado na cultura política local. O conservadorismo esboçado por Kirk sempre foi caudatário de um sentido de lealdade, de devoção, aos princípios atemporais que ele definiu como “as coisas permanentes”. Isto é, tudo aquilo que fosse capaz de permanecer imune aos efeitos da contingência histórica e do fortuito ao longo das eras. Em outros termos, tudo aquilo que tivesse passado pelo “teste do tempo”.
Parte significativa daquilo que, no Brasil, é tomado como conservadorismo, é reação à conformação política de turno. Ao contrário de optar pelo caminho mainstream (de esquerda), opta-se pelo caminho alternativo (seja ele conservador, libertário ou o que quer que seja). Daí fica evidente que as tradições políticas não-progressistas, aqui no Brasil, têm forte apelo contracultural. Uma vez decidido a adotar o conservadorismo como ideologia política, muitos importam um léxico político e “gestos mentais” padronizados. Sob o pretexto de se combater um monismo ideológico (de esquerda), adota-se outro irrefletidamente.
A trajetória política e intelectual de Russell Kirk é extremamente interessante porque é a resposta mais bem acabada que há a esse tipo de atitude que acabo de descrever. Em inúmeros momentos, Kirk não hesitou em confrontar o seu próprio establishment ideológico. O conservadorismo kirkiano sempre foi assentado em um impulso prudencial, e é a partir deste impulso que é possível compreendermos seu ceticismo diante do complexo industrial-militar norte-americano, por exemplo, quando se opôs vigorosamente à Guerra do Vietnã (conduzida na maior parte do tempo por liberais intervencionistas, é claro, mas apoiada por inúmeros conservadores que se afinavam pelo diapasão anticomunista da Guerra Fria).
A posição de Kirk com relação a intervenções militares é excepcionalmente diversa daquilo que passa por conservadorismo nos dias de hoje – aqui e nos EUA, diga-se de passagem. A história é conhecida: ao longo de um trabalho paciente e gradual, os neoconservadores pavimentaram seu caminho a partir de think tanks, periódicos e mesmo dentro da máquina administrativa republicana em direção ao status quo conservador. Com essa estratégia, eles conseguiram tomar de assalto o establishment da direita americana e criaram uma espécie de discurso único a partir de húbris e absolutos morais. A postura agressivamente intervencionista no sistema internacional é apenas o corolário desse tipo de discurso único – incomodamente análogo ao internacionalismo liberal de inúmeros democratas, é preciso dizer.
Outra posição tipicamente neoconservadora é o apoio incondicional prestado ao estado de Israel. Curiosamente, o conservadorismo que emerge no Brasil há alguns anos é fruto da emulação dessa dinâmica política e intelectual tipicamente norte-americana. A leitura de A política da prudência nos fornece algumas defesas argumentativas contra esse tipo de cacoete intelectual. Por exemplo, é instrutivo examinar o capítulo 12 (“Os Neoconservadores: Uma Espécie em Extinção”), no qual Kirk os admoesta e os classifica como “inteligentes; raramente sábios” (p.246).
No mesmo capítulo, o autor criticou a postura neoconservadora no tocante à política externa (um “globalismo democrático irreal”, em suas palavras) e fez um comentário que lhe renderia previsivelmente a pecha de antissemita: “Não raro, tínhamos a impressão de que alguns neoconservadores eminentes confundiam Tel Aviv com a capital dos Estados Unidos”. A crítica de Kirk, no entanto, se estruturava a partir da ideia de que a parceria diplomática EUA/Israel gerava basicamente dividendos negativos para ambas as sociedades – e se convertia em bode expiatório retórico para o sem-número de países árabes hostis a Israel. Tratava-se, é evidente, de uma crítica ao que Kirk percebia como sendo uma fonte perene de instabilidade e de ameaça à ordem política (regional e global) existente.
Ainda com relação ao embate Russell Kirk X neoconservadores, outro ponto importante a ser destacado é o ceticismo político kirkiano dirigido aos sistemas ideológicos fechados. Muito embora seja possível afirmar que o próprio Kirk não esteja livre de uma cosmovisão própria, particular, é com proveito que se observa sua refutação aos sistemas de pensamento antagônicos. De novo, suas críticas aos neoconservadores e aos libertários são bem instrutivas neste sentido. Com relação aos primeiros, em especial, Kirk objetou que o argumento neocon estava frequentemente subordinado à crença de que todo o mundo ansiava pela adoção de instituições e políticas idênticas às norte-americanas.
Ao contrário da visão de conservadores de outros cortes, Kirk jamais sacralizou as instituições políticas dos EUA. Seu conservadorismo sempre fora derivativo de um sentido de História, isto é, enxergar as instituições e práticas políticas norte-americanas, fora de seu contexto histórico particular, seria um enorme equívoco analítico. Muito embora os intelectuais neoconservadores gostassem de se enxergar como herdeiros de Tocqueville (no que diz respeito ao valor dado à democracia e à arquitetura institucional norte-americana), isso nunca foi verdade. Apenas se considerássemos que a visão política/intelectual deste segmento fosse uma espécie de degeneração filosófica do argumento tocquevilleano. Tocqueville, ao contrário de parte significativa dos neocons, sempre esteve ciente, como bom discípulo de Montesquieu que foi, de que as leis e as instituições jamais poderiam ser compreendidas se apartadas de um sem-número de variáveis sociais: religião, cultura, costumes, tradição, um determinado código de moralidade, entre outras.
Um belo argumento de Kirk, e impensável na maior parte do movimento conservador norte-americano (tão tomado pela húbris e pela ideia de excepcionalismo), é a ideia de que se as instituições políticas norte-americanas “muitas vezes não funcionam muito bem mesmo dentro da própria casa” (p.251-252), é uma visão irrealista e perigosa a expectativa de exportá-las para outras sociedades. Em outras palavras, a exportação às cegas desse modelo de natureza imperfeita é uma ação ideológica de engenharia social. Ou, em outros termos, jacobinismo. O verdadeiro conservadorismo, ao contrário, deveria estar sempre pautado por um sentido de humildade e prudência.
Uma das principais questões com as quais Kirk se bate é com relação à eleição de um valor em abstrato (a democracia, no caso dos neoconservadores) e a consequente subordinação dos demais critérios de legitimidade de um governo civil a esse mesmo valor hipotético. Para ele, era mais seguro atrelar a ideia do que é um governo “legítimo” à existência de um “governo constitucional”, de uma “ordem constitucional, justiça e liberdade”, ou de “um governo representativo” ou ainda de um “governo tolerável” (p.252).
Essa percepção do que constitui uma ordem política desejável foi o que levou Kirk a afirmar que o governo da Arábia Saudita, claramente não democrático, não poderia ser considerado menos legítimo que o de Israel – em suas palavras: “um estado militar, ilegítimo porque exclui da participação cívica plena um quinto da sua população por razões étnicas e religiosas” (p.253).
O conservadorismo kirkiano se vale de um léxico político que, se não tomado com atenção, pode ser lido enganosamente como uma crítica de esquerda a certos setores da tradição política conservadora norte-americana. Por exemplo, ele classifica os intelectuais neoconservadores como aspirantes a um mundo “de uniformidade e enfadonha padronização, americanizado, industrializado, democratizado, logicalizado, maçante”. Além disso, os chama de “imperialistas culturais e econômicos”. No entanto, o substrato da crítica feita por Russell Kirk é derivativo de uma metafísica pré-moderna. Algo completamente diverso de uma leitura vinda da esquerda.
Já com relação aos libertários, Kirk os classifica como “anarquistas filosóficos em trajes burgueses” (p.230). Muito embora reconheça uma ampla zona de interseção entre seu conservadorismo tradicionalista e certo libertarianismo (a aversão ao militarismo intervencionista norte-americano e à centralização política, por exemplo), ele não hesita em criticá-los enfaticamente.
Kirk situa a tradição libertária como um produto direto da filosofia radical de Thomas Paine (1737-1809) – o que é interessante, porque valida a tese de que a maior parte das disputas ideológicas ocorridas nos EUA, desde a independência, são um produto dos inúmeros embates ocorridos entre Edmund Burke (1729-1797) e Thomas Paine. Kirk igualmente considera a filosofia libertária a recepção norte-americana de uma herança política britânica radical do século XVII: a dos diggers (escavadores) e a dos levelers (niveladores) – enquanto o primeiro grupo se constituía de trabalhadores rurais sem posses que buscavam a construção de uma nova ordem política cristã, anticlerical, socialista e agrária (em detrimento da antiga ordem feudal), o segundo grupo era formado por indivíduos preocupados com a questão da igualdade política (p.397).

-Russell Kirk-
Da mesma forma que Kirk refuta o entendimento “abstrato” que os neoconservadores possuem da ideia de “democracia”, crítica análoga ele dirige ao que lê como o entendimento “abstrato” e não-histórico que os libertários têm da ideia de “liberdade”. Para ele, a ideia libertária de liberdade “nunca existiu em civilização alguma – nem em qualquer povo bárbaro ou selvagem” (p.230).
Mais que isso, a crítica feita por Kirk era, ao fim e ao cabo, de ordem prática. Em outras palavras, em uma chave analítica tocquevilleana, Russell Kirk argumenta que a principal razão do sucesso do sistema comercial e industrial norte-americano era o trabalho em conjunto, o elevado grau de cooperação entre os indivíduos e leis sancionadas pelo Estado com o papel de restringir “apetites” e “paixões” (idem). Ademais, Kirk recorda que sem as sucessivas proteções concedidas pelo Estado, a indústria e o comércio dos EUA “não seriam capazes de sobreviver um só ano” (p.231).
Para Kirk, o êxito econômico norte-americano era um produto de uma visão de mundo conservadora muito afinada com a leitura que Alexander Hamilton tinha de “propriedade” e “produção”. Ao Estado caberia o papel de indutor da cadeia produtiva. O livre-mercado não poderia jamais ser considerado um fim em si mesmo. Sob si, deveriam estar subjacentes “hábitos morais, costumes e convicções sociais, muita experiência histórica e um entendimento político escorado no senso comum” (idem). A este tipo de liberdade hamiltoniana, conservadora per se, Kirk contrastava o tipo de liberdade defendida pelos libertários – para ele, uma liberdade derivada do argumento rousseauniano (sobretudo no que diz respeito ao seu conceito de “natureza humana”). Quando Russell Kirk se referia a Rousseau para fazer menção à paternidade das ideias libertárias, ele criava um paralelismo oblíquo entre o libertarianismo e a inflexão jacobina presente na Revolução Francesa.
Embora Kirk faça algumas críticas acertadas aos libertários (sobretudo ao destacar a ausência de um senso histórico refinado por parte desta tradição de pensamento), muitas vezes recorre à caricatura e ao preconceito vulgar. Por exemplo, segundo ele há uma relação diretamente proporcional entre moral privada e liberdade pública. Não é por outro motivo que ele se apressa a usar como intercambiáveis os termos libertário/libertino e liberdade/licenciosidade. Para alguém com uma capacidade retórica tão sofisticada, ainda que frequentemente afetada e pomposa, Kirk soa como alguém que, ao falar sobre os libertários, se vale de flagrante má-fé – o que só é agravado pela oposição entre o conteúdo e o título do capítulo: “Uma Avaliação Imparcial dos Libertários”.
Daí se segue o apelo a um argumento do tipo slippery slope da pior espécie: a ideia de que “a desordem moral” dos assuntos privados (a tal licenciosidade dos libertários) levaria a sociedade a um estado de semelhante desordem – um recurso retórico grosseiro, sobretudo para alguém como Kirk (p.232). Como ilustração de seus argumentos, ele cita um antigo artigo publicado na revista conservadora National Review, de autoria do psicólogo e sociólogo Dr. Ernest van den Haag (1914-2002), um notório racista. Segundo este, haveria uma proporção particularmente acentuada de homossexuais nas hostes libertárias. Para Kirk, esses indivíduos exigiam, na política e na vida privada, “algo que a natureza não comporta” (idem). Segundo sua leitura, o libertário típico era, em resumo, “intolerante, farisaico, mal instruído e enfadonho” (p.234).
Para Kirk, a emancipação da religião do Estado, um processo gradativo e contínuo, geraria fatalmente consequências desastrosas e imprevistas ao longo da história. A licenciosidade e materialismo dos libertários seriam sintomas de um mesmo mal, portanto. A partir dessa leitura, Russell Kirk enumera seis críticas principais à tradição libertária.
Em primeiro lugar, ele acreditava, de modo similar a Eric Voegelin (1901-1984), que a principal linha divisória da política moderna não separava totalitários de liberais. A divisão se dava, na verdade, entre aqueles que, de um lado, acreditavam em uma ordem moral transcendente e aqueles que, do outro, nutriam crenças materialistas e que, portanto, se opunham ao primeiro grupo. Ou seja, a principal oposição para Kirk se dava entre transcendência e imanência. De acordo com esta régua, libertários seriam nada menos que meros utilitaristas – ou nos termos de Kirk: “fiéis convertidos ao materialismo dialético de Karl Marx” (p.236).
Em segundo lugar, de acordo com o argumento kirkiano, a liberdade deveria ter sempre um valor relativo, e nunca absoluto. Os libertários interpretavam da forma inversa, é claro. Para Russell Kirk, a liberdade, mais uma vez, não poderia nunca ser lida na chave libertária – isto é, como um valor “abstrato”. Sua validade deveria estar sempre subordinada à da “ordem” (social/constitucional). Esta sim “a primeira necessidade” (idem).
Em terceiro lugar, outro ponto de divergência entre conservadores e libertários diz respeito àquilo que mantém a sociedade civil coesa. Enquanto os primeiros lançam mão da velha leitura burkeana de que a sociedade é um arranjo entre “os mortos, os vivos e aqueles que estão por vir”, libertários advogam que o autointeresse e a ausência de coerção externa são elementos suficientes para que os indivíduos sejam capazes de conviver harmonicamente em sociedade.
Em quarto lugar, Kirk compara libertários a anarquistas e marxistas – todas as três tradições sustentam a crença de que há uma natureza humana “boa e benevolente, embora danificada por certas instituições sociais” (p.237). Os conservadores, ao contrário, afirmam que há uma natureza humana pecaminosa e degenerada, fruto da doutrina teológica do pecado original. O que Kirk afirma, portanto, é que o “individualismo” libertário é uma utopia, “um caminho ilusório” (idem).
Em quinto lugar, Kirk argumentava que ao Estado caberia sempre o papel importante de servir às necessidades humanas. Não haveria civilização, tal qual a conhecemos, se não fosse por sua constante presença e ação. No entanto, para os libertários o Estado seria sempre a fonte irredutível de opressão, ineficiência e corrupção. Duas visões irreconciliáveis e antagônicas, portanto.
Em sexto e último lugar, Russell Kirk ataca o “desrespeito” libertário aos “costumes e às crenças antigas”. Recorrendo a uma retórica propositadamente vaga, estabelece o que deve constituir o contra-argumento conservador: uma atitude pautada por um sentido de “mistério” e “maravilhamento” (p.238).
Em resumo, Kirk argumenta que a tradição libertária, “se entendida adequadamente, está tão distante dos verdadeiros conservadores norte-americanos quanto o comunismo” (p.239). Mais uma vez, a oposição feita por Kirk, no fim das contas, era entre transcendência (conservadorismo) e imanência (libertarianismo). Seu conservadorismo se estruturava a partir de uma crítica às “ideologias”, de uma forma geral. Se entendemos que a definição que ele adotava de “ideologia” era a de Eric Voegelin (1901-1985) e Gerhart Niemeyer (1907-1997), compreendemos que o modus operandi de um socialista, de um comunista ou de um libertário pouco diferia. Aos olhos de Kirk, todos eles “imanentizam os símbolos de transcendência” (p.95).
A edição de A política da prudência da É Realizações é excelente. A tradução de Márcia Xavier de Brito é impecável e foi capaz de manter com aguda fidelidade o estilo literário de Russell Kirk, com todos os seus arcaísmos e particularidades. As notas explicativas, feitas por Alex Catharino e Márcia Xavier de Brito, também são muito informativas. A edição igualmente contou com a participação de Rodrigo Farias de Sousa na preparação do texto, um dos principais acadêmicos brasileiros a estudar a direita norte-americana.
Com todas as reservas que tenho aos argumentos kirkianos, sobretudo o recorrente recurso ao poético e ao intuitivo como espécie de Deus ex machina retórico, é inegável que A política da prudência é uma obra admirável sob muitos aspectos – não só para aqueles que querem compreender a dinâmica do conservadorismo norte-americano, mas igualmente para aqueles que querem conhecer alternativas para o próprio conservadorismo brasileiro.

