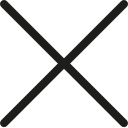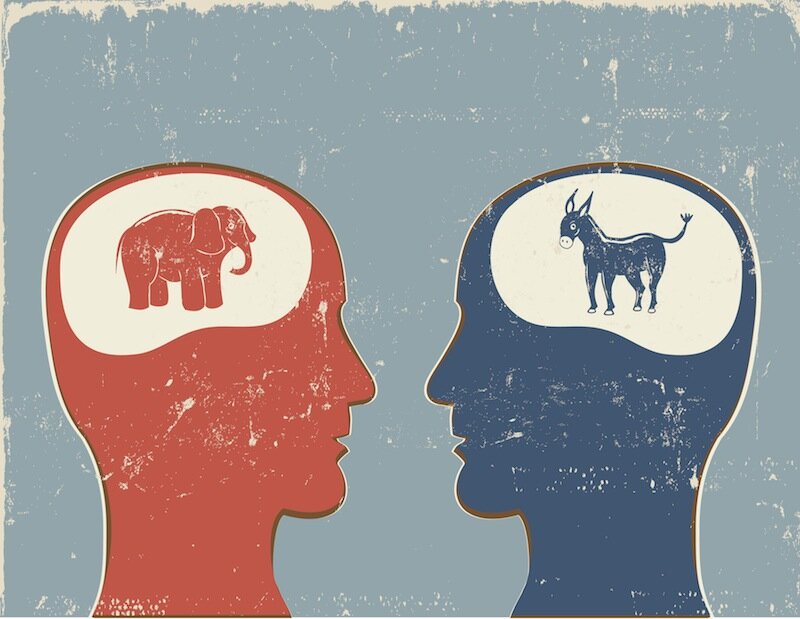Mesmo o afastamento das práticas criminosas de uma organização não implica a ruptura radical com o etos dessas organizações.
Fernandinho Beira-Mar
A pergunta é antiga, mas ainda hoje suscita reflexão. Ora, se estamos tratando de um grupo social em que o desrespeito à ordem e a quebra das leis faz parte do cotidiano de suas atividades, como pode existir entre os criminosos algum tipo de relação normativa, sobretudo quando pautada em um ideal tão rígido e significativo quanto o de honra?
Há alguns meses atrás foi exibida pelo SBT uma entrevista realizada pelo jornalista Roberto Cabrini com o famoso traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar. A despeito da narrativa montada em torno do personagem pelo apresentador do programa, entre as falas de Beira-Mar é possível perceber um pouco do ideal normativo que permeia a imaginação moral criminosa.
Ainda nos primeiros minutos do programa, o presidiário revela sua admiração por um criminoso que, aparentemente, tornou-se o padrinho dele no tráfico de drogas. “O que me atraía nele é o que me atrai em qualquer ser humano: é o cara ser verdadeiro, é o cara ser justo nas decisões dele, é o cara ter palavra”. Tomando essa postura como exemplo, Beira-Mar retorna aos mesmos valores em diversos momentos da entrevista. O respeito à palavra dita, a justiça nas decisões, a sinceridade, são todos destacados em detrimento da traição entre bandidos.
O termo “honra” não é especificamente utilizado em nenhum momento da entrevista. Contudo, a postura pública valorizada pelo traficante preso, que além de nutrir respeito pelos próprios inimigos, ainda afirma admirar os policiais honestos que rejeitam propina, é erguida em torno daquilo que ele chama de “código de ética do crime”. Em seu contexto particular, esse código opera em função de valores que até se assemelham aos socialmente desejados para a manutenção da ordem entre os não criminosos.
É fato evidente que todas as formas de organização social possuem regras de conduta, e as organizações criminosas não estão imunes a essa necessidade. Além disso, todas essas sociedades sancionam as suas regras de conduta, recompensando os que lhes obedecem e punindo os que delas se afastam. A honra e a vergonha, nesse sentido, são valorizações sociais e partilham, portanto, da natureza de sanções sociais, sendo uma espécie de reflexão da personalidade social no espelho dos ideais sociais. Nesse sentido, a honra consiste em um ideal o qual se persegue com o intuito de afirmação social e inserção em círculos de relações exclusivas.
Como ideal, a honra é algo antigo e nos remete à épica clássica, quando, na Ilíada de Homero, se faz verificar o dilema de Aquiles entre a existência obscura e longa e a vida breve e adornada com glórias e honrarias. Qual vale mais a pena? Como sabemos, Aquiles escolheu pela segunda opção. Já no plano social, esse mesmo ideal compõe o cerne das relações de cavalaria na Idade Média, mas também se faz presente em instituições militares, na marinha mercante e entre aristocratas e nobres das mais diversas culturas nacionais.
Na literatura esse ideal vai assumir várias facetas ao longo do tempo, e pode ser notado em diversas obras além da Ilíada, como a Chanson de Roland, dando ensejo também a nomes como Calderón de la Barca, Cervantes, Shakespeare, Stendhal, Joseph Conrad e William Faulkner. Cada um ao seu modo, esses autores souberam desenvolver uma tradição literária que trocou a simples e ingênua exaltação das glorias dos feitos de honráveis heróis capazes de superar dificuldades e encerrar suas trajetórias em finais felizes pelo destaque das dualidades e antagonismos em torno do ideal de honra, as consequências práticas da aderência estrita ao ideal e principalmente os conflitos resultantes da divisão entre sua perspectiva pública e privada. Esses são problemas que não se restringem aos heróis, pois também afetam os bandidos em suas relações organizacionais.
De um ponto de vista prático, a honra requer não apenas que alguém se mantenha fiel aos princípios defendidos por algum indivíduo ou grupo, defendendo-os a despeito de quaisquer querelas, mas também determina, em grande medida, o tipo de princípios, seus conteúdos e sentidos, aos quais deve-se aderir. O que há de mais expressivo no conceito de honra é o fato de ele se projetar tanto na esfera objetiva quanto na esfera subjetiva, de modo que a construção da honra envolve uma faceta pública (a reputação do sujeito honrado) e uma outra privada (a consciência desse mesmo sujeito).
Assim, por exemplo, ao falar de seu envolvimento no assassinato do traficante Ernaldo Medeiros, o Uê, fundador de uma organização criminosa dissidente do Comando Vermelho, Beira-Mar invoca todos os seus predicativos de honra publicamente reconhecidos: “Os próprios presos me respeitam, mas não é pelo poder que você [o entrevistador] diz que eu tenho. É pela minha postura, pelo meu jeito de ser dentro da cadeia, respeitar o próximo, ser verdadeiro, o cara ter minha palavra, chegar para mim e eu dar minha palavra, e ele saber que eu vou cumprir”.
Nesse sentido, a honra consiste em, por um lado, recompensas e reconhecimento pela trajetória de vida, e por outro, a consciência e a dignidade de conquistas realizadas. Ou ainda, a honra imprime marcas internas e externas em um indivíduo, ela é compartilhada publicamente e modelada internamente, como um sentimento moral de valor inerente. Como sentimento moral, possui a função social de sedimentar relações de confiança, essenciais para organizações sociais que não operam sob a égide do poder do Estado, como é o caso da máfia e de inúmeras formas menores de ilegalidade típicas das sociedades modernas.
Embora seja primordial na definição da honra, o reconhecimento público acaba se tornando aspecto secundário em relação à dinâmica da imaginação moral. Assim, repetido sob diversas circunstâncias na literatura e no cotidiano, o dilema entre uma vida pacata e segura e uma existência publicamente reconhecida se torna a fórmula de um paradoxo que anima a necessidade de dar sentido subjetivo à vida a partir das ações individuais, de modo que a trajetória de um herói ou de um vilão deva construída como se sua existência não possuísse, a princípio, valor algum. A conquista da honra seria, portanto, também a conquista da dignidade humana, o que faz da honra um valor intrinsecamente secular.
Como ideal, a honra não se origina ou se mantem existindo de modo isolado. Ao contrário, ela é parte central de um sistema de vida, de um etos, dentro do qual é matéria de orgulho ser julgado a partir de padrões morais difundidos dentro daquela comunidade. Desse modo, honra, e mesmo seu antônimo, a vergonha, são preocupações constantes de indivíduos em sociedades pequenas e fechadas onde as relações pessoais face-a-face por oposição a relações anônimas, são de extrema importância e em que a personalidade social do ator é tão significante como o papel que tem a desempenhar.
As organizações criminosas mais tradicionais, como a máfia italiana, se nutrem desse conjunto de sentidos. As organizações brasileiras para tráfico de drogas e armas também, de modo que para um criminoso que faz parte delas – como no caso de Beira-Mar, que foi líder do Comando Vermelho – a reputação é componente essencial da honra, o que torna a opinião de um igual sobre o outro algo de máxima importância. E o que distingue essa reverência à opinião publicamente difundida do puro oportunismo está no fato de que tanto o indivíduo (o criminoso) quanto a comunidade da qual ele participa (a organização criminosa) compartilham e aderem a valores idênticos e nenhum deles estabelece regras orientadas pela sua própria vontade. Este é, portanto, um sistema de vida equilibrado em torno da adesão a uma espécie de árbitro comum estabelecido pela totalidade do corpo social, e não por algum tipo de indivíduo cuja função é a de legislador.
O que é específico dessas valorizações é serem usadas como padrão de medida do tipo de personalidade considerado representativo e exemplar de uma dada sociedade. Quem satisfizer esses padrões pode, sem cair em desgraça, quebrar outras regras consideradas menores que as de honra. Há, assim, situações em que um homem pode destruir a propriedade, a vida e até a honra de outro homem, sem perder a sua. Isso ocorria, por exemplo, quando do envolvimento de dois nobres em um duelo. Entre as organizações criminosas o próprio caso de Beira-Mar é exemplar, uma vez que a ele foi permitido, por diversas vezes, executar deliberadamente dissidentes de sua organização criminosa.
O oposto também é verdadeiro. A honra é o vértice da pirâmide de valores sociais temporais e condiciona a sua disposição hierárquica. Ignorando outras classificações sociais, divide os seres humanos em duas categorias fundamentais: os que possuem honra e os que não a possuem.
E como se perde a honra?
Diversos tipos de ação podem incorrer na perda da honra. A afronta, física ou moral, é bastante comum. Qualquer forma de afronta física implica uma afronta à honra uma vez que há a profanação pública de uma pessoa. Além disso a importância da presença pessoal é altamente relevante em matéria de honra. Aquilo que é uma afronta dito na cara pode não desonrar dito pelas costas. Nesses casos, a ofensa à honra pode ser redimida por meio da submissão, da humilhação de si mesmo e de um pedido público de desculpas.
Outra forma de desonra tem sido bastante explorada pela Justiça brasileira para desmantelar organizações criminosas, desde a aprovação da Lei 12.850/2013. Cagueta, xis nove, dedo duro, o jargão criminoso é vasto para denominar o mesmo tipo de desonrado: o delator. Essa ofensa aos códigos de conduta do crime é a mais grave e conta com suas sanções previstas em todas as formas de organização criminosa, sendo a Omertà a mais famosa delas. Aqui a presença é indiferente, de modo que não existe desculpa ou humilhação exigidas que podem significar a retratação. Esta é, portanto, forma mais radical de se afastar do fechado sistema de funcionamento das organizações criminosas.
O depoimento de Beira-Mar é exemplar nesse sentido. Já ao final da entrevista, quando comenta sobre seu desejo de deixar o tráfico, ele afirma que para se distanciar da organização, o traficante deve sair “de cabeça erguida”, ou seja, com sua honra preservada. Para ele, é lenda o fato de que, uma vez envolvidas, as pessoas não conseguem sair do universo de relações do tráfico de drogas. O que não as deixa sair, na verdade, são os vínculos e negócios não resolvidos com as organizações criminosas.
Tem que largar bonito […]. Largar sem ter feito safadeza com os outros. Largar sem dever dívida. Largar sem ter feito sacanagem. Aí é bonito. Agora, o cara largar fazendo uma porrada de sacanagem, caguetar os outros e se esconder debaixo de asa de hipócrita bam-bam-bam. E vai pra evento com o secretário de segurança pública […]. Ele chegou ali e largou o crime, não porque deixou o crime de cabeça erguida, mas porque não tinha espaço mais no crime. Se ele fosse continuar no crime, ele iria morrer.
É fato, portanto, que mesmo o afastamento das práticas criminosas de uma organização não implica a ruptura radical com o etos dessas organizações. Seus códigos devem ser respeitados, seus valores estimados, de modo que os vínculos sociais construídos em torno da honra jamais se transfigurem em motivos para vergonha, mesmo quando não há mais o interesse na obtenção das vantagens econômicas oriundas da prática criminosa.
Por fim, é importante destacar que este contexto é particular e aparentemente, no Brasil, está associado às organizações para o tráfico. Fernandinho Beira-Mar já está há mais de 15 anos preso, e tudo leva a crer que não irá colaborar com a justiça em nenhum momento, mesmo diante das vantagens que a Lei pode lhe oferecer neste caso. Essa não parece ser, contudo, a opção de participantes de outras organizações criminosas como aqueles envolvidas nos recentes casos de corrupção investigados pela Operação Lava-Jato. Com raras exceções – como o caso de José Dirceu e alguns outros criminosos mais organicamente relacionados aos valores ideológicos que deram origem ao Partido dos Trabalhadores – o que temos observado é uma corrida de bandidos desonrados para colaborar com a Justiça.
E aqui, um fato chama a atenção. Como já foi dito, a honra sobrevive em ambientes sociais tradicionais, afinal trata-se de um ideal conservador que implica o reconhecimento e a legitimidade de uma hierarquia social definida com clareza, e que não se desfaz com facilidade pois encontra em seus modelos públicos de referência um escudo contra a fragmentação social. Honra que se sente é honra que se reivindica e honra reivindicada transforma-se em honra recebida. Mas as coisas não são tão claras em sociedades cuja estrutura organizacional e a rede de inter-relações se torna mais ampla, de modo que os valores circulam mais fluidamente e é difícil obter um consenso geral uniforme. Entre os aspectos que elevam a complexidade social, a circulação de riquezas é de suma importância, e como o velho Émile Durkheim já havia notado, o aumento da densidade material precisa ser acompanhado pelo incremento da densidade moral de uma sociedade.
Quando isso não ocorre, os valores e ideais que orientam a conduta de um indivíduo não são os mesmos para as demais partes de um mesmo grupo social. Assim, quando a estrutura de uma organização criminosa ganha em complexidade, suas operações passam obrigatoriamente a ser realizadas por colaboradores que não gozam da mesma imaginação moral de seus líderes fundadores. Recorrendo a rufiões, a aristocracia do crime coloca em risco não apenas seus valores, mas toda a estrutura de operações da qual depende. Se os líderes reivindicam o seu direito à honra pela via da precedência, ou seja, pela tradição que os faz chefes ou guias da sociedade, “árbitros” e não “arbitrados” e portanto autores de suas próprias leis, para o baixo-clero da criminalidade, acostumado à vida “fora da lei”, sem precedência de honra e incapazes de compreender tal ideal como virtude a ser cultivada, as aspirações individuais serão sempre superiores à manutenção do sistema organizacional. Nas organizações criminosas, assim como em qualquer forma articulada de sociedade, quando a imaginação moral perde força, a estrutura da sociedade se esvazia.
Glauber Lemos
Editor do site Proveitos Desonestos. Jornalista e sociólogo, é doutorando em sociologia pelo Instituo de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.