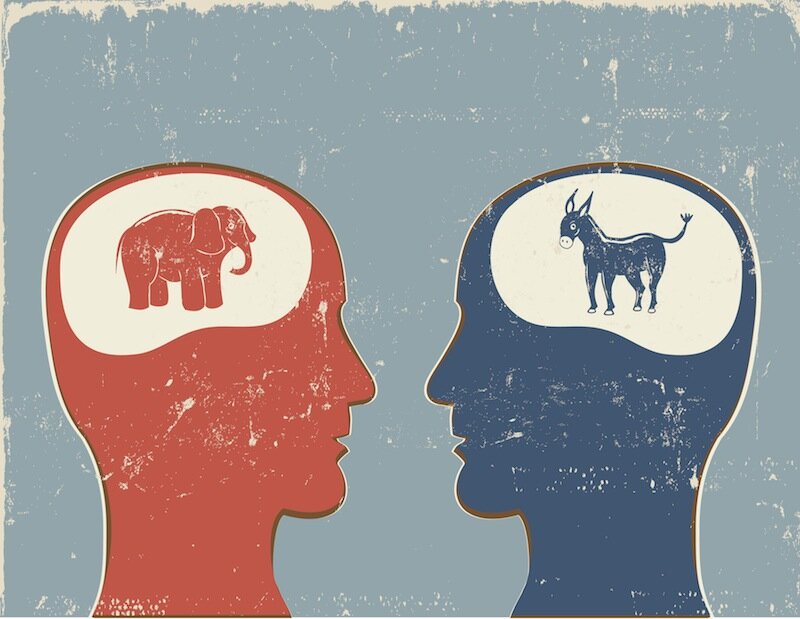A revolta de Prometeu contra o sagrado está intimamente relacionada ao espírito materialista, ou àquela temporalidade que torna o homem o centro de todas as coisas.

“Prometeu leva o fogo à humanidade” (Heinrich Füger, 1817)
“Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? (…) Deus está morto! Deus continua morto! E nós o matamos! Como nos consolar, a nós assassinos entre os assassinos? O mais forte e mais sagrado que o mundo até então possuíra sangrou inteiro sob os nossos punhais – quem nos limpará este sangue? (…) Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos de inventar? (…) Não deveríamos nós mesmo nos tornar deuses, para ao menos parecer dignos dele? Nunca houve um ato maior – e quem vier depois de nós pertencerá, por causa desse ato, a uma história mais elevada que toda a história até então.”
Nietzsche, Gaia Ciência, §125
Este ensaio faz parte de uma série sobre uma perspectiva escatológica da história humana. No primeiro e segundo texto, mostrei que:
a) a fundação da cultura vem do sagrado, logo, não há cultura sem religião;
b) o triunfo da Cruz não permite mais a ocultação dos mecanismos expiatórios e isto desintegra as proteções sacrificais. Assim, a ordem que provém do cristianismo mundializa sua cultura;
c) as instituições do mundo moderno estão diretamente relacionadas à abolição do sacrifício e a preocupação com as vítimas; no entanto, o mundo moderno não é bom, nem ruim, mas um tempo que nos é propiciado com perdas e ganhos, onde o bem e o mal vão se tornando mais intensos;
d) ao mesmo tempo em que presenciamos o triunfo da cultura cristã, assistimos a isto também enquanto má imitação. Por exemplo, a descoberta do indivíduo e sua liberdade de escolher Cristo ou Satanás como modelo se transforma em idolatria do indivíduo e do seu arbítrio (individualismo); a preocupação com as vítimas se transforma numa máquina supervitimológica, pois a vítima foi dada o poder para vitimar de novo e melhor;
e) essa má imitação é o que podemos definir como o tempo do Anticristo: uma má imitação de Cristo que rivaliza com Ele – por delírio de onipotência – enquanto mediação interna. Só dentro da cultura cristã, foi possível a insurgência dessa má imitação, com o humanismo que separa fé e razão, o laicismo, o ateísmo, uma ética formal que transforma o sujeito em transcendental;
f) essa mesma má imitação é uma nova “religião”, que não pode abdicar do cristianismo, mas que se utiliza dele para ser seu rival e negá-lo. Essa “religião” é a antirreligião por excelência, pois utiliza do desvelamento dos mecanismos expiatórios contra o sagrado, tenta imitar Cristo contra Ele mesmo. Uma religião secular, laicista, neopagã, que proclama a independência dos homens diante de Deus;
g) a base dessa nova (anti)religião é a transformação da liberdade enquanto livre-arbítrio concedido por Deus numa concessão política que promete a utopia da liberdade ao imanentizar a escatologia cristã (as ideologias). Essa (anti)religião é o substrato da ordem liberal e torna-se mais evidente no mundo hipermoderno a partir de 1968 com a transformação das elites;
h) essa má imitação transforma a liberdade num Deus de duplo sentido, trazendo-nos a tirania enquanto duplo. A nova (anti)religião dos homens que negam Deus criou a pior das tiranias (o poder integrado) em nome da liberdade.
No segundo ensaio, tratei dessa má imitação a partir de aspectos mais políticos e da temporalidade (a ideia que nós temos do tempo histórico). Analisei a relação entre a imanentização da escatologia cristã e a ascensão da ideia de liberdade como concessão política, tirando-lhe os atributos transcendentais. Neste ensaio de agora, o terceiro, vou tratar dessa nova religião secular noutro aspecto. Afinal, por que a humanidade está escolhendo negar Deus? O que é o mal? O que é o pecado? O que são essas duas coisas nos dramas humanos no tempo? O que é negar Deus? E por que essa negação, que não passa de rivalidade com o Criador, leva a uma violência descontrolada e terminativa?
* * *
Há um mito que herdamos dos gregos antigos que alegoriza a fundação do humano e o seu trágico destino, mas também oculta a sua violência. Conta-se que Epimeteu recebeu dos deuses a tarefa de criar os animais. A cada animal, ele atribuiu um tipo de qualidade ideal (velocidade, força, etc.). Ao fazer os homens, já não lhe sobravam qualquer tipo de habilidade em específico. Então, o seu irmão Prometeu roubou o fogo dos deuses para animar os homens. É a centelha divina que os distingue dos outros animais.
Sabendo que, por esta centelha, o homem poderia se tornar arrogante diante dos deuses, estes resolveram castigar Prometeu, acorrentando-lhe no cume do monte Cáucaso, onde uma águia iria dilacerar seu fígado. Durante a noite, ele se reconstituiria para ser flagelado novamente no dia seguinte. A Epimeteu lhe foi oferecido Pandora (a que tem todos os dons), a primeira das mulheres. Dotada de imensa curiosidade, os deuses sabiam que Pandora abriria o vaso (“a caixa de pandora”) que libertaria todos os males, condenando a humanidade em seu destino.
A narrativa do mito de Prometeu e Epitemeteu (como dos demais mitos) mostra o sagrado como um duplo: ao mesmo tempo em que os deuses são violentos e transgressores, garantem também a ordem do cosmos. Eles se vingam de Prometeu por este ter dado ao homem a centelha divina que seria também a sua desgraça. Estes deuses arcaicos representam a “auto-expulsão” de Satanás descrita por Girard no mecanismo expiatório. Mas, há algo nessa alegoria sobre a fundação do humano que se encontra oculto. E essa ocultação reside no caráter satanizado da divindade, portadora da violência e da ordem, responsável pelo destino trágico do homem. Por isto, a responsabilidade não recai sobre os homens, mas sobre esse duplo caráter satanizado da divindade pagã. Ela é a responsável pelo cosmos e ela é a responsável pelo destino trágico do humano, pois não há no paganismo espaço para o livre-arbítrio. Essa concepção só será vislumbrada com toda sua força a partir da Cruz de Cristo.
No entanto, esse ocultamento, que é central nos mitos, pode nos oferecer uma intuição para as ilusões prometeicas que a humanidade está escolhendo. Uma boa trilha para isto encontramos em Hesíodo.
Hesíodo foi um poeta grego, que viveu entre o período homérico e arcaico, obcecado pelo homem e seu destino trágico e grandioso. Sua obra foi quase que uma prefiguração humanista explicada no cosmos. O mito de Prometeu aparece pela primeira vez em Teogonia. Neste livro, Prometeu aparece com um desafiante da onipotência de Zeus, que sendo enganado retirou o fogo dos homens. Agindo de maneira pretensamente heroica, Prometeu roubou-lhe o fogo e o devolveu aos homens, sendo castigado por este ato transgressor. Prometeu é o herói que desafia a falsa transcendência dos deuses arcaicos para celebrar o humano.
Em outro livro, Os Trabalhos e os Dias, Hesíodo voltou a este mito. Ele nos conta que, anos depois, o herói Hércules abateu a águia e libertou Prometeu e a humanidade de seus grilhões, substituindo-o por Quíron. Hesíodo confere ao mito de Prometeu, acima de tudo, uma esperança de triunfo dos homens perante o sagrado arcaico.
Não surpreende que, na modernidade, os utópicos resgataram o mito de Prometeu. Prometeu significa etimologicamente “aquele que é previdente”. Ele seria a antecipação alegórica das glórias humanas, dos descobrimentos, da criação esplêndida da civilização na luta contra a barbárie, das conquistas de outros continentes e mundialização do domínio humanista. Antes, em Ésquilo, Prometeu já era encarado como aquele que possuía o conhecimento para derrotar os deuses, tornando os homens independentes. Conhecimento, técnica, ciência, e utopia se tornariam independentes do sagrado, deixando de ser uma dádiva divina que os homens vão descobrindo em si para se tornar sua própria vangloria. A libertação de Prometeu significa a libertação dessa potencialidade destrutiva do humano em se revoltar contra o sagrado (no mundo cristão, não mais satanizado) e iludir os homens a respeito de suas capacidades. Prometeu desacorrentado é o delírio de onipotência e suas consequências trágicas.
A essência dessa revolta reside na rivalidade dos homens ao se sentirem autoconscientes e produtores únicos de sua vida (ao dominarem a fortuna) contra o sagrado. Entre os marxistas, há duas interpretações sobre o significado de Prometeu. Ele representa o sentido dialético materialista da técnica (ou, numa linguagem marxista, o desenvolvimento das forças produtivas) ou o símbolo da revolução contra a injustiça dos poderes onipotentes? Nas duas perspectivas, Prometeu significa a conquista da liberdade humana perante os céus. A resposta humanista contra a tirania da ordem divina, contra as leis arbitrárias, ou contra o poder constituído que asseguram as relações de produção. Ellen Wood e Bellamy Forster associam Prometeu com a democracia e o papel do orador, representantes da filosofia prática e material que surge da dádiva do trabalho.
A importância desse ponto levantado é destacar a relação do mito com a modernidade política. A revolta de Prometeu contra o sagrado está intimamente relacionada ao espírito materialista, ou àquela temporalidade que torna o homem o centro de todas as coisas.
Essa observação também foi feita por Eric Voegelin. No segundo volume de Ordem e História, intitulado O Mundo da Pólis, ele destaca que Prometeu não é apenas uma revolta do homem contra Deus, mas condensa o espírito do sophistes. Prometeu representa a ambivalência de uma força divino-demoníaca que transmite o conhecimento, cria a ciência e desenvolve a técnica. Todas essas descobertas oferecem muitas coisas boas e seguras aos homens. No entanto, oferecem também um grande perigo: a tentação de se achar criador da realidade e de lutar contra o sagrado, negar Deus por causa da vaidade.
A ambivalência do mito prometeico se traduz ainda como uma artimanha originária que não consegue fugir da punição. Essa incapacidade é conceituada por Voegelin como “autossatisfação escancarada”. Esse sentimento de vangloria é o que produz a desobediência e o ódio aos deuses. O orgulho da inventividade é o outro lado dos benefícios do desenvolvimento técnico. Esse orgulho se volta contra Deus e contra a centelha divina que cria a essência humana. Voltando-se contra Deus e, assim, também contra sua criação, ou seja, contra si próprio, o homem está negando, na verdade, essa centelha.
Por isto, a negação de Deus significa o desacorrentamento de Prometeu, que, por sua vez, significa uma violência sem amarras, ou seja, a incomunicabilidade, a irracionalidade em seu nível mais desagregador e universal. A negação de Deus leva a destruição do mundo por este orgulho de si mesmo, da inventividade, a vaidade de ser suficiente de si. Voegelin adverte que o único remédio é o autodomínio. Sem isto, o sonho prometeico desce ao reino sombrio de Hades. Prometeu ama os homens e não a Deus, mas os homens não podem ser homens sem Deus e, deste jeito, ele se destrói.
A autossuficiência do homem, a partir do que ele descobre e modifica no mundo material, ocasiona uma nova percepção de tempo que, em primeiro lugar, se confronta com o tempo circular dos antigos e, depois, enquanto inimigo do sagrado, retorna contra a escatologia cristã. A autossatisfação de Prometeu representa o espírito materialista, o sentido do tempo que toma o homem como autor do seu destino, criador do seu futuro, independente e autônomo. Assim, Prometeu liberto são todas as ideologias.
Descobrindo o mundo material, avançando na técnica e na ciência, mudando a paisagem, o homem se sente dominador do futuro esplendoroso que lhe aguarda. Ele não se enxerga mais como limitado, vivendo no entremeio, mas como um ser independente do sagrado, que dele não precisa mais. Com isto, mata-se a si próprio e não a Deus. A consequência deste materialismo é o delírio de onipotência. Delírio em que o homem imita Deus enquanto Cristo, enquanto se julga senhor e criador das coisas e, por isto, determina a plasticidade de tudo aquilo que existe. Plasticidade que se adapta aos seus desejos, claro. Para compreender a ação desse sonho prometeico no tempo precisamos entender primeiro o que é o mal.
O que é o mal? O que é o pecado?
É comum ver dois tipos de questionamentos a respeito do mal nos nossos dias: como alguém poderia ter certeza daquilo que é o bem e daquilo que é o mal? E se há um Deus por qual razão permite o mal? No primeiro, temos o relativismo, que nega qualquer ordem na realidade e possui o materialismo como temporalidade; no segundo, a negação da responsabilidade humana, das suas escolhas, e da sua essência. Assim como nos mitos, essa negação funciona como uma ocultação. Essas duas perguntas são essenciais para entendermos o que é o mal, o que é o pecado original, o que é o pecado e qual a relação disso tudo com a história da humanidade no tempo.
Para respondê-las, o diálogo O Sofista de Platão é uma boa partida. A grande descoberta desse diálogo é mostrar que o não-ser pode ser também a alteridade do ser e não só seu contrário. Platão está olhando, sobretudo, para o falso e para a negação. Ele considerava os antigos sofistas como produtores do falso, pois estavam preocupados apenas com a persuasão, a argumentação e a retórica, já que não acreditavam na verdade. Os sofistas produziam simulacros e incentivavam um homem escravo da aparência. Contra isto, Sócrates – através do método dialético – paria a verdade no diálogo ao contemplá-la.
No entanto, a teoria de Parmênides afirmava que o não-ser nada é, sendo assim, seria impensável e indizível. Mas se os sofistas são mestres em discursos falsos, que negam o ser, como afirma Platão, o não-ser se torna pensável e dizível. Este paradoxo é resolvido através da ideia de negação e alteridade. O ser é, o não-ser não é, no entanto, o ser pode ser negado e essa negação é algo e participa do ser enquanto privação. Por exemplo, movimento é ausência de repouso. Movimento participa do ser enquanto não-repouso. Por sua vez, repouso é ausência de movimento, logo, o repouso participa do ser enquanto não-movimento. A negação do ser participa do ser enquanto não-ser. Desta maneira, os sofistas são negadores do ser e sua teoria é dizível e pensável porque participa do ser enquanto negação deste.
Desta maneira, Platão demonstra onde se funda a alteridade. O não-ser é o contrário do ser, mas o não-ser pode também participar do ser enquanto negação de algo. A teoria sofista é uma negação de todo ser, mostrando que o falso também pode ser dito e pensado. Sem perceber, a questão do mal e da negação de Deus também estava resolvida.
Coube a Agostinho lidar com o problema do mal e resolvê-lo através da influência platônica. Se Deus criou todas as coisas, então teria Ele também criado o mal? E como Deus só pode ser o sumo-bem, então Ele não pode ser Deus se criou o mal. Todavia, Agostinho percebeu que o mal não é uma coisa, logo, não foi criado. Deus criou todas as coisas e elas são boas, mas o mal não é uma coisa. O que é o mal, então? O mal é a privação de bem, é o termo que utilizamos para definir a ausência de bem.
Deste jeito, não há um Deus bom e um Deus mal. Não há de um lado a bondade e de outro a maldade, ambos lutando entre si. Deus é a unidade de todas as coisas e o sumo-bem. A negação do bem, o não-ser de bem (o que chamamos de mal), só pode existir dentro do ser (as formas-ideais criadas por Deus). O bem tem substância, mas o mal não. O não-ser de bem participa do ser como negação. Por isto, toda negação de Deus não se constitui noutro Deus, mas precisa dele participar para existir.
No entanto, por que Deus permite o mal? Entramos, então, na questão do livre-arbítrio. Se o mal não é uma coisa, ele não pode ser escolhido. Então, o que escolhemos? Deus é o próprio bem, então, o mal é a separação de Deus. Agir mal é escolher se afastar do bem, em diferentes graus e níveis. Esta escolha ocorre quando a nossa vontade despreza o que está acima de si e olha para baixo num mundo onde o seu interesse é o único sentido. Então, podemos escolher apenas nos privar do bem. Podemos definir todo mau mimetismo como os modelos que negam Deus, ou seja, o mimetismo do mimetismo, o mimetismo pelo mundo, afastando-se de Deus.
Se podemos escolher a privação do bem, porque Deus permite que façamos isto? Porque se Deus nos predeterminasse a amá-lo, seríamos robôs determinados que o amaria apenas por isto e, logo, não seria um amor real, pois não se ama por obrigação. Se Deus fizesse isto, não seria Deus. Assim, Ele nos deu o livre-arbítrio para amá-lo ou nos afastarmos Dele. A opção entre dois modelos. O homem possui, então, o livre-arbítrio para amar Deus de volta ou negá-lo se afastando dele. O Monsenhor de Ségur dizia que o não era o que queimava no fogo do inferno. O homem escolhe se condenar.
Esta negação está intimamente relacionada com a origem. Tudo que Deus criou é bom, mas ele também nos deu o livre-arbítrio para escolher os modelos. No entanto, a humanidade não o obedeceu e deixou entrar o pecado no mundo. Neste momento, a humanidade se separou de Deus. O pecado original é esse afastamento originário entre nós e Deus. Ele marca a essência da humanidade como incompleta, pecadora, limitada, vivendo no entremeio, neste “vale de lágrimas”. O pecado, em diferentes graus, é toda forma de apartamento de Deus (ou seja, do bem). Como uma corrente, um pecado não-arrependido vai levando a outro cada vez pior, podendo condenar nossa alma por escolher o não definitivo. O inverso disso, o meio pelo qual nos voltamos a Deus, como arrependidos e pedindo a sua misericórdia, é a religião (religare).
Então, por que Deus não elimina o mal? Porque se Deus eliminasse o mal, eliminaria também a nossa possibilidade de arrependimento e redenção e, mais uma vez, não seria o sumo-bem. A preocupação de Deus não é o sofrimento humano que, muitas vezes, nos dignifica e nos torna humildes, mas em salvar todas as almas. Sem a dor, sem as consequências do pecado, não poderíamos nos redimir e Dele ter a misericórdia.
Ainda assim, fica uma questão: se Deus permite o mal para dele extrair um bem, isto nunca terá fim? Terá. A extinção do mal está relacionada ao fim deste mundo como conhecemos. A derrota definitiva de Satanás (do modelo que nos aparta de Deus, do mau mimetismo) se dá quando ele parece triunfar (o “império da besta”). Isto ocorre se a humanidade optar por escolher a negação por causa da vaidade, da arrogância, do orgulho e de outros maus sentimentos que lhe levam a rivalizar com Deus, libertando todo potencial destrutivo da ambivalência prometeica. Ao negar Deus, nega a centelha divina que há em si, criando a incomunicabilidade, acelerando os contágios miméticos e desacorrentando uma violência sem amarras.
A onipotência do sujeito
A negação de Deus é a própria ação do mal no tempo. Explicado a relação entre negação e maldade, podemos compreender melhor a ambivalência do mito de Prometeu na história.
Como vimos na interpretação voegeliana de Prometeu, o seu mito não significa apenas a negação de Deus, mas a ambivalência da centelha divina que há no homem. Centelha que poderíamos dar o nome de razão, que nos permite contemplá-lo ou ser utilizada de maneira instrumental, através dos conhecimentos gerais, da técnica, da ciência, para operar no mundo e descobrir coisas maravilhosas como: remédios, construções, brinquedos, internet, etc. Ao mesmo tempo, essa centelha divina no homem pode criar também um sentimento de independência, que se traduz pela onipotência e pela rivalidade com Deus. É essa ambivalência da razão (centelha divina) de que trata o mito de Prometeu. E ele desacorrentado, significa o seu outro lado: a violência sem amarras que é consequência direta do delírio de grandeza que a humanidade passa a ter de si própria por suas formidáveis descobertas. É preciso, então, avaliar esse duplo da razão.
O que é a razão? No senso comum, ela está ligada a faculdade da inteligência, isto é, a capacidade de racionar, apreender e compreender um objeto. Etimologicamente, a palavre vem do latim rationem (regra, medida, etc.), derivado de ratio, que significa determinar, julgar, estabelecer. Ou seja, seria a faculdade de raciocinar, compreender, ponderar e, por fim, determinar. De origem, a razão seria a capacidade de apreender a totalidade da existência e isto abarcaria várias camadas da realidade.
No entanto, encontramos em Descartes, a compreensão da razão como inata e interior ao sujeito pensante. Ele tornou-se o pai da filosofia moderna quando afirmou que o fundamento da filosofia estava na evidência das premissas, sendo que estas deveriam ser averiguadas por um método (o da dúvida), avançando a partir delas. O objetivo de Descartes é fundamentar a possibilidade do conhecimento científico. Para ele, através da racionalidade inata ao homem, seria possível chegar à verdade, e justificar a ideia de ciência, através do método e da psicologia da dúvida (SCRUTON, 2008: p.46). Para chegar à realidade das coisas, deveríamos nos desfazer do saber errôneo e incerto que herdamos da sociedade e, através do método da dúvida, ir recuperando a luz natural inata da razão (cogito); encontrando, assim, o ponto de partida para estabelecermos a verdade. Portanto, a racionalidade é inerente à natureza humana, e através desta busca interior podemos chegar à verdade.
Após a dúvida de tudo, Descartes começa pela única certeza: a de que pode pensar. E ao pensar, podemos acessar as ideias inatas em nossa mente. O cogito cartesiano é o pensamento puro, que se torna verdade pelo próprio ato de pensar. O eu é isolado do mundo exterior, da experiência, e do próprio corpo, que é um elemento externo à mente. Assim, ele despreza a experiência ao transformá-la em erros legados pelo “senso comum”, sendo preciso recuperar a pura racionalidade interna e inata do sujeito pensante. É nesta busca puramente interior do eu pensante, que reside o sentido do subjetivismo cartesiano.
A partir de Descartes, o conhecimento apodítico não se encontra numa entidade objetiva, na estrutura da realidade, mas nele mesmo, no sujeito pensante. Logo em seguida, um século depois, chegamos ao empirismo de David Hume, que já é reflexo desse primado do sujeito colocado pela ciência moderna e pelo racionalismo, sendo pessimista quanto a sua solução.
Desse jeito, Descartes opõe razão e imaginação, já que a segunda estava ligada a representação de qualidades secundárias e incertas (dadas aos sentidos), e a primeira representava as qualidades primárias, que eram inatas. Mente e corpo encontram-se separados. O que o filósofo está fazendo, na verdade, é valorizar um aspecto operacional da capacidade racional, reduzindo-a isto, separando da sua experiência total. O racionalismo deveria ser responsável por desenvolver as ciências naturais e pelo seu uso instrumental. Sobre esse recorte que é operado pela ciência, afirma Olavo de Carvalho (2012, p. 188-189):
A razão é, em primeiro lugar, a capacidade de abrir-se imaginativamente ao campo inteiro da experiência real e virtual como uma totalidade e de contrastar essa totalidade com a dimensão de infinitude que a transcende imensuravelmente. O finito e o infinito são as primeiras categorias da razão, e não me refiro aos equivalentes matemáticos desses termos, que são apenas as traduções deles para um domínio especializado. Dessa primeira distinção surgem inúmeras outras como inclusão e exclusão, limitado e ilimitado, permanência e mudança, substância e acidente e assim por diante. Sem essa imensa rede de distinções e inclusões que constitui a estrutura básica da razão, o método científico seria um nada.
O objeto da razão é a experiência humana tomada na sua totalidade indistinta, só limitada pelo senso da infinitude. O objeto da ciência é um recorte operado convencionalmente dentro dessa totalidade, recorte cuja validade não pode ser senão relativa e provisória, condicionada sempre à crítica segundo as categorias gerais da razão que transcende infinitamente não só o domínio de cada ciência em particular, mas o de todas elas em conjunto.
A ciência opera dentro de um recorte da totalidade, mas em qual contexto este tipo de discurso sobre essa operação tenta se sobrepor ao todo? Giovanni Reale (1990) afirma que um dos elementos que contribuem para as modificações na história intelectual, ainda na baixa idade média, é a chegada ao Ocidente de livros gregos e latinos, ao mesmo tempo em que a escolástica entra em crise. Na península itálica, a partir do Século XIII, desenvolveram-se estudos das litterae humanae, obtendo grande sucesso e valor entre os homens da época, tornando a Antiguidade Clássica (grega e latina) um paradigma para a vida do espírito e para a cultura da época. O humanismo nasce neste contexto, indicando originariamente a tarefa do literato, ou do estudioso das humanidades; todavia, indo além do ensino universitário, tornou-se mais do que uma filosofia, mas também uma maneira de encarar o mundo. Embora não abandonasse a ideia de transcendência, e tivesse muita influência do misticismo, o humanismo foi o primeiro grande adversário da escolástica medieval. Pois, a busca pelo absoluto, diferente da filosofia medieval, identificava-se com uma “celebração do homem”. Outro significado desta época é a valorização da capacidade racional, como elemento que nos levaria ao conhecimento da realidade, o que costumamos chamar de racionalismo. Mas, há um filho mais específico dessa mudança que gostaria de abordar: Francis Bacon.
O filósofo inglês Francis Bacon nasceu em 1561, na cidade de Londres, aonde também veio a falecer em 1626. Sem dedicar-se às especulações filosóficas, destacou-se pelo combate as concepções dos saberes vigentes na idade média, resultando na criação de outros princípios para ciência, em seu Novum Organum. Bacon visava demonstrar as inadequações da ciência aristotélica e do tomismo. Ele argumenta que a ciência aristotélica por ser meramente dedutiva, não proporcionaria um método instrumental de investigação da natureza, não obtendo suas leis e novos fatos, mas apenas suas consequências lógicas. Bacon propôs o método indutivo, por onde – através do experimento – poder-se-ia chegar à postulação de leis universais, sobre a base das instâncias observadas. Ao propor a ideia de causalidade, como geração de uma coisa a partir de outra, a partir das “leis da natureza”, no lugar das “causas finais” da escolástica, ele destaca o elemento quantitativo das formas naturais (SCRUTON, 2008).
A partir de Bacon surge a crença de que a natureza material é um código que não se revela diretamente ao homem. E que, para compreendê-la, seria necessário maneja-la através de um experimento, obtendo dela uma resposta. O experimento consiste na instrumentalização das forças naturais, visando a sua apropriação para identifica-la. O homem deixa de ser um observador contemplativo da natureza e torna-se inquisidor dela.
Desta maneira, a Ciência moderna “deverá ser ativa, operatória, eficaz e não contemplativa e verbal. Ela é intervenção na natureza, modificação física desta. Essa relação ativa, e até violenta, caracteriza a pesquisa e aplicação”. (HOTTOIS, 2008: p.66). A Ciência moderna precisa ter operacionalidade e eficácia, ao invés de ser contemplativa e verbal. Ela é instrumental, por que precisa intervir na natureza, permitindo que o homem seja senhor e mestre dela. O indivíduo é colocado no centro deste projeto ao isolar elementos da natureza, e não contemplá-la em sua presença total. O traço mais marcante da ciência moderna é a ideia de método (no caso, o hipotético-dedutivo). Essa nova ideia de ciência, metodologicamente hipotética e controlada exige adaptações às novas instituições, academias, e laboratórios, criando uma separação entre ciência e fé. A ciência passa a indagar não a substância, mas a função, reagindo às pretensões essencialistas da metafísica. Afirma Olavo de Carvalho (2012, p. 190):
Afinal, como se constitui uma ciência? Supõe-se que determinado grupo de fenômenos obedece a certas constantes e em seguida se recortam amostras dentro desse mesmo grupo para averiguar, mediante observações, experiências e medições, se as coisas se passam como previsto na hipótese inicial. Repetida a operação um certo número de vezes, busca-se articular os seus resultados num discurso lógico-dedutivo, estruturando a realidade da experiência na forma de uma demonstração lógica, evidenciando, ao menos idealmente, a racionalidade do real. Tudo isso é impossível sem as categorias da razão, obtidas não desta ou daquela experiência científica, nem de todas elas em conjunto, mas do próprio senso da experiência humana como totalidade ilimitada.
A experiência humana tomada como totalidade ilimitada é a mais básica das realidades, ao passo que o objeto de cada ciência é uma construção hipotética erigida dentro de um recorte mais ou menos convencional dessa totalidade.
Assim, os resultados dos experimentos partem das condições em que foram realizados, a partir de hipóteses e perguntas pré-estabelecidas, recortando o fenômeno das demais relações. Por isto, longe de exatidão, a ciência moderna opera a partir de certo ângulo de que parte a pesquisa, jamais alcançando toda variedade da natureza. A ciência moderna não investiga o fato concreto, mas certas relações que são proporcionais às perguntas feitas (hipóteses). Então, o que é examinado não é a realidade em sua presença total, mas certas possibilidades com uma finalidade específica dada pelo sujeito.
Francis Bacon é o primeiro a transformar a ciência instrumental num discurso científico e filosófico que toma esse recorte racional dentro de sua totalidade como a própria realidade. Com Descartes e Bacon, observamos que nas origens da questão do conhecimento para o mundo moderno, encontra-se o primado do sujeito. O sujeito torna-se determinante para ciência e o centro da racionalidade. Nisto, encontramos o duplo prometeico: as maravilhas do conhecimento proporcionado pela centelha divina no humano e os riscos de onipotência diante dessas descobertas.
Boa parte do discurso científico dos últimos séculos é apenas uma tentativa de sobrepor o uso instrumental da razão sobre a totalidade da existência, criando uma onipotência em torno da primazia do sujeito. Adorno (2009) nota que o racionalismo cartesiano abriu caminho para o primado do sujeito do idealismo kantiano. Para Adorno, o sujeito transcendental kantiano é proporcionado pela consciência absolutizada. Deste jeito, o sujeito onipotente expulsa o real, tornando o mundo o seu umbigo. A realidade se torna uma paranoia incontrolável, pois não encontra nada fixo no real (embora a dialética negativa proposta por Adorno seja também uma maneira de negar a realidade). Tempos depois, veremos o homem negando até mesmo a capacidade racional e vendo a realidade como algo meramente plástico. A negação da razão é ela também racional.
Com o fim do espírito contemplativo, o discurso em torno da ciência instrumental – e consequentemente, a técnica e a modernização – insere um elemento subjetivista inegável. Representado pela supremacia do interesse (razão subjetiva) sobre a finalidade (razão objetiva). Com o privilégio desmedido dado ao ponto de vista do observador, foi excluído o elemento verbal, contemplativo. Trocou-se a natureza como experiência real e, em seu lugar, colocou-se a natureza como objeto de experimento científico. Para compensar esta perda, entra em campo o elemento da medição e exatidão matemática. Mas ela também vem do sujeito, que não pode compensar a perda das relações reais e da experiência da presença total da realidade (LAVELLE, 2012). Daí surge o subjetivismo moderno, que tende a enxergar a realidade concreta numa perspectiva diferente do realismo platônico ou aristotélico. Esse discurso em torno da ciência moderna leva na filosofia a ruptura da integridade da visão dos cosmos, e a realidade passa a ser projeção mental.
A técnica difere da ciência, pois a primeira une vários princípios numa única coisa. No entanto, a técnica se beneficia das descobertas científicas (mais do que das explicações) que podem ser aplicadas na prática. O desenvolvimento técnico dos últimos séculos trouxe criações formidáveis. Remédios para salvar vidas, energia elétrica para facilitar a convivência, a industrialização para facilitar o cotidiano, etc. No entanto, o discurso, o imaginário, e as mentalidades em torno dos avanços técnicos e das descobertas da ciência moderna nos trouxe também o outro lado do mito prometeico: a onipotência do sujeito.
O indivíduo encontra-se, então, no centro e no topo do absoluto. E a grande promessa do mundo moderno é que por meio da ciência e da técnica, o homem poderia se libertar da barbárie, da fome, da ignorância, da injustiça, e se autoconservar melhor. Como desejava Bacon, o saber deveria imperar sobre a natureza desencantada, não reconhecendo limites ou barreiras. “No trajeto para a ciência moderna, os homens renunciaram ao sentido e substituíram o conceito pela fórmula, a causa pela regra e pela probabilidade” (ADORNO; HORKHEIMER; 2006: p.21). Recusando aquilo que não se enquadra nos critérios de cálculo e utilidade, a ciência moderna busca o método para operar os fatos a serem ordenados, classificados, permitindo a explicação, a previsão e o controle.
Em compensação, com seus experimentos, a ciência moderna descobriu coisas que nos estavam ocultas na realidade. Existindo, desta maneira, uma relação entre uma nova concepção de ciência, mais instrumental, que leva a conquistas técnicas; novas relações sociais, com a ascensão da burguesia; uma nova maneira de ser e estar no mundo; e novos conceitos introduzidos na filosofia moderna. Representando um novo pensamento e uma nova sensibilidade que emergiram, com novas maneiras de pensar e estar no mundo, resultando em profundas transformações socioculturais, com a construção de novas sociabilidades e sensibilidades.
A novidade incessante acelera o tempo, abre o mundo, dando margem a uma nova maneira de pensá-lo, de fazer cultura. O perpétuo vir-a-ser, turbilhão moderno, desbrava distâncias, vai “desmanchando no ar” o que antes era sólido. A ciência moderna, as inovações técnicas, a modernização das cidades, alterará profundamente as paisagens e cartografias da vida. O trem, as estradas, as maquinarias, as fábricas, o telefone, e tantas invenções, invadirão o “mundo das tradições”. Trazendo também, perda da experiência da presença total da realidade, o esquecimento do transcendental e dos valores que dão sentido a uma comunidade, transformando-se em formas abstratas.
O duplo prometeico ocorre. O homem utiliza da razão para conhecer as coisas criadas por Deus. Através desse presente divino, conhece, opera, descobre coisas uteis e benéficas, repassa o conhecimento e progride materialmente. No entanto, ao instrumentalizar a razão, fica propenso a querer se tornar independente, autônomo, vendo-se como autossuficiente. O homem arrogante e vaidoso, entra em rivalidade com Deus.
Este é o grande paradoxo do fim dos tempos: a hipertrofia da razão. É ela que nos diferencia e nos faz homem. É ela que nos aproxima de Deus e faz com que o conheçamos por contemplação. É a razão, essa dádiva divina, que nos permite agir no mundo e melhorar algumas coisas para nosso conforto e autopreservação. No entanto, quando ela quer ser independente de seu Criador, ela entra em rivalidade com Ele quando, na verdade, está em rivalidade apenas consigo mesma. A razão humana contra Deus se torna a razão humana contra ela mesma. Onipotente, a razão se torna apenas negação. Como negação de si mesma (irracionalismo), ela é ainda extremamente racional.
Apartada da criação, a razão humana nega que seja uma centelha divina e vai se apartando de Deus. A consequência desse processo onde a humanidade nega por um delírio de onipotência é o irracionalismo, a barbárie e a violência sem amarras, em estado terminativo.
O último humanista: a queda do homem
Em qual sentido o homem está negando Deus e colocando no seu lugar a si próprio, como ser onipotente e autônomo? Como se dá essa nova religião secular, do homem pelo homem? A célebre passagem de Nietzsche em Gaia Ciência sobre a morte de Deus é uma resposta lapidar sobre os caminhos que a humanidade tomou. O filósofo alemão chegou à conclusão de que a sociedade tinha matado Deus, isto é, a influência da religião tinha se tornado cada vez menor e sua substância era substituída por outros meios. Em toda sociedade europeia do século XIX, a metafísica e os valores cristãos, com sua crença em formas ideias como Bem, Verdade, Moral, entre outros, estavam fenecendo.
Mas, se Deus estava morto, o que ocuparia o seu lugar? Contra um niilismo apenas reativo, Nietzsche defendia uma nova cultura (que, como vimos com Girard, só podia ser uma nova forma de religião macaqueada do cristianismo). Matamos Deus, mas ainda nos sentíamos desesperados, pois a sociedade ainda tinha adotado uma vontade frágil, culpada, doente. Nietzsche conclamava aos homens a sentir o cheiro da putrefação do cadáver e fundar uma nova ética. Por isto, ele afirma: “Não deveríamos nós mesmo nos tornar deuses, para ao menos parecer dignos dele? Nunca houve um ato maior – e quem vier depois de nós pertencerá, por causa desse ato, a uma história mais elevada que toda a história até então”.
A morte de Deus cria novos valores e essa nova ética não seria a do homem culpado diante Dele, pedindo misericórdia e perdão, mas o inverso. Deus é a doença da vontade, e o cristianismo a religião dos homens fracos e sem fibra. O arrependimento é um veneno para o homem que celebra a si mesmo. A alternativa que Nietzsche oferece é a de um novo modo de vida, é retornar a Dioniso.
E o que isto significa? A transvaloração de todos os valores. Um niilismo ativo que cria novos valores para homens livres, que vivem sua vontade de potência sem culpas e arrependimentos. Homens que valorizam a vida, o agora, os impulsos, os seus desejos. Sem as amarras do Bem e do Mal da metafísica, nós – como seres independentes – podemos definir nossos próprios valores. Sem desculpas e choros, somos autores de nossa felicidade. Esse novo homem é o Super-Homem. Aquele que se levanta contra Deus e afirma os valores da vida. São os valores dionisíacos: a embriaguez, os impulsos, a entrega ao primitivo, o sentido da vida baseada no aqui e agora. Sobre isto, afirma Girard (1999, p. 153):
A multiplicação indefinida dos deuses arcaicos e pagãos passa, nos nossos dias, por uma simpática fantasia, uma criação gratuita – “lúdica” (…) – da qual o monoteísmo demasiado sério, nada lúdico, se esforçaria, maldosamente, para nos privar. Na realidade, longe de serem lúcidas, as divindades arcaicas e pagãs são fúnebres. Antes de dar demasiada confiança a Nietzsche, a nossa época deveria ter refletido sobre uma das frases de Heráclito: “Dioniso é a mesma coisa que Hades”. Em suma, Dioniso é a mesma coisa que o inferno, mesma coisa que Satanás, a mesma coisa que a morte, a mesma coisa que o linchamento. É o mimetismo violento no que tem de mais destruidor.
A nova religião dos assassinos de Deus, na verdade, dos que negam Deus, é a religião de Dioniso, é o sonho de ser autônomo e independente do Criador, o sonho de entrega aos seus desejos desordenados e que sugerem todo tipo de perversidade. O que prossegue da morte de Deus é o homem tomando o Seu lugar por achar-se o único criador da vida: A realidade é a minha vontade, eu produzo, eu crio o meu mundo. É o culto a si próprio. Os impulsos e os desejos são celebrados como produtores da liberdade e do Super-Homem.
A humanidade imita Satanás em sua queda. Na tradição judaico-cristã, o Diabo é um anjo que se rebelou contra Deus ao invejar sua onipotência. Sua figura é apresentada pela queda do paraíso por causa da negação. Com esta, o Diabo não se torna propriamente o nada, nem uma divindade má que rivaliza com a boa, porém, perde a sua natureza, tornando-se puro mimetismo. Quando a humanidade opta pelos maus modelos, está escolhendo Satanás e seu destino. A queda do homem é a mesma queda luciferiana: a consequência de ter se apartado de Deus por desejar sua onipotência. Rivalizando com Deus, o homem nega a centelha divina que recebeu.
O novo homem nietzscheno nega Cristo como modelo e opta por Satanás. Quer se afirmar como onipotente, independente e autônomo, criador e produtor da realidade, mas a única coisa que consegue é negar o que há de mais sagrado em si próprio. Assim, a nossa queda se torna iminente. O homem dionisíaco de Nietzsche é o último humanista.
Há um filme que simboliza esta figura do último humanista de maneira exemplar. O Advogado do Diabo é um filme especial por sua narrativa, por seus elementos simbólicos e pela apresentação hipermoderna (e correta) da figura de Satanás. Com uma atuação impagável de Al Pacino, consegue sintetizar toda história do século que estava por vir – o nosso, o século XXI.
O filme começa apresentando a figura de Kevin Lomax no seu habitat natural: um tribunal. Lomax é um advogado que não perde no interior da Flórida. De cara, temos as referências aos sofistas, os primeiros advogados. Eles só pensavam em vencer, vencer e vencer o debate. Lomax agia de maneira inescrupulosa para obter suas vitórias. Vaidoso, cultuava sua fama de invencível mesmo que o preço a pagar fosse proteger pedófilos como no caso que abre o filme. A sua vaidade era aliada da megalomania. Insatisfeito com a cidade pequena, desejava alçar voos maiores. Assim, sequer considerou os conselhos de sua mãe, uma típica alma humilde e religiosa do interior americano, sobre a “grande babilônia”, ou seja, as grandes cidades, as “selvas de pedra”, quando foi convidado para advogar em Nova Iorque.
Instalado em Nova Iorque, aparece em cena o segundo grande personagem do filme: John Milton. Dono da maior banca de advocacia da cidade e de outros negócios obscuros, Milton conhece toda elite nova-iorquina e, numa festa, mostra como – por atração – é o senhor dela, pois o seu habitat é a concupiscência, a vaidade, a inveja, a arrogância, o arrivismo. Milton é, na verdade, o demônio. Uma figura que, atualmente, mimetiza o homem dionisíaco e celebra as festas, as orgias, o sexo, o dinheiro, a vontade de potência. Ele é uma figura tentadora e magnânima, atraindo aqueles que buscam os desejos mal ordenados.
O primeiro caso de Lomax em Nova Iorque é exemplar. Phillippe Moyez é uma figura obscura, que vive no subterrâneo da cidade, e pratica sacrifícios. Acusado pela vigilância sanitária, contrata a banca de um velho conhecido, John Milton. A moeda de pagamento não é o dinheiro vivo, mas uma no sentido mais antigo, que remete ao templo onde se praticava sacrifícios, a moeda espiritual. Como servo de Satanás e do sagrado satanizado que Moyez era. Lomax inocenta-o apelando para o princípio da laicidade. Misturar papas com encantadores de serpentes conforme foi sugerido por Milton. A vigilância sanitária não pode pegá-lo se ele está praticando livremente seu culto. Os princípios do Estado laico são invocados (quase que religiosamente num templo, os tribunais) para permitir o sacrifício subterrâneo que suga tudo no bairro.
Nesse interim, a mulher de Lomax, Mary Ann, começa a perceber a consequência de seus pecados. A sua culpa lhe sufoca, pois não percebe a possibilidade do arrependimento e da misericórdia, e isto lhe tortura e lhe leva a loucura. Tudo piora quando Lomax assume um caso midiático em que um importante empreiteiro da cidade matou sua mulher. Mais uma vez, ele mente e usa de estratégias maledicentes para salvar seu cliente.
Ao mesmo tempo em que a concupiscência incentivada por Milton vai tomando tons mais fortes, as consequências dos pecados vão aparecendo de maneira cada vez mais terminativa e trágica. Um dos diretores da firma, Ed Barzoon, está atormentado de inveja por Kevin ter conseguido altos postos rapidamente. Essa atitude tomada por Milton foi calculada para que ele se destruísse ao se deixar corroer pelos piores sentimentos. Enquanto Barzoon corre desesperado e é atacado por seus próprios vícios, Milton narra e festeja a morte da alma dos vários Barzoons. Anuncia o demônio:
Ed Barzoon… Ed Barzoon… Eu cuidei dele com dois divórcios, uma reabilitação de cocaína, e com uma recepcionista gata. Criatura de Deus. Criatura especial de Deus, certo? Hah! E eu avisei, Kevin, eu o avisei a cada passo do caminho. Observei-o andar sem rumo como um desvairado, como um brinquedo de cordas. Com 150 quilos de pura cobiça em ação. Os próximos mil anos estão virando na esquina, Kevin, e Eddie Barzoon – dê uma boa olhada –, porque ele é a criança do cartaz para o próximo milênio! Essas pessoas, não é nenhum mistério de onde elas vêm. Você afia o apetite humano até o ponto onde possa dividir átomos com a força do desejo, nós construímos egos do tamanho de catedrais, a fibra óptica conecta o mundo a cada impulso, influencia até mesmo os sonhos mais idiotas com essas fantasias banhadas em ouro, até que cada humano se torne um aspirante a imperador, e se torne seu próprio Deus, e, então, para onde você pode ir de lá? E enquanto ele está tão ocupado, quem vigia o planeta? O ar é poluído, a água é poluída, e até o mel das abelhas adquire o sabor metálico da radioatividade. E apenas continua chegando, mais rápido e mais rápido. Não há chance de pensar, de se preparar. Compram-se futuros, vendem-se futuros, quando não há futuro! O mundo está fora de controle, temos um bilhão de Eddie Barzoons correndo para o futuro. Todos prontos para violar o ex-planeta de Deus, lavando as mãos enquanto alcançam os seus primitivos teclados cibernéticos para totalizar suas horas faturáveis. E então ele cai na realidade! Você tem que pagar o seu próprio caminho, Eddie. É um pouco tarde no jogo para comprar agora! Sua barriga está muito cheia, seu pau está dolorido, seus olhos estão injetados de sangue, e você está gritando para alguém ajudar! Mas adivinhem? Não há ninguém lá! Você está sozinho, Eddie. Você é a pequena criatura especial de Deus. Talvez seja verdade, talvez Deus tenha brincado demais com os seus dados. Talvez ele nos decepcione.
O diabo anuncia não só a história do século XXI, o iminente “Império da Besta”, como também a da queda humana. Primeiro, ele anuncia que tenta as pessoas a partir do desprendimento (divórcio), do vício (cocaína) e da concupiscência (prazeres desordenados). Depois de tentar, ele acusa: “bem, eu o avisei a cada passo do caminho”. Mas Barzoon representa mais do que um pecador caindo nas tentações, ele simboliza o homem do novo milênio. Um homem comandado pelo desejo, um pequeno tirano que fez do seu ego uma catedral, tornando-se ele mesmo o seu deus particular. Esse sentimento de onipotência está ligado aos avanços tecnológicos e as descobertas materiais. O homem imitando o macaco de Deus: Satanás.
A consequência é celebrada por ele: um mundo fora de controle, com uma violência sem amarras, pois é comandado por pequenos deuses de si próprios. E, no final, a humanidade sofrendo por seu pecado é acusada de maneira fulminante. Não há espaço para o arrependimento, tampouco para o perdão. Acusando a humanidade, o diabo acusa Deus de sadismo. No entanto, há sempre um espaço para o arrependimento e para se reaproximar do Criador.
A situação de Kevin se deteriora rapidamente, tendo como desfecho o suicídio da sua mulher numa “clínica de repouso” e com seus clientes continuando seu rastro de perversão e maldade. Então, a mãe de Kevin lhe revela que Milton é seu pai. Nisto, temos um dos melhores símbolos do filme. Para parir o filho que lhe daria o Anticristo no cruzamento com outra filha, ele teria que conseguir isto de uma mulher simples, humilde, temente a Deus. O Anticristo só pode surgir de dentro do cristianismo, pois o seu substrato é uma nova (anti)religião que rivaliza com Deus e deseja ser tão onipotente quanto. A humanidade perdida representada pelas más escolhas de Kevin Lomax é um cruzamento entre o cristianismo e Satanás. O sagrado pervertido pelo Anticristo é uma imitação perversa do cristianismo: o livre-arbítrio vira a tirania da liberdade, a descoberta do indivíduo que escolhe modelos vira o individualismo, a escolha pela vítima se torna a máquina supervitimológica que se vitimiza para vitimizar.
Percebendo que é filho de Satanás e que está agindo de acordo com seus modelos, Kevin vai direto ao escritório de Milton. O diabo começa acusando Kevin: eu não sou marionete, eu não faço as coisas acontecerem, eu te avisei, ela era sua esposa, mas você quis continuar. Ele afirma: “Livre-arbítrio é como as asas de uma borboleta, uma vez tocada, elas não tornam a voar. Eu apenas defini o palco, você puxa suas cordas”. Kevin atira em vão, pois a fúria serve apenas de combustível para o diabo. A vaidade ou o amor-próprio é a chave que abre a explicação para queda da humanidade:
John Milton: Eu não faço isso, Kevin! Naquele dia, no metrô, o que eu disse para você? Quais foram as minhas palavras para você?! Talvez tenha sido sua hora de perder. Você não pensou assim.
Kevin Lomax: Perder?! Eu não perco! Eu venci! Eu venci! Sou advogado, é o meu trabalho, é o que eu faço!
John Milton: Eu encerro o caso. Vaidade… É definitivamente o meu pecado favorito. Kevin, é tão básico, amor-próprio; o narcisismo é um narcótico natural. Você sabe, não é que você não se importa com Mary Ann, Kevin. É só que você estava um pouco mais envolvido com outra pessoa: você mesmo.
Entregue ao amor-próprio, Milton convida Kevin a odiar Deus em seu total apartamento:
John Milton: A culpa é como um saco de tijolos. Tudo o que tem a fazer é larga-lo (…). Afinal, por quem está carregando todos aqueles tijolos de qualquer maneira? Deus? É isso, Deus? Bem, eu te digo: deixe-me dar-lhe um pouco de informação privilegiada sobre Deus. Deus gosta de assistir. Ele é um brincalhão. Pense nisso: Ele dá aos homens instintos. Ele lhe dá este presente extraordinário, e então o que Ele faz? Juro, para Sua própria diversão, Seu próprio espetáculo cósmico particular, estabelece regras opostas. É a piada de todos os tempos. Olhe, mas năo toque. Toque, mas não prove. Prove, não engula. [Risos] E enquanto você está tentando entender o todo poderoso, o que ele está fazendo? Ele está rindo de você, fodido! Ele é um idiota! Ele é sádico! Ele é um senhorio relapso. Adorar isso? Nunca!
Kevin Lomax: “Melhor reinar no inferno do que servir no Céu”, é isso?
John Milton: Por que não? Estou aqui no chão com meu nariz na terra desde que a coisa toda começou! Eu alimentei cada sensação que o homem foi inspirado a ter. Eu me importava com o que ele queria e eu nunca o julguei. Por quê? Porque eu nunca o rejeitei, apesar de todas as suas imperfeições. Eu sou fã do homem! Eu sou um humanista. Talvez o último humanista. Quem, em seu juízo perfeito, Kevin, poderia negar a evidência de que o século XX foi inteiramente meu? Todo ele, Kevin! Todo ele. Meu. Estou no auge, Kevin. É a minha vez de triunfar. É o nosso tempo.
O último humanista é o demônio no duplo do sonho prometeico. Aquela autossatisfação prometeica com o homem que se revolta contra o Criador. Essa negação inaugura uma nova época, que é assim definida pelo demônio:
John Milton: Sua vaidade é justificada, Kevin. Sua semente é a chave para um novo futuro. Seu filho vai sentar na cabeceira de todas as mesas, meu rapaz. Ele vai deixar tudo isso livre.
Kevin Lomax: Você quer uma criança.
John Milton: Eu quero uma família.
Kevin Lomax: O Anticristo.
John Milton: [risos] Como quiser.
Kevin Lomax: Mas eu tenho que querer o mesmo.
John Milton: Livre-arbítrio, é uma droga. Kevin, preciso de uma família. Preciso de ajuda, estou ocupado. O milênio está chegando. O título está em jogo! Ooh, estou pronto para trabalhar. O que você acha, Kevin?
Kevin Lomax: O que você me oferece?
John Milton: Estamos negociando?
Kevin Lomax: Sempre.
John Milton: Sim!
Kevin Lomax: O que me oferece?
John Milton: Tudo. Qualquer coisa. O que você quer? Que tal a satisfação para iniciar? Satisfação instantânea, como e quando você quiser. Como na primeira vez que se inala cocaína, como na primeira vez que se entra no quarto de uma garota estranha? Familiar?
Kevin Lomax: Oh, você vai ter que fazer um pouco melhor do que isso.
John Milton: Eu sei. Estou apenas esquentado. Você quer mais, não quer? Você merece mais. Que tal a coisa que você mais ama? Sorriso de um júri? Ooh, aquela sala fria se rendendo, curvando a sua voz.
Kevin Lomax: Eu consigo isso sozinho.
John Milton: Não assim. Eu lhe isento de toda culpa. Eu te dou prazer, sem condições! Liberdade, querido, é nunca ter que pedir perdão. Isso é revolução, Kevin. Viva la causa.
O demônio é o último humanista, não porque ele ama o homem, mas porque ama o homem perdido em si mesmo, negando Deus, alimentando o pecado original dentro de si e, desta forma, o mau mimetismo. O Anticristo é a queda da humanidade na tentação luciferiana de rivalizar com Deus. É o cumprimento do sonho prometeico e ele se dá na má imitação de tudo que é amor cristão. O amor de Milton para Barzoon era uma má imitação, por exemplo. Longe de ajudar sua alma, cativava o desordenamento de sua liberdade, criando o abismo que ele se jogaria depois. Todavia, Kevin queria saber mais. E ele tinha uma dúvida central. Qual o papel da lei nisso tudo? E a resposta é lapidar sobre as relações entre a religião do Anticristo e o novo sacerdócio dos juristas:
Kevin Lomax: Por que a lei? Corte essa merda, pai! Por que advogados? Por que a lei?
John Milton: Ora, porque a lei, meu filho, nos permite fazer tudo. É o último passo dos bastidores, é o novo sacerdócio, meu bem. Você sabia que há mais estudantes na escola de direito do que há advogados andando na Terra? Nós estamos chegando, com toda nossa força! Vocês dois, todos nós, vitória após vitória após vitória… até que o cheiro da podridão chegue tão alto e até aos céus.
Kevin Lomax: Na Bíblia, você perde. Estamos destinados a perder, pai.
John Milton: Bem, considere a fonte, filho. Além disso, vamos escrever nosso próprio livro; Capítulo 1, bem aqui. Este altar, neste momento …
Christabella: Você não vai parar de falar? Você fala demais, vocês dois. Kevin, olhe para mim, apenas olhe para mim.
John Milton: Oh! Ela é realmente deslumbrante.
Christabella: Quem sou eu?
Kevin Lomax: Eu queria você desde o momento em que nos conhecemos.
John Milton: Diaboli virtus em lumbas est, diaboli virtus em lumbas est …
Kevin Lomax: E quanto ao amor?
John Milton: Superestimado. Bioquimicamente, não é diferente de comer grandes quantidades de chocolate.
Christabella: Ei, em dois minutos, você não vai pensar mais em Mary Ann. Venha aqui.
John Milton: Ela está certa, meu filho. Está na hora de subir e pegar o que é seu.
Kevin Lomax: Você está certo, está na hora. Livre arbítrio, certo?
E Kevin Lomax dá um tiro em sua própria cabeça. Porque há sempre a possibilidade de arrependimento e redenção. A qualquer momento, qualquer homem ou a humanidade como um todo, podem decidir a voltar aos braços do Pai. Kevin Lomax nega. Mas nega dessa vez parir o Anticristo com sua irmã. Ao dar um tiro na sua boca, Kevin está, na verdade, matando o antigo Kevin que escolheu a maldade e negou Deus. O antigo Kevin foi morto, assim como, as pretensões satânicas para sua alma e para a humanidade.
Depois do tiro, ele volta para a origem do filme. Ele volta para aquele julgamento importante em que tenta inocentar um pedófilo. Agora, ele escolhe não mentir e sair do caso. Um advogado com crise de consciência. Um recomeço, mas um recomeço não livre das tentações, pois o demônio está lá para nos seduzir mesmo quando temos boas intenções: ter vaidade por algum ato digno que tomamos.
Desestruturação da unidade familiar e aborto
Já vimos o que é a onipotência do sujeito e sua relação com o sonho prometeico a partir da negação de Deus. Mas, na prática, essa nova religião (uma perversão do sagrado) ataca o que para se apartar mais de Deus? Fundamentalmente, a religião da liberdade ataca duas coisas: a família e o ventre materno.
Como mostrei no ensaio anterior, a liberdade transformada numa concessão política terá como consequência a ampliação do seu conceito (lutando contra a realidade) e tende a tirania. A religião da liberdade, que considera a realidade plástica e modulável ao simples arbítrio do indivíduo, é a (anti)religião do Anticristo. Os slogans consagrados de 68, “faça o que quiser, a vida é sua”, tornaram-se o imaginário das elites ocidentais. Os comerciais falam num mundo lúdico, hedonista, desprovido de consciência culpada conformou Milton prometeu no filme. Goze e aproveite a vida como bem queira, as pessoas podem te julgar, mas você é dono da sua vida. A tolerância, o respeito e o amor pregados hoje são os mesmos invocados pelo último humanista. Amar não é mais querer o melhor para o indivíduo e sua alma, mas tolerar e aceitar o desejo dele seja qual for. Respeito não é mais ver cada ser humano dentro de sua integridade total, mas não ter mais o direito de falar qualquer coisa contra o pecado, ser impedido de advertir alguém que segue o caminho da destruição.
Os novos valores da religião da liberdade são imitações do cristianismo. Imitações macabras, perversas, feitas para rivalizar com Deus, para negá-lo melhor, e assumir Seu lugar. Como no filme, a sociedade do Anticristo só pode ser parida do cristianismo, no seu sentido genuíno, dito de maneira humilde e sincera. Essa imitação macabra assume suas formas mais claras a partir do último desenvolvimento do conceito de liberdade na modernidade.
A liberdade como concessão política se torna aquilo que ela promete: a negação de Deus. A liberdade que pedimos não é a do livre-arbítrio, mas tão-somente a liberdade de se desprender dos valores cristãos que construíram uma ordem diferente da pagã e reafirmar a autonomia do indivíduo perante Deus. Liberdade para matar seu próprio filho, liberdade para usar drogas enteógenas e artificias que suprimem os limites da realidade e faz do próprio consumidor o criador de um mundo que só pode sugar tudo a sua volta, liberdade para destruir a família, liberdade para fazer sexo desregrado mesmo que isso prejudique filhos, pais, esposas, etc. É a liberdade dionisíaca, sem culpa e arrependimento, sem redenção. O homem se tornou uma criança mimada que tiraniza seu desejo e não consegue mais se entender com ninguém além de si próprio.
Esse potencial desamarra uma violência terminativa de todos contra todos em escala universal, é o contágio mimético global. A pauta desse homem tirano, desses pequenos Barzoons, está relacionada a revolução sexual (aborto, casamento gay, poligamia, incesto, zoofilia), a liberalização e propagação das drogas, a destruição do casamento e da unidade familiar. A transvaloração de todos os valores. Não há cultura sem religião. E a nova cultura, a nova civilização que está sendo erigida é baseada nessa macaqueação do cristianismo.
A Open Society, fundada pelo bilionário George Soros em 1993, é uma das principais promulgadores e patrocinadores dessa nova cultura globalmente. Influenciando governos, invadindo a Igreja, criando uma minoria organizada, barulhenta e violenta na sociedade civil, Soros espera a criação da sua utopia: “o mundo livre”. Esse termo foi inspirado especialmente em Karl Popper. Para este, a “sociedade aberta” permite mudanças de governo sem derramamento de sangue, sendo uma sociedade aberta a pluralidade, ao relativismo e a falibilidade. Já sendo precário, esse conceito foi ampliado pelo liberalismo moderno americano, que a associou a ampliação de direitos. Direitos favoráveis a pauta da nova religião da liberdade, mesmo seguindo-se da implicação com a liberdade religiosa. No fundo, esses novos direitos são apenas tapumes linguísticos para construção dessa nova civilização.
O jornalista e escritor italiano Renzo Allegri descobriu uma profecia no manto da Nossa Senhora de Guadalupe. Para quem se interessar pela miraculosa história desse manto e de como ele se manteve até hoje, há um bom documentário exibido pelo History Channel. A natureza do tecido e a pintura do manto era impossível de ser realizada no século XVI e, em 1936, o Nobel de química, Richard Kuhn, mostrou que não há traços de corante algum na tilma. Em 1979, o engenheiro peruano José Aste descobriu que nas pupilas da Nossa Senhora estava gravada uma imagem. Por aparelhos, ele reconstruiu-a. Ela é espantosa: é do momento em que o índio Juan Diego abriu a tilma diante do bispo Juan de Zumárraga, do seu intérprete Juan Gonzáles e de uma mulher negra. Junto dessa imagem, há um segundo plano, composto por uma família (pai, mãe, avós, três crianças) representada de maneira universal e multirracial.
Renzo Allegri pensa que há uma profecia nessa pupila. Em primeiro lugar, a Virgem aparece num momento fundamental, onde as descobertas começam a mundializar o mundo e a espalhar o cristianismo aonde chegasse. Em segundo lugar, é um momento fundamental e carregado de paradoxos: ampliação da ordem cristã pelo mundo, ampliação da imanentização da escatologia dentro dessa mesma ordem. Em terceiro lugar, essa imagem não poderia ser observada na época. A profecia na pupila da Virgem foi feita para nossos tempos, com tais instrumentos científicos, no momento mesmo em que a ciência também oferece um homem arrogante, que apenas ama a si mesmo e nega Deus.
O que a profecia nos diz? Da ameaça da nossa época a unidade da família e de seus valores. É uma mensagem antirracista, universal, que clama para a humanidade como um todo e, ao mesmo tempo, denuncia também os inimigos da família, pois são também inimigos do Criador. Outra questão interessante é que a Virgem se encontra grávida no manto, indicando a vocação universal de Cristo para todos os povos e a importância do ventre materno.
A revolução sexual dos pregadores da nova religião possui um caminho claro. Começa legalizando o “casamento gay”, pois transforma o casamento em liberdade afetiva. Depois, libera a poligamia, pois não faz sentido manter o casamento monogâmico se sua essência é apenas a escolha dos indivíduos. Posteriormente, o incesto, pois quem tem o direito de impedir a liberdade afetiva entre irmãos ou pais e filhos, por exemplo? Por fim, outras perversões – como pedofilia e zoofilia. A agenda é clara e é descrita claramente por sites de esquerda como o VICE, ou mesmo, por integrantes da Open Society.
Começo, então, analisando o significado do “casamento gay”. Antes de ser a favor ou contra o ‘casamento gay’, é preciso buscar uma definição do que é casamento e do que é família. Se eles são tudo, nada podem ser e, logo, não existira mais sociedade. Sem esta definição, toda defesa ou crítica não passará de vagas impressões, pragmatismo, juridiquês sem realidade ou fundo histórico, ou numa passageira vontade. Alguns argumentam que o Estado não deveria se meter nas nossas famílias, mas, se assim fosse, não poderia haver direito de família, casamento civil, entre outros, criando uma série de problemas com a guarda, a pensão, os direitos e os deveres dos cônjuges, etc. Portanto, o Estado não pode legislar sobre um assunto que não tem realidade objetiva. Ele legisla sobre algo com realidade objetiva e com uma dimensão social evidente.
Em geral, há um argumento geral para defesa do “casamento gay”: os indivíduos são livres para se casarem com quem quiser. Deste modo, a essência do casamento se encontraria na liberdade afetiva e no consentimento.
Pois bem, se a base do casamento e, consequentemente da família, é a vontade, então, por que Pedro, João e Maria que afirmam se amar e querem se casar, não terão também o mesmo direito? Se a essência que define o casamento é a liberdade afetiva, então, cinco homens e dez mulheres que afirmam se amar e querem se casar devem ter o mesmo direito. Não à toa já há militância bem organizada em vários países para legalização da união poligâmica, pois se o que define o casamento é a liberdade afetiva, por que impedir casamentos simultâneos entre múltiplas pessoas que desejam isto e se amam? Entretanto, na união poligâmica desaparece a unidade familiar, devido à ausência de definição das relações parentais. Portanto, se adotarmos a liberdade afetiva como essência do casamento e da formação da família, chegaremos a uma contradição insolúvel que significa a própria destruição do conceito de família.
Eu poderia, então, argumentar que casamento é sempre entre dois seres humanos e apenas dois seres humanos independente de seu gênero. Pois bem, e de onde veio esse número DOIS? Da liberdade afetiva? Não, pois três pessoas também possuem a liberdade de declararem seu amor simultâneo. O número dois, a base do casamento, sem o qual se desestrutura qualquer noção de família e relação parental, só existe porque é consequente ao número de gêneros, conceito desacreditado nos dias de hoje pelos que negam a realidade. O casamento é entre duas pessoas porque há dois gêneros. Se houvesse um terceiro, seria entre os três gêneros. Ele é a complementariedade dos gêneros, potencialidade de gerar outro ser, criando uma unidade de ação, repasse de tradições, etc. A possibilidade formal (mesmo que não material, seja por escolha ou esterilidade) de procriação muda substancialmente uma relação afetiva, pois quando um pai e uma mãe geram um filho, ele nada mais é do que resultado da milagrosa união entre dois seres, biológica e metafisicamente falando.
Assim, o Estado pode denominar de casamento o que em essência não pode ser, mas a consequência prática disto será a desestruturação da ideia de família. Quando reconhecemos que pode existir um casamento entre pessoas do mesmo sexo, estamos negando sua essência (a do número dois), depositando na ideia de liberdade afetiva a base da unidade familiar, sem que isso possa lhe sustentar. O chamado ‘casamento igualitário’ significa igualar relações desiguais. Isto não significa que dois homossexuais não possam viver juntos ou ter uma união civil estável, apenas que a essência de sua relação não compreende propriamente a do casamento pela ausência de potencialidade de procriação enquanto forma da relação. Assim sendo, a essência do casamento não pode se encontrar na liberdade afetiva, mas na complementariedade dos gêneros.
O que é o “casamento gay”, então? É um tapume linguístico para disfarçar aquilo que ele realmente representa: a desestruturação da unidade familiar, dos laços parentais e a potencialização de uma violência terminativa. Ele não pode ocorrer na prática, pois é apenas uma ficção jurídica, mas abre o caminho para coisas piores como o reconhecimento e difusão da poligamia. Desta forma, tornar a liberdade afetiva como essência do casamento significa desestruturar os laços parentais. Isto não significa, é óbvio, que a liberdade entre duas pessoas que se casam não seja desejada, apenas não se torna a forma, a essência do casamento.
A desestruturação da ideia de família é consequência e não origem de uma escalada de relações muito mais profundas. Ninguém jamais teria essa ideia se a base de nossa sociedade não fosse o desejo de se libertar dos céus e dos outros homens. As proposições jurídicas contra a própria realidade nada mais são do que fingimentos histéricos do homem de hoje que predica a liberdade de ser o que bem entender. O seu correlato será também uma reação odiosa, equivocada, impaciente contra os homossexuais, que apenas dá ressonância a insanidade dos apóstolos da liberdade.
Outra pauta da religião do Anticristo é o aborto, nada mais do que um ritual satânico que ataca o ventre materno. A maioria dos países do “primeiro mundo” já aprovaram legalmente várias formas de aborto. Tornado dogma pelas elites ocidentais, esse assunto foi introduzido como controle populacional, relacionada à eugenia e ao controle de natalidade de pessoas pobres. Há dois argumentos para sua legalização: até tal época da gestação (três meses) não é uma vida ou a liberdade da mãe se sobrepõe aos direitos do embrião.
Começo pelo primeiro. Como uma coisa pode ser algo sem, ao mesmo tempo, ser esse algo? Se uma mulher (junto com seu parceiro) sabe que está grávida e quer mata-lo, eliminá-lo, ela e ele sabem perfeitamente bem que há algo ali. Esse algo não é um acaso, uma aleatoriedade. Não é uma roda da fortuna entre um bebê, um carro, um sapato ou um javali. A partir do momento em que eles sabem que ela está grávida, sabem que há algo ali com identidade, essência, um ser. E é por saber o que é esse ser (uma nova vida humana), que desejam elimina-la por causa de sua responsabilidade e das consequências. A partir do momento que há a concepção, há uma gravidez e há um outro ser existente sendo gestado. O aborto só é possível, justamente, porque há ali uma vida concebida e que, por estar concebida, é passível do desejo de outrem por sua eliminação. Por isto, a vida começa na concepção e, se assim não fosse, seria impossível a própria ideia de abortar.
Podemos perceber essa questão através do ato e da potência em Aristóteles. Para o filósofo grego, a matéria é potência, isto é, ela tem o potencial de ser modificada para assumir e receber a forma. Por exemplo, o bronze é potência da estátua porque possui a capacidade para tal. Enquanto isto, a forma é o ato, ou seja, atuação daquela capacidade da matéria. No entanto, a matéria não pode assumir qualquer forma. O bronze não possui a capacidade para se tornar homem. As possibilidades do ato já estão contidas inicialmente na potência.
Deste modo, a partir do momento que há a fecundação, temos uma vida já metafisicamente existente, pois o ato já está contido na potência. A partir disto, ele tem a potência para se desenvolver. Dentro do ventre materno e fora do ventre materno. Mas, ele já é algo antes mesmo desse desenvolvimento interior e exterior ao corpo da mãe. O feto é potência em ato, é um ser potente (aquele que tem a possibilidade de ter potência). Se ele não existisse ainda, não poderia ser potente, pois nada seria. Se há potência, há ato, senão ele não seria potente.
Acontece que nos lugares onde o aborto é permitido com três meses de gestação, já se faz propaganda para que seja liberado em qualquer etapa da gravidez ou mesmo depois de nascido. Hillary Clinton fazia campanha por isto. O argumento do “três meses” seguindo o qual nessa época da gestação ainda não haveria vida, foi apenas um intermédio para onde mora o verdadeiro centro da questão: tratar a vida como um conceito político.
Do que trata o aborto? Da liberdade da mulher em se livrar do que está no seu ventre a hora que bem entender, em não santificar o ventre, em não santificar o Criador. O aborto é negação da criação do Criador. Os defensores do aborto colocam a questão cada vez mais abertamente: a mulher tem o direito de decidir a qualquer momento pelo aborto, pois a vida não é um conceito sagrado, e ela é plástica a nossa liberdade.
Os que defendem a liberdade da mãe em assassinar seu filho a qualquer hora (ou mesmo depois de nascido) estão dizendo claramente: a vida humana não é um conceito biológico, mas um conceito político. Tomada dessa maneira, a vida está relacionada aos corpos e aos desejos. E voltamos a questão da liberdade como concessão política. Sendo a vida uma questão de política, o que temos é o Estado controlando os corpos dos indivíduos por não lhe permitirem o direito que a mãe deveria ter em escolher em dar a vida ou não. A política é a escolha. A criação deixa de ser de Deus e passa para a vontade do indivíduo. Agora, o indivíduo, livre de Deus e do controle social, pode dispor como bem quiser daquilo que se encontra em seu corpo, sem ninguém ter o direito de determinar nada.
Colocada desta maneira, a vida passa a ser disposta politicamente como ação de um indivíduo livre e consciente. A liberdade como concessão política chega ao seu ponto de máxima tensão quando a própria vida se torna um conceito manejável pela política de cada indivíduo (isso não nos lembra Maquiavel?) sobre seu corpo. A concepção de vida como conceito político, abre o caminho para todo tipo de violência, pois o bebê nascido é ainda mais dependente do corpo da mãe após os primeiros dias. Seria também direito dela dispor a respeito disto, pois, a vida e suas relações não passam de uma construção nossa, logo, encontra-se no âmbito das negociações políticas (micropolíticas) e não biológicas ou naturais. Por isto, os defensores do aborto podem clamar abertamente: “o seu corpo é um campo de batalha”.
A transformação da vida em conceito político (o último bastião ainda livre disto depois que a liberdade se tornou também um conceito político) coloca claramente uma questão: o indivíduo é livre para dispor do seu corpo com bem entender, eliminando os infortúnios. É o homem dionisíaco.
Quando uma mulher ou um casal decidem pôr fim a vida de seu próprio filho, fazem isto por amor a si próprios, por causa de questões práticas ou materiais: emprego, dinheiro, sexo, vida livre da responsabilidade, não querer ter filhos, etc. O que estão fazendo é negar, atacando seu próprio ventre materno, atacando a centelha divina mais sagrada que nos permite procriar num gesto sublime de imitação divina concedida por Ele. A vida como conceito político permite que a mulher faça isso livre de culpas, sem ver qualquer problema em assassinar seu próprio filho, pois ela nega o ventre como imitação benéfica do Criador e, no seu lugar, coloca a vontade humana, a tirania do seu arbítrio.
É disto de que trata o aborto essencialmente: a criação de pessoas que negam a si mesmo ao escolherem o seu desejo de onipotência no lugar do seu próprio filho. Quando se aborta, estamos dizendo que preferimos o dinheiro ao filho, a vontade ao filho, o sexo ao filho, a eliminação das dificuldades ao seu filho, a eliminação das responsabilidades ao filho. É uma escolha orientada, ritualística.
O aborto é um sacrifício onde a mulher entrega seu filho a morte para ter dádivas práticas e materiais. A consequência é a devastação na alma de uma mulher sendo consumida pela culpa, pois o diabo sempre tenta e acusa. O aborto é um ritual satânico que clama aos céus, pois ataca aquilo que Deus nos concedeu de mais precioso: a capacidade de pro-criar. A sua imitação positiva mais sublime e amorosa. Atacando o ventre, atacamos o amor materno. É uma entrega consciente da humanidade em sacrifício a Satã. É o ataque frontal e final, é a parte mais importante para a nova cultura da religião do Anticristo.
Vivemos numa loucura social sem precedentes. Momentos de tensão, guerras, corrupções e turbulências sempre existiram. A diferença é que, agora, ela é tudo isso e combinada num nível mais profundo de uma nova religião macaqueada do cristianismo. É uma crise global. Terrorismo, intolerância, xenofobia, preconceitos de toda ordem. Uma elite iníqua gerando um enorme sentimento de revolta e obrigando a desobediência. Vitimistas criando a pior das tiranias em nome da liberdade. Olhamos para fora e percebemos o acúmulo das confusões, desordens e perversões: filhos que matam pais, pais que matam filhos, sempre por banalidades. Milhões de abortos anuais. A celebração da maldade, a ritualização da perversão. A violência aumentou em escala global e se tornou descontrolada nos grandes centros urbanos. Se fala em problemas econômicos, mas são questões espirituais. Prometeu foi desacorrentado e já estamos sentindo as consequências de sua violência terminativa.
Entretanto, como Kevin Lomax no filme, há sempre uma opção. Podemos a qualquer momento parar esse rastro de destruição e negar – não Deus – mas essa sociedade infame que está nascendo, começando por enxergar o pecado original em nós mesmos e nossas degradações. Essa é nossa real batalha. Matar o que há do antigo Lomax em nós, redescobrir o amor do Pai e buscar uma nova noção de tempo que esteja em consonância com a Escatologia realizada: a Virgem Maria.
______
REFERÊNCIAS
ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006.
ADORNO, Theodor. Dialética Negativa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2009.
CARVALHO, Olavo de. A Filosofia e o seu Inverso. São Paulo: Vide Editorial, 2012.
ÉSQUILO. Prometeu Acorrentado. Rio de Janeiro: Ed. Rideel, 2002.
GIRARD, René. Eu Via Satanás Cair do Céu como um Raio. Lisboa: Instituto Piaget, 2003.
HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. São Paulo: Iluminuras, 2006.
__________. Os Trabalhos e os Dias. São Paulo: Hedra, 2013.
HOTTOIS, Gilbert. Do Renascimento à Pós-Modernidade. São Paulo: Ed. Idéias e Letras, 2008.
LAVELLE, Louis. A Presença Total. São Paulo: É Realizações, 2012.
NIETZSCHE, Friedrich. A Gaia Ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
PLATÃO. O Sofista. São Paulo: Abril Cultural, 1972.
REALE, Giovanni. História da Filosofia: 3 volumes. São Paulo: Paulus Editora, 1990.
SCRUTON, Roger. Uma Breve História da Filosofia Moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008.
VOEGELIN, Eric. Ordem e História (v.2): o mundo da Pólis. São Paulo: Loyola, 2009.
WOOD, Ellen M.; FOSTER, Jonh Bellamy (orgs.). Em defesa da história: marxismo e pós-modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
Elton Flaubert
Doutor em História pela UnB.