Alberto da Cunha Melo, Jerzy Ficowski, Jordan B. Peterson, Cordelia Fine, Scott Adams, Michael Oakeshott, Mark Lilla...

Nossos colunistas e autores convidados comentam os melhores livros lançados no Brasil este ano (ou final do ano passado). A exemplo das listas dos anos anteriores, a de 2018 é bastante variada: são 8 obras de não ficção, 5 de ficção e 2 de poesia. Há livros que viraram manchete ao longo do ano, como o 12 Regras de Jordan Peterson, e outros que deveriam ter tido mais destaque – por exemplo, não li o adequado na imprensa sobre Claridade, de Renato Moraes. Fique certo de que, seguindo as dicas abaixo, você vai passar os próximos meses muito bem acompanhado. [Daniel Lopes]
* * *
 Édipo Tirano
Édipo Tirano
Sófocles
Todavia, 176 páginas
por José Francisco Botelho – O que é um clássico, senão um livro que é muitos livros – um livro que jamais terminamos de ler, e que jamais se termina de traduzir? Exemplo cabal dessa categoria de obras essencialmente múltiplas é a tragédia de Sófocles que tradicionalmente conhecemos como Édipo Rei. Obra-prima do teatro antigo, a peça retornou às livrarias brasileiras em 2018, com um novo nome: Édipo Tirano, na magnífica tradução do poeta e helenista Leonardo Antunes. Por que a mudança no título? Ora, o original grego refere-se a Édipo como tyranós – ou seja, aquele governante que tomou o poder, em vez de herdá-lo por sucessão legítima ou adquiri-lo por meio do voto. Antunes – que também é autor de João e Maria, excelente coletânea de poemas narrativos – resgata essa e outras ambiguidades, num texto que converte a conhecida história de Édipo em uma surpreendente jornada melódica e dramática, combinando a familiaridade do clássico à estranheza vivificante da invenção poética.
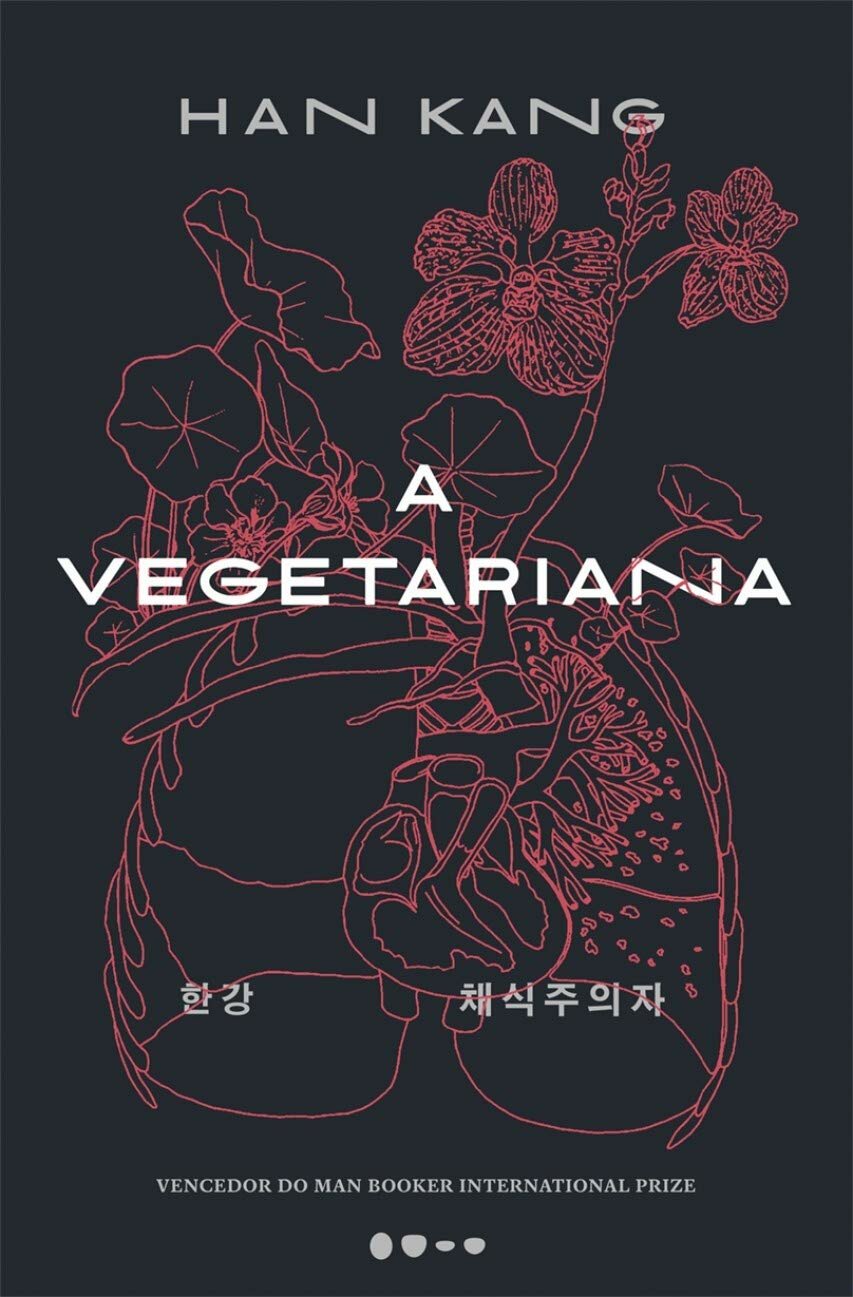 A Vegetariana
A Vegetariana
Han Kang
Todavia, 176 páginas
por Fabrício de Moraes – Já se disse que a literatura pós-moderna, desiludida com algumas das crenças que embalaram os modernistas, não mais se gaba de sua suposta capacidade de humanizar-nos; antes, satisfaz-se com a descrição de nossa desumanização. Nas relações atualmente instauradas entre o homem e o mundo – seja como seu predador (como nas teorias, inclusive literárias, sobre o antropoceno), seja como um de seus elementos de transição e portanto efêmero (e.g. as teorias trans-humanistas) –, qual é o espaço apropriado para a consciência narrativa, ponto de convergência entre natureza e história?
Em A Vegetariana, romance premiado da escritora sul-coreana Han Kang, temos de fato um grande relato da desumanização, a passagem de uma personalidade a um estado literalmente vegetativo. Um dos elementos mais destacados da obra é justamente o modo como cenas grotescas, brutais e aterradoras são narradas por meio de uma prosa lírica, conduzida por imagens entrelaçadas dos mundos vegetal e animal. Trata-se, pois, de um romance cultivado como uma estufa de espécimes predatórios. A simples decisão de tornar-se vegetariana inicia uma escalada de violência e desestruturação de toda a família da protagonista Yeonghye, cujo processo de descolamento da realidade é sempre testemunhado por pessoas ao seu redor que, metaforicamente ou não, rodeiam-na como uma presa.
Desse modo, dividido em três partes, cada uma delas narrando respectivamente a reação do marido, cunhado e irmã de Yeonghye ao seu comportamento estranho, o romance é ainda pontuado pelos sonhos da protagonista, que são a razão para o abandono do consumo de carne e, eventualmente, para o despojamento de todos os artifícios da evolução que armam o homem e são, pois, hostis aos demais seres. É como se, havendo uma continuidade dos seres, a dor de cada um deles ainda reverberasse, ainda que imperceptivelmente, na própria consciência humana. São esses estratos de violência, portanto, que não apenas levam Yeonghye à recusa de sua condição humana, mas que, conforme a narrativa se expande, estão no cerne mesmo de sua formação. Como ela própria o diz: “Gritos e choros se sobrepõem e ficam encravados aqui. É por causa da carne. Comi carne demais. Todas essas vidas estão entaladas aqui. Tenho certeza. Sangue e carne foram digeridos e se espalham por todos os cantos do meu corpo; os resíduos foram colocados para fora, mas as vidas insistem em obstruir o plexo solar”.
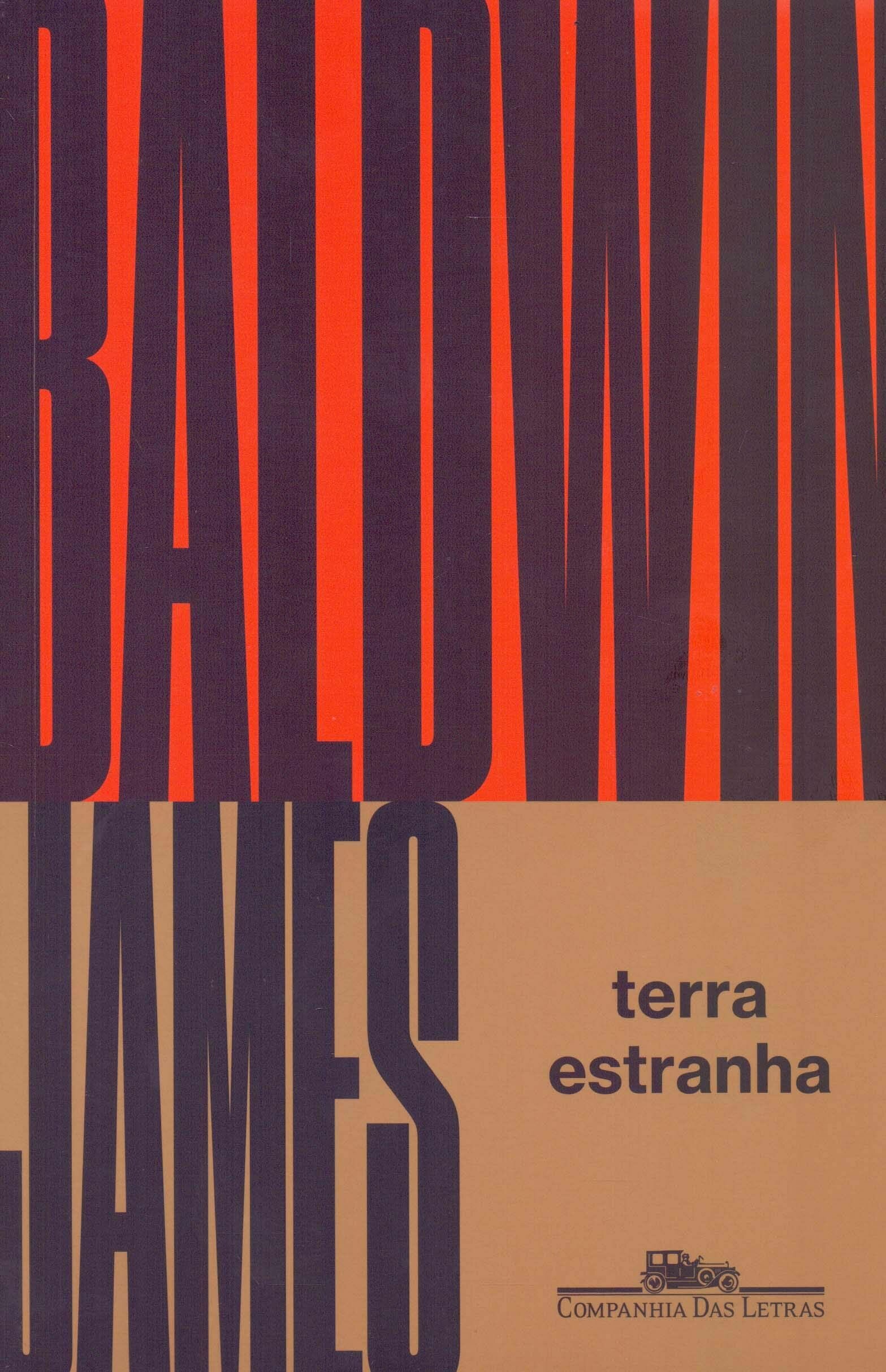 Terra Estranha
Terra Estranha
James Baldwin
Companhia das Letras, 544 páginas
por Eduardo Wolf – Começou em 2017, quando, ainda no início do ano, o documentário I’m not your negro, “Eu não sou seu negro”, foi exibido nos cinemas brasileiros. Em 2018, foi a vez de a Companhia das Letras iniciar a publicação de títulos como O quarto de Giovani e Terra Estranha. James Baldwin, o escritor cuja prosa conseguiu emular nada menos que a mais alta realização estilística do moderno romance de língua inglesa — Henry James — e, ainda assim, ser dono de uma voz inconfundível; Baldwin, o ensaísta de brilho que analisou do jazz à política americana; Baldwin, o ativista. Sim, Terra Estranha, de 1962, é, em 2018, o livro do ano. Na Nova York dos anos 1950, a narrativa cruzada de personagens que vivem nas quinas da vida e buscam uma vida com autenticidade e sentido mostra o que um grande criador e prosador de fôlego é capaz de fazer com o racismo, com os dilemas amorosos e sexuais, com as ambições pessoais e os dramas sociais maiores que as vontades individuais: um romance estupendo.
 Os Contos
Os Contos
Lygia Fagundes Telles
Companhia das Letras, 752 páginas
por Gustavo Melo Czekster – Uma obra maiúscula. É tudo o que se pode dizer a respeito da reunião de todos os contos escritos por Lygia Fagundes Telles, uma das maiores escritoras brasileiras. Nesse livro, encontra-se a prova viva de que, além de romancista talentosa, Lygia domina como poucos a difícil arte do conto. Seja flertando com o fantástico ou passando por situações repletas de desespero contadas com parcimônia e emoção contida, o livro apresenta uma produção exuberante e inesquecível, que vai desde o exotismo de “Antes do baile verde” até as reflexões ponderadas de “Um coração ardente”. Os contos reúne a produção integral de uma escritora que, não interessa quanto tempo passe, se mantém atual e urgente.
 Claridade
Claridade
Renato Moraes
Record, 546 páginas
por Rodrigo Duarte Garcia – Não é novidade nenhuma o pessimismo meio adolescente de parte da literatura atual, enxergando a maldade do homem como o fato insuperável que só poderia mesmo produzir mais depressão e miséria do que uma coletânea de poesia da Sylvia Plath. Mas a verdade é que, entre escroques, degenerados e sicofantas, há no mundo – life spoiler alert – pessoas gentis, justas e corajosas. Pessoas capazes de sacrifícios. E, por mais que qualquer um saiba disso – porque basta olhar em volta para a sua mãe, amigos e até o editor que tolera os seus atrasos com a nonchalance de emojis apaziguadores -, a literatura parece hoje não concordar muito com o senso-comum.
E é essa uma das principais qualidades de Claridade. Ao contar a história de duas famílias cujos caminhos se cruzam, depois de tragédias pessoais, o romance de Renato Moraes nos faz imaginar personagens que deixam saudade quando estamos longe, e que representam esses detestados & excluídos da literatura: as pessoas boas e suas lutas para, entre fracassos e erros, se manterem íntegras neste mundo de desterro. E é interessante perceber como podem parecer quixotescas, mas apenas porque nos desacostumamos com elas na arte. Na verdade, são personagens reais, radicalmente reais, sob uma enorme sensibilidade artística e metafísica.
Se a literatura é essa forma de reconhecimento – ou de saber que se sabe o que não se sabia que se sabia, como diz Javier Marías -, Claridade cumpre o papel de modo impressionante, ao resgatar o imaginário da redenção em pequenas coisas, e a grandeza extraordinária de homens tão corriqueiros como o sol que nasce todos os dias.
 Poesia Completa
Poesia Completa
Alberto da Cunha Melo
Record, 952 páginas
por Emmanuel Santiago – Alberto da Cunha Melo (1942-2007) é um autor razoavelmente desconhecido do público em geral. Pertencente à chamada Geração de 65, grupo pernambucano, Cunha Melo foi um poeta que, em pleno período de ebulição da poesia concreta, manteve-se nos limites do verso como unidade rítmica e semântica, seja praticando o verso livre, seja cultivando, sobretudo, o verso octossílabo, pouco frequente na tradição poética de língua portuguesa. Foi o inventor de uma nova forma poética, a retranca, e difusor, aqui no Brasil, da renka, forma tradicional da poesia japonesa. Com a retranca, compôs uma de suas obras mais famosas, Yacala, longo poema narrativo.
Além das obras publicadas em vida, que, a despeito da pouca repercussão, garantiram-lhe alguns dos prêmios literários de maior prestígio em sua época, o poeta deixou alguns livros por publicar, assim como um considerável material inédito e disperso. Em Poesia Completa (Editora Record), temos esse material reunido, diligentemente coligido e organizado por Cláudia Cordeiro Tavares da Cunha Melo. Merece destaque, também, o trabalho fotográfico de João Castelo Branco, realizado em 2015 e cuidadosamente incorporado à edição, concluindo o projeto do livro Salmos de Olinda, finalizado pelo poeta em 1988.
O portentoso volume de exatas 1000 páginas significa o importante resgate da trajetória de um dos melhores poetas de sua geração, muito menos conhecido que outros nomes oriundos do ou integrados ao eixo cultural Rio-São Paulo; um autor que, até agora, tem despertado um interesse acadêmico ainda tímido, apesar de avalizado por críticos literários do calibre de um Alfredo Bosi. A publicação dessa Poesia Completa por uma das principais editoras do país é a oportunidade de levar a obra de Cunha Melo a um público maior, oferecendo uma visão mais ampla e diversificada do que foi a poesia brasileira das décadas passadas.
 A Leitura das Cinzas
A Leitura das Cinzas
Jerzy Ficowski
Âyiné, 160 páginas
por Martim Vasques da Cunha
Comece pelo primeiro poema
cheio de arrependimento
depois encontre a biografia as datas
os nomes os fatos o Shoah
(mais um?) Lá não há nada
dentro Nem fora
Mas ao menos você encontrará um
livro
pequenino
vivo
pleno de seu autor
a refletir sobre a extinção
da memória Lido
por outro autor
habitante de uma nação
sem lembrança A pólvora do passado
explode em fragmentos sons
Não não há nada (de)mais nestes versos
tão pungentes
Exceto o
amanhã
(E isto
basta.)
 Doze Ensaios Sobre o Ensaio
Doze Ensaios Sobre o Ensaio
org. Paulo Roberto Pires
Instituto Moreira Salles, 256 páginas
por Gustavo Nogy – Na Sibéria editorial brasileira, especialmente aquela dedicada à produção ensaística, uma publicação se destaca pela qualidade, ainda que pouca gente que eu conheço a conheça: serrote, título em minúscula para uma revista maiúscula, trimestral e de não-ficção, publicada há dez anos pelo Instituto Moreira Sales. Dela saíram os textos reunidos no livro Doze ensaios sobre o ensaio – antologia serrote, organizado por Paulo Roberto Pires. É uma ótima pedida para quem ainda confunde alhos com bugalhos e ensaios com ensaios. O gênero de Michel de Montaigne é de difícil limitação: não se sabe ao certo como definir o ensaio, e talvez por isso muita gente o confunda com qualquer coisa que lhe seja parecida. Por exemplo, com o ensaio.
O ensaio (de verdade) é semelhante ao ensaio (de mentira), como um falso cognato no interior do próprio gênero. Pois o que Montaigne inventou (se não inventou, patenteou) é um tipo de texto pessoal, livre, leve e solto de peso erudito e pretensão científica. O ensaio flerta com gêneros como a autobiografia, a memorialística, a crônica, o aforismo, o relato de viagem – flerta com tudo isso sem ser isso. É outra coisa ainda mais interessante. No entanto, aos poucos, o ensaio foi abduzido pelo ensaio acadêmico. Este lhe roubou o nome e injetou anabolizantes: o academicismo, a tese, a pretensão, a cintura-dura, a falta de senso de humor. Ensaio de verdade não se presta a esses formalismos de bacharel, a esses moralismos estilísticos de mestre-escola.
No Brasil, curiosamente, a tradição do ensaio tal e qual é pequena, sob certo aspecto, mas promissora, sob outro. Se é verdade que muitos confundiram o ensaio com a dissertação sociológica, outros entenderam que a crônica está muito mais próxima do espírito original do ensaísmo que a dissertação e a tese. Um texto do Nelson Rodrigues tem mais de ensaio do que qualquer coisa de Caio Prado Junior. Este livro é recomendável para quem não sabe a diferença entre escrever com graça sobre a chatice e escrever com chatice sobre a graça. Assino e dou fé.
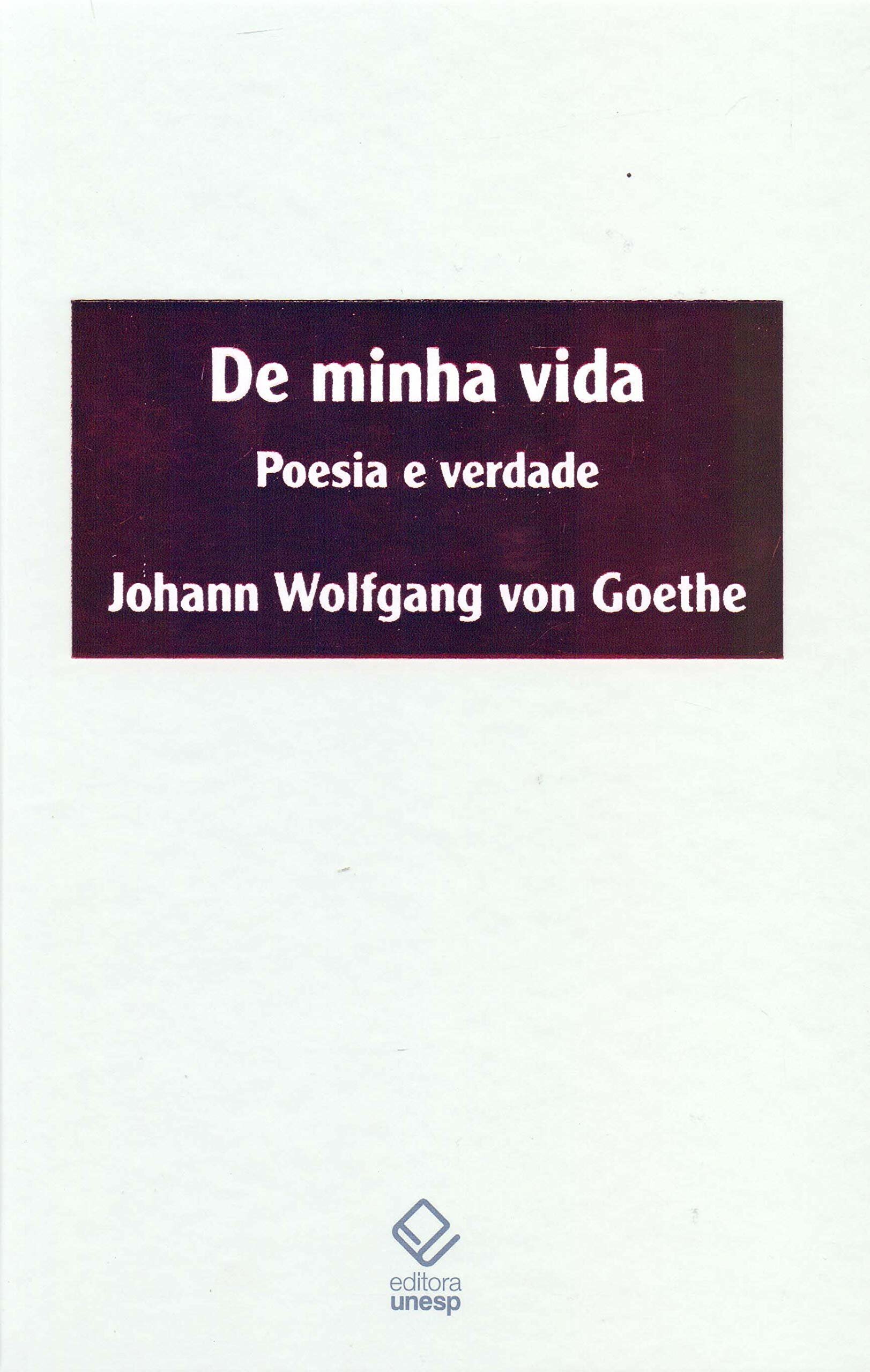 De Minha Vida: Poesia e Verdade
De Minha Vida: Poesia e Verdade
J.W. Goethe
Unesp, 955 páginas
por Wagner Shadeck – Não sendo apenas um livro de memórias, tampouco um livro biográfico ou confessional, De Minha Vida: Poesia e Verdade (Dichtung und Warheit), de J. W. Goethe, é o melhor exemplo de unificação de fatos biográficos por meio do discurso poético. Poeta mais célebre do que popular, Goethe, logo no título, parece evocar a primazia do fado sobre o fato. Ao contrário do preconceito de nossa época, a conceder mais prestígio ao fatual sobre o poético, o autor do Fausto, neste livro, parece reafirmar Aristóteles: “A poesia é mais verdadeira que a História.”
Concebida, como revela o próprio autor, já em idade avançada, a partir da fortuita circunstância de organização de doze volumes de suas opera omnia, nesta obra o sábio de Weimar coaduna sua experiência profunda de vida a fatos históricos seculares, que atestam de um modo singular, por serem testemunhados por um eu autoconsciente e permanente, sem a falsa isenção científica do historiador, nem a metodologia pseudocientífica do historicista, cuja concepção do “processo histórico” alija-o da História, com as cabeças aladas de anjo das gravuras religiosas.
Além disso, por meio deste livro, temos acesso à formação espiritual de Goethe, como polímata (dramaturgo, poeta, ensaísta, cientista, etc.). É assombroso, para nós, brasileiros, a formação do menino Goethe, entre a biblioteca do avó e as peças de arte do pai. Abarcando de seu nascimento à sua contemporaneidade (1775), nesta narrativa de si mesmo, além de refletir sobre vários assuntos, como línguas, literatura, história (as mudanças socioeconômicas e contendas no coração da Europa), ciência, teologia, suas reminiscências de grandes vultos históricos, como Napoleão e Byron, e mesmo sobre as concepções de seus livros mais famosos, Os sofrimentos do jovem Werther (1771) e Fausto partes I (1806) e II (1832), notamos o esforço do poeta para semear a poesia na vida e colher a verdade da experiência vital.
Convém destacar a importância dessa tradução inédita, vencedora do Prêmio Biblioteca Nacional na categoria Tradução, feita por Mauricio Mendonça Cardozo. Primorosa edição, em capa dura, com mais de mil e quintas páginas, diversas notas explicativas, trabalho que, enfim, dispensa maiores recomendações. É um grande lançamento cuja sombra, iniciada em 2017, avultará até o ano que vem. Recomendadíssimo!
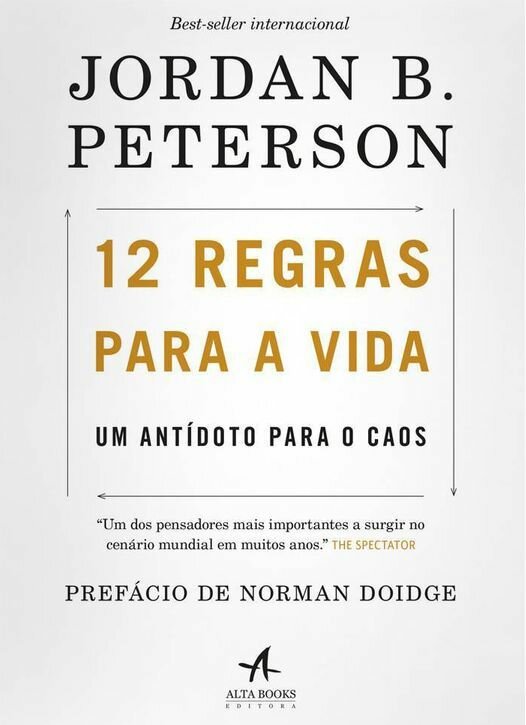 12 Regras para a Vida: um antídoto para o caos
12 Regras para a Vida: um antídoto para o caos
Jordan B. Peterson
Alta Books, 448 páginas
por Paulo Polzonoff Jr – Passaram-se alguns meses desde que li 12 Regras para a Vida. Tempo o suficiente para o livro “assentar” na minha mente contemporaneamente entulhada de informações e se firmar ou não como uma obra de referência. O que aconteceu de fato nesses meses é que minha leitura de Jordan Peterson melhorou em alguns aspectos, mas piorou em outros. Piorou, por exemplo, na apreciação do estilo. Peterson escreve mal e às vezes soa apenas como um acadêmico tentando desesperadamente atingir o público leigo. O resultado é um excesso de conjunções que pode dar a alguém a impressão de profundidade, mas que é só confusão mesmo.
Piorou, ainda, em algumas ausências que, à época da leitura, eu não tinha sentido. Se Peterson é uma pessoa bem-humorada, por exemplo, isso não fica nada evidente no livro. Ao contrário, a cada dia que passa tenho mais e mais a impressão de que Peterson secretamente despreza o humor. Alguém pode argumentar que a vida é mesmo pesada e que Peterson escreve para quem vive uma vida completamente desregrada, a fim de dar a este leitor perdido um norte. Mas, quando imagino o white trash trumpista tentando curar sua crise existencial lendo 12 Regras nos fundos de um trailer fedido e caindo aos pedaços… Bom, eu só consigo rir dessa imagem. Outra ausência razoavelmente grave por mim sentida depois deste tempo foi a de uma regra que estabelecesse uma relação bastante clara entre vaidade e sentido. A impressão que ficou foi a de que Peterson se recusa a beber das melhores fontes estoicas a fim de não comprometer o que ele vê como uma vantagem evolutiva, isto é, a imposição (ou submissão) hierárquica por meio da vaidade.
Em compensação (e para não parecer que estou arrependido; até porque não estou), alguns capítulos alcançaram uma dimensão quase… revelatória nos últimos meses. A regra sobre amizades, por exemplo, e sobre a incrível dificuldade de se estabelecer relações fraternais sinceras, leais e generosas. Sem falar na regra sobre parar no meio da rua para afagar um gato – que, obviamente, não tem exatamente a ver com parar no meio da rua e afagar um gato.
Mas, se incluo 12 Regras entre os livros do ano, é principalmente por causa da nona regra, a que o aconselha a sempre supor que seu interlocutor sabe de algo que você desconhece. Não só pela utilidade evidente do “conselho”, mas principalmente pela profundidade espiritual com que Peterson fala de virtudes hoje em dia decadentes, como a humildade intelectual. Reconhecer-se incapaz de saber tudo (e, por consequência, de ter opinião a respeito de tudo) é, provavelmente, a lição mais importante de um livro sem humor e besuntado de vaidade, mas cheio de lições importantes que, eu sei, já foram ditas antes, mas que precisam ser repetidas.
 Testosterona Rex: mitos de sexo, ciência e sociedade
Testosterona Rex: mitos de sexo, ciência e sociedade
Cordelia Fine
Três Estrelas, 336 páginas
por Joel Pinheiro da Fonseca – Por que nas altas esferas do poder e das finanças há tão poucas mulheres? De um lado, militantes feministas e gente das Humanas opinam que é tudo construção social. Do outro, biólogos e psicólogos evolucionistas trazem fatos e hard science para mostrar que as diferenças são biológicas. O confronto é desigual. A narrativa padrão que explica (e justifica) biologicamente as diferenças é mais ou menos assim. No passado evolutivo, machos e fêmeas tinham diferentes estratégias reprodutivas: para eles, semear filhos ao deus-dará; para elas, escolher apenas o melhor pai para o filho que carregarão no útero. Daí emergem as diferenças de comportamento: homens mais agressivos, competitivos e exploradores e mulheres mais cautelosas, tímidas e maternais, tudo determinado pelos hormônios. Assim, se alguém lamenta a disparidade de homens e mulheres nas finanças, não há nada que possamos fazer: é a testosterona…
A pesquisadora Cordelia Fine apelida esse conjunto de explicações de “Testosterona Rex”, o dinossauro de posições conservadoras que seu livro – de mesmo nome – busca refutar e, assim, declarar extinto. Só que sua arma de caça não são os velhos e batidos estudos de gênero, e sim a própria ciência. Desde as narrativas evolucionárias até mecanismos psicológicos do presente, Fine apresenta estudos que contradizem o senso comum. Mulheres se mostram, por exemplo, tão ou mais propensas ao risco que os homens. O efeito da testosterona no comportamento não é tão simples e direto quanto se pensa (exemplo: um sexto dos atletas profissionais têm testosterona abaixo do normal). E mais: muitas vezes o contexto social determina a produção de hormônios e não o contrário. Coloque um animal em uma situação de dominância e ele produzirá mais testosterona.
Ela consegue matar o testosterona rex? Não completamente. Mesmo assim, embaralha nossas certezas prévias e ao menos fragmenta o dinossauro em um quadro biológico que é muito mais caótico do que o esperado. Cultura e biologia interagem de maneiras surpreendentes. E tudo isso com um senso humor afiado, virtude tão em falta nos escritos feministas.
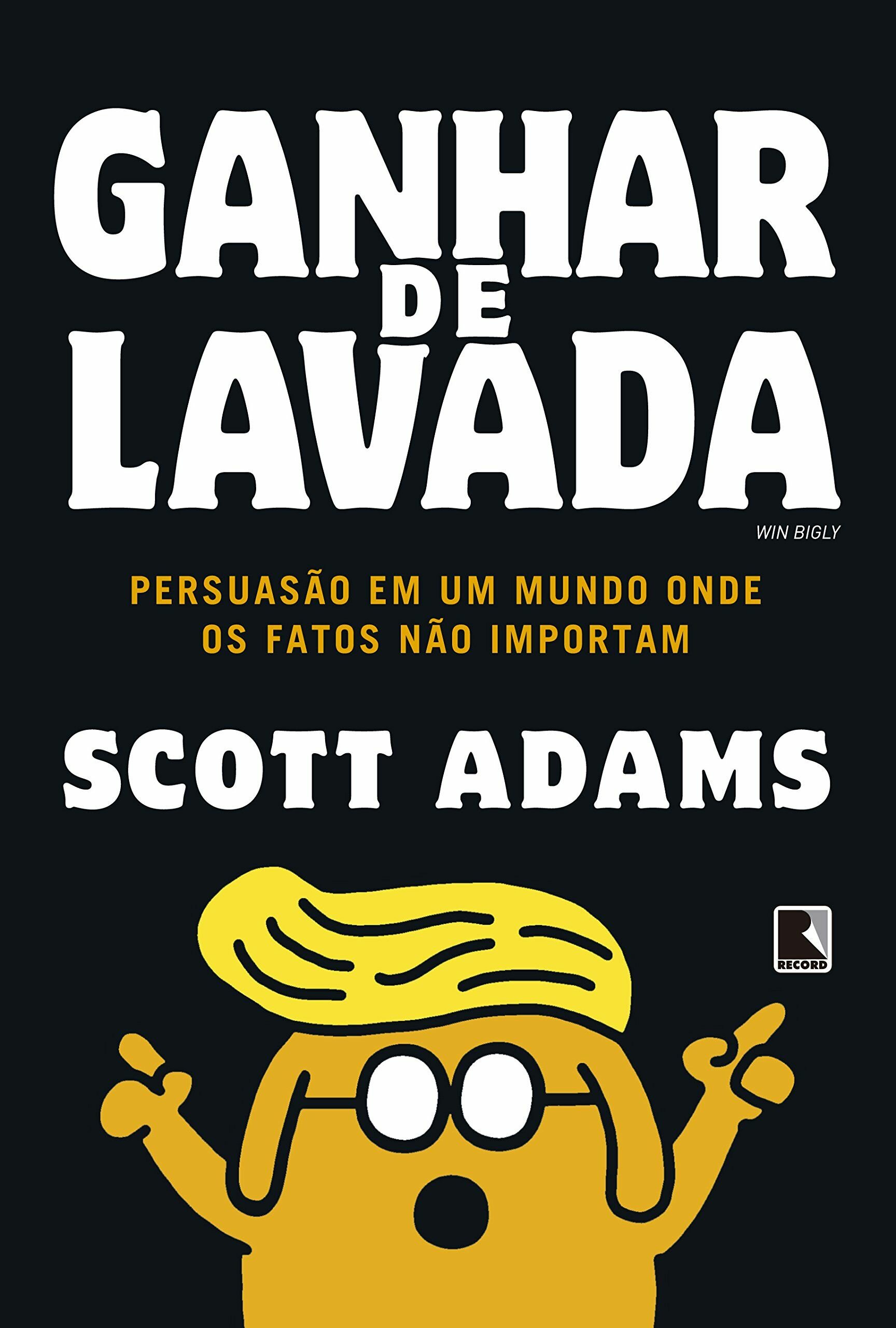 Ganhar de Lavada: persuasão em um mundo onde os fatos não importam
Ganhar de Lavada: persuasão em um mundo onde os fatos não importam
Scott Adams
Record, 322 páginas
por Eduardo de Alencar – Este é o livro que os marqueteiros e estrategistas de campanha brasileiros esqueceram de ler em 2018. Scott Adams não é o que se pode chamar de gênio, tem uma concepção antropológica pobre, escreve no nível de um bom blogueiro de internet, mas de uma coisa ele entende: persuasão. O livro traz uma análise interessante sobre a eleição de Donald Trump, num relato autobiográfico em que o autor conta a trajetória de seu posicionamento durante a campanha, indo da simpatia velada aos Democratas até o endosso explícito a Trump, em face da violência e das propostas descabidas de Hillary Clinton para a economia, enumerando os acertos (e erros) das previsões que fez a partir das considerações das habilidades do candidato republicano em persuadir o eleitorado, dignas daquilo que Adams classifica como “mestre persuasor”.
O relato, porém, não passa de mais um truque do próprio autor, que o utiliza como estratégia para ministrar uma verdadeira aula sobre persuasão em 31 dicas valiosíssimas para quem quer entender mais sobre o tema, que podem servir para o mundo dos negócios, da política ou mesmo dos relacionamentos afetivos. Leitores de Adams que acompanharam as eleições presidenciais devem ter sido acossados por uma intermitente sensação de dejá vu, enquanto marqueteiros de manual e políticos tradicionais se estilhaçavam diante dos lances inusitados de Bolsonaro. Dicas como a de que “as coisas que você mais pensa crescerão irracionalmente em importância em sua mente”, por exemplo, explicam o sucesso do posicionamento do capitão em temas como desarmamento, segurança, militarização de escolas e combate à corrupção, num pleito em que a possibilidade de debates racionais ia se esvaindo em face do turbilhão de fatos sempre novos, criados ou não pelo protagonista do processo.
Outros elementos presentes na candidatura, como a humildade explícita, erros intencionais em informações e assertividade também são bem explicados por Adams, assim como estratégias como “a manobra do terreno elevado” e outras que poderiam ter sido utilizadas pelos demais candidatos, mas que jamais passaram perto das mentes de tanta gente enfatuada e estúpida. Vale a pena ler a coisa toda inclusive agora, depois que a tempestade abrandou. Pode ajudar a entender muito do governo que se inicia e da nova política que começa a mostrar seu rosto de Esfinge para um Brasil ainda perplexo.
 A França Contra os Robôs
A França Contra os Robôs
Georges Bernanos
É Realizações, 256 páginas
por Maurício Righi – Dizem que o exílio intelectual é condição indispensável para uma reflexão madura sobre o lugar de origem, uma vez que ninguém é – genuinamente – profeta em sua terra. Isso significa que, via de regra, não gostamos de ouvir dos próximos, justamente os que nos conhecem muito bem, verdades incômodas. De fato, se há uma lei na história, ela nos diz que os conterrâneos matam ou jogam no exílio os seus melhores profetas: de Abel a Zacarias, como nos ensinou o célebre profeta galileu, também posto morto em sua terra, como bem sabemos.
Para a nossa sorte, Georges Bernanos, esse fugitivo francês com dotes proféticos e extraordinário talento literário, veio parar neste canto do mundo, o Brasil, em seu exílio transatlântico, onde residiu por longos anos, escrevendo aqui, mais precisamente nas veredas dos Gerais, uma obra-prima: A França Contra os Robôs. Escrito entre março de 1944 e abril de 1945, esse poderoso livro reúne três mensagens centrais: um apocalipse moderno, uma censura aos franceses e uma esperança para o mundo. Escritor de primeira liga, um escriba camisa 10 em qualquer seleção literária, Bernanos usa sua eloquência e aptidão reflexiva para profetizar sua época e além – falamos dos anos de trevas da década de 1940. Relendo-o, hoje, em 2018, ficamos com a impressão de que esse francês da geração de 1914, natural de Paris, podia viajar no tempo, visitando-nos em nosso presente. Na verdade, ele nos escancara a força irresistível da boa reflexão profética, tão mais poderosa quanto mais se faz incômoda aos endereçados, e que, no caso, compreende todo o aparato burocrático de uma Europa tomada de velhacos e imbecis.
Escrevo isso no exato momento que – esgotada – a França de Emmanuel Macron, um típico “homem de Munique” na terminologia de Bernanos, sai às ruas contra a cultura selvagem da “civilização” do Maquinário, do Lucro e do Medo, inimiga do homem comum em sua liberdade natural, opressora incansável da pessoa humana, de sua dignidade própria, uma vez que serva da uma cultura de eficiência e resultados. Finalizemos com um gostinho de profecia da melhor qualidade, eternamente fresca, pois eternamente verdadeira: “A igualdade proletariza os povos, os povos tornam-se massas, e as massas sempre darão tiranos a si mesmas, pois o tirano é precisamente a expressão da massa, sua sublimação.” Ler Bernanos é, em certa medida, salvar-se da própria imbecilidade – e o mundo vem se imbecilizando a passos largos.
 A Política da Fé e a Política do Ceticismo
A Política da Fé e a Política do Ceticismo
Michael Oakeshott
É Realizações, 232 páginas
por Francisco Razzo — Em 2015, quando entreguei as provas do meu primeiro livro, cheguei seriamente a cogitar não o imodesto título A Imaginação Totalitária, mas algo mais intuitivo e direito, que depois serviu de subtítulo: “Os perigos da política como esperança”. Na época estava claro para mim que meu ensaio de filosofia política se tratava, antes de tudo, de um desejo de entender a forma mental de uma disposição antipolítica, já que trazia para o núcleo da crença política a pretensão de verdades absolutas e receitas abstratas para construção de mundo melhor, mas que tinha como consequência inevitável o perturbador uso da violência para tal fim. Portanto, em certa medida, perigosíssima para quem se mete com o poder. Naquela ocasião, todos os meus argumentos se moviam no intuito de esclarecer que toda ação política precisa, primeiro, reconhecer limites humanos concreto cujo fundamento é uma experiência pré-teórica básica incontestável: quando se é mortal, é preciso pensar e agir como mortal. A política como esperança é uma forma sorrateira de declarar ódio profundo à nossa natureza mortal. Em resumo: não aceitar o fato de sermos seres imperfeitos, finitos e limitados. Por isso — escrevi na época —, o desejo último da política como esperança é o de glorificar o poder do Estado como detentor do monopólio não do uso legítimo da violência, mas do monopólio simbólico da verdade absoluta e da imortalidade, portanto, da experiência última da ordem final e, consequentemente, da decisão sobre a vida e a morte. Pois espera do Estado a competência de realizar “perfeição, salvação e imortalidade” como o último estágio a ser alcançado pela política da fé. Defendi e ainda defendo que a política só ganha quando deixa de lado verdades absolutas e princípios abstratos.
Para corroborar minha tese, recorri precisamente a Michael Oakeshott, que em seu A política da fé a política do ceticismo escreveu: a política da fé é “a política de imortalidade, a construção para a eternidade”. Ou, para usar a fórmula mais completa, “a política da fé compreende o governo como uma atividade ‘ilimitada’; o governo é onicompetente. Isso, na verdade, é apenas uma maneira distinta de dizer que seu objetivo é a ‘salvação’ ou a ‘perfeição’”. Não preciso dizer muito sobre o besteirol e as desastrosas consequências desse tipo de fé na política. É cega, é estúpida e é perigosa. E o pior de tudo é que atrai um bando de fanáticos querendo mudar o mundo, salvar o país, libertar o homem… Resumiria parafraseando Chesterton: o risco de não se acreditar em Deus — que em política só serve para a gente não se esquecer da nossa condição de mortal — é acreditar em qualquer coisa, principalmente acreditar que só por meio da política nós possamos resolver o problema da nossa imperfeição. Embora escrito em 1952, A política da fé e a política do ceticismo, recém lançada pela É Realizações, é o livro do ano, pois vem numa boa hora para nos ajudar a suspeitar, com prudente ceticismo, das atuais promessas políticas.
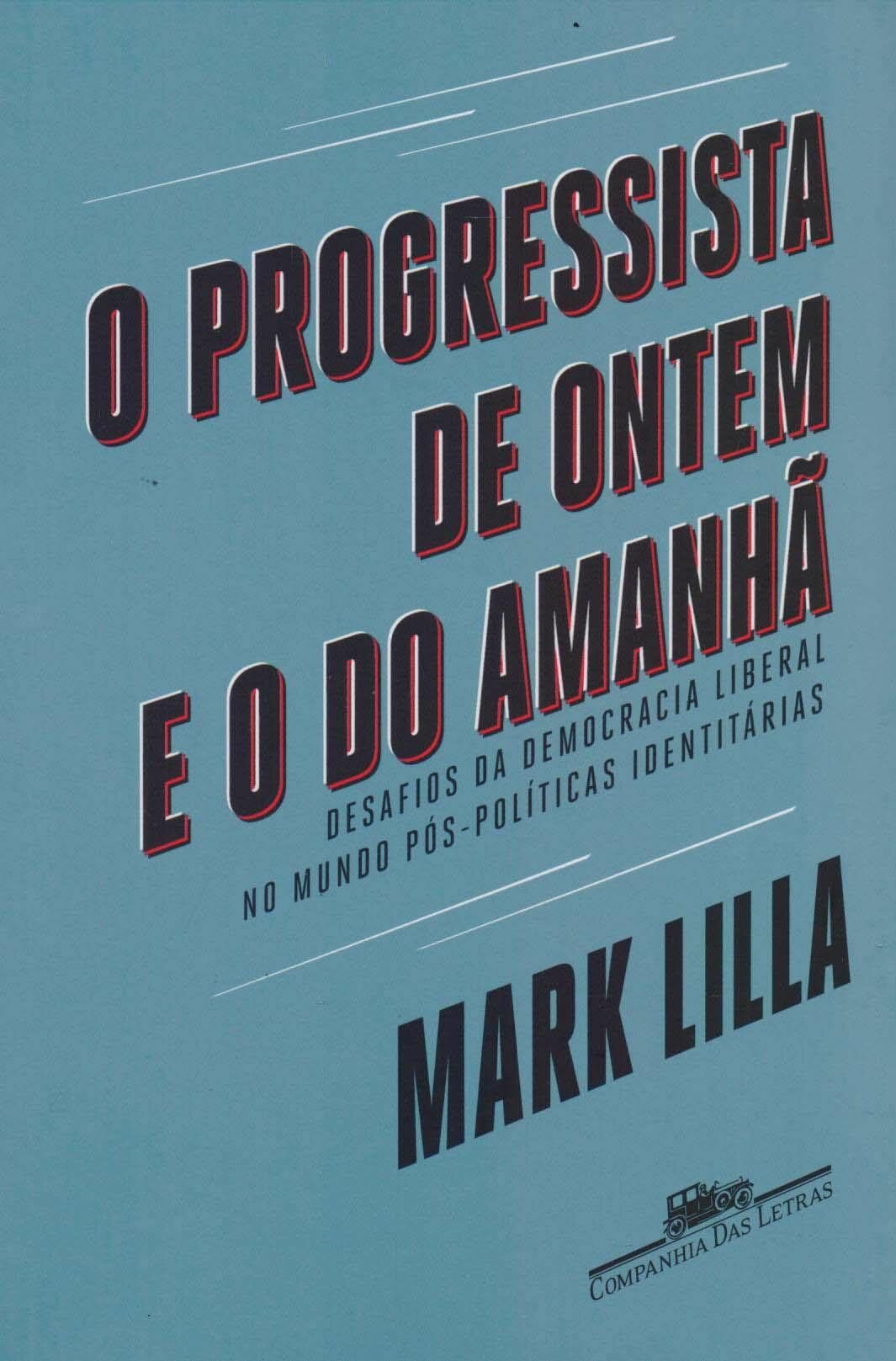 O Progressista de Ontem e o do Amanhã: desafios da democracia liberal no mundo pós-políticas identitárias
O Progressista de Ontem e o do Amanhã: desafios da democracia liberal no mundo pós-políticas identitárias
Mark Lilla
Companhia das Letras, 120 páginas
por Jerônimo Teixeira – Este é um livro de intervenção circunstancial sobre a realidade política dos Estados Unidos. O autor, Mark Lilla, cientista político da Universidade de Columbia, demonstra seu pensamento de longo curso em dois belos ensaios de história das ideias publicados no Brasil pela Record, A Mente Imprudente e A Mente Naufragada. O Progressista de Ontem e o Progressista de Amanhã, porém, tem uma preocupação mais imediata: os rumos erráticos da esquerda americana. Lilla levantou muita gritaria em 2016 com um artigo na seção de opinião do The New York Times em que argumentava que o discurso identitário de Hillary Clinton, com seu permanente apelo a grupos e minorias — afroamericanos, LGBT, latinos — contribuiu imensamente para sua derrota eleitoral para Donald Trump. O livro expande e detalha esse argumento. Lilla lembra que as duas grandes matrizes da política americana do século XX — Roosevelt à esquerda e Reagan à direita — professavam ideias de unidade nacional, um ideal de país que reunia igualmente todos os americanos. Ao insistir nas identidades grupais, a esquerda americana contemporânea perdeu o contato com sua base trabalhista, centrando-se sobre um ambiente universitário no qual só se ensinam os alunos a serem “arautos da própria identidade”, desprovidos de “curiosidade sobre o mundo fora de suas próprias mentes”. É uma das críticas mais inteligentes e incisivas que já se fez à esquerda americana (por extensão, talvez também à esquerda brasileira, que macaqueia muitas das ideias acadêmicas dos imperialistas culturais do norte). Escrita, circunstancialmente, por um pensador de esquerda.
* * *
Amálgama
Site de atualidade e cultura, com dezenas de colaboradores e foco em política e literatura.








