A limpeza étnica e o genocídio revelam a obsessão purista de certas utopias.
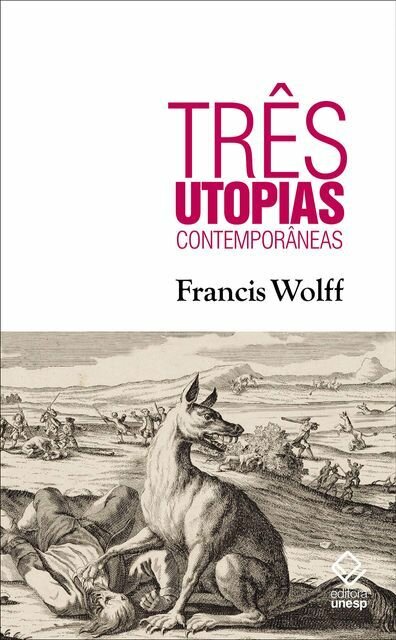
“Três utopias contemporâneas”, de Francis Wolff (Unesp, 2018, 126 páginas)
Associa, se quiseres, esse meu caso
no limite da esquizofrenia
ao sonho messiânico
de minha civilização.
“Carta”, de Czesław Miłosz
Depois da morte de Deus, a declaração do fim das utopias talvez tenha sido um dos mais célebres enterros prematuros do Ocidente. Essa declaração, porém, não raro procede de uma identificação apressada (e equivocada) entre história e ideologia, como no paradigmático caso de Fukuyama, em que liberalismo e eschaton aparentemente se fundiram.
Desde os movimentos milenaristas e subversivos da Idade Média que retomavam o ideal simbólico de Papias de Alexandria até ao chamado hemoclisma (Steven Pinker) do século XX, ou, em contrapartida, desde a cidade celestial dos filósofos do século XVIII[1] até os falanstérios americanos do século XIX, o termo utopia goza da ambiguidade típica das ideias políticas modernas.
Se, no entanto, quase não há mais respeitabilidade intelectual para com aqueles que apregoam os ideais que inflamaram os movimentos sociais, em especial europeus, ao longo dos últimos três séculos, isto, contudo, não legitima as declarações do fim das utopias. Na verdade, como o filósofo Francis Wolff diz em seu Três Utopias Contemporâneas, a tônica dos totalitarismos do século XX, como se sabe, baseou-se antes numa tentativa de “purificação” deste mundo que na construção de um ideal:
Ao contrário de suas predecessoras, as utopias em ação dos totalitarismos do século XX situam-se no cruzamento de um ideal revolucionário (“partir ao meio a História do mundo”, segundo Nietzsche em Ecce homo, depois retomado pelos maoístas) e um programa realista de transformação política radical… Não é mais uma questão de sonhar com o Bem, mas de lutar indefinidamente contra o Mal. E, desde a República de Platão, o Mal na comunidade política tem duas faces: ou é Impuro ou Desigual. Portanto, a Cidade deve ser: ou uma comunidade de iguais, cuja unidade perfeita é garantida pelo fato de que tudo é comum entre eles; ou uma comunidade pura, cuja unidade perfeita é garantida pelo fato de que todos têm a mesma origem (p.9).
As “utopias” visadas no século XX, como já lembrou Bauman, banhadas pela ressaca das concepções organicistas da história, estabeleciam suas metas e formavam seus padrões com base na regeneração da sociedade (fascismo) ou, como no tenebroso caso nazista, na sua purgação. Portanto, “nessa união de idealismo revolucionário e realismo programático, o Bem absoluto, o Puro, o Comum, é uma idealidade fora do alcance: o combate mortal contra o Mal torna-se a obsessão dos regimes de terror” (p. 9).
O resultado óbvio dessa mentalidade, que ainda se mantém e eclode em determinadas ocasiões nos nossos dias, é o “ideal purista” e um corpo social hipocondríaco, absolutamente imerso na busca de seus supostos infectantes ou impurezas. Com efeito, a “limpeza étnica” e o “genocídio”, as grandes atrocidades das últimas décadas, revelam essa obsessão purista de certas utopias. E exemplos, infelizmente, não faltam: “genocídio ruandês contra tutsis, depuração étnica dos muçulmanos na ex-Iugoslávia (em particular na Bósnia), limpeza étnica de cristãos, turcomanos xiitas e no autoproclamado ‘Estado Islâmico’, etc.” (p.11).
Há, porém, uma antinomia que necessariamente gera grande parte das problemáticas contemporâneas. Em termos concretos, a obsessão contra o “elemento estranho”, a “mixofobia” (citando novamente Bauman) e todas as oposições contra aquele (ou aquilo) que não é idêntico são, em última instância, uma revolta contra a irredutibilidade da personalidade humana e de sua respectiva cultura. Há uma essência humana que não dispensa, por óbvio, as circunstâncias e particularidades. Em contrapartida, como reflete um Michel Villey, grande parte das discussões internacionais sobre os direitos do homem pauta-se numa concepção abstrata ou mesmo limitada de ser humano – daí, por exemplo, algumas reivindicações legítimas com relação à representatividade feitas por grupos da esquerda.
Assim, a antinomia mencionada acima dá-se entre os polos de uma concepção particularista do homem (que nega sua essência) e uma concepção abstrata (ou generalista) que desfaz ou não leva em conta suas particularidades. Repetindo a pergunta do Salmista: “que é o homem?”. Há um espaço propício e próprio para esse ente que não se identifica mais como imagem de Deus, mas nem com as bestas?[2]
À vista disso, as três utopias do título buscam, cada uma a seu modo, uma resposta para essa situação do homem, e, de acordo com sua resposta, lançam as bases políticas – e mesmo cósmicas – de um mundo se não ideal, ao menos, nos seus respectivos entendimentos, menos maligno.
A utopia pós-humanista
Desde que Julian Huxley, ao que parece, cunhou o termo “trans-humanismo”, imagens de terror ou esperança seguiram-se quase que necessariamente à sua simples menção. Como já dito, a identificação entre história e ideologia levou à proclamação do encerramento dos tempos em Fukuyama; de igual modo, a identificação entre progresso técnico e história conduziu (ou ao menos influenciou) ao “fim da arte” de Arthur C. Danto, e agora nos leva à ideia do homem pós-histórico, posicionado no ponto arquimediano de uma razão a-histórica. Nesse sentido, segundo Wolff:
Se definirmos o trans-humanismo pelo projeto de melhoramento infinito das capacidades físicas, intelectuais e morais dos seres humanos, graças à “convergência NBIC” (nanociências, biotecnologias, informática e ciências cognitivas), a utopia pós-humanista será definida pela ideia de que esse melhoramento conduzirá à vitória sobre o envelhecimento biológico e a morte, portanto ao nascimento de uma nova espécie: os pós-humanos (p.25).
Novamente: cada uma das três antropologias filosóficas conduzirá a uma compreensão distinta da relação do homem com a técnica e com os demais seres, gerando concomitantemente uma visão cósmica a seu molde. Desse modo, a utopia pós-humanista baseia-se na visão iluminista do homem: sua capacidade inventiva, sua racionalidade e dominação sobre o mundo animado e inanimado formam o núcleo de sua identidade. “O homem é um herói triunfante. É um semideus que venceu a natureza graças à sua inteligência prometeica. Não existe um recanto sequer da Terra onde ele não tenha feito sua morada ou que não tenha sido transformado por ele” (p.26). Nesse sentido, a natureza é um campo de conquista, de subjugação pela técnica, e as relações entre homem e natureza se concentram num duelo eterno pelo domínio.
O núcleo dessa “filosofia trans-humanista que fundamenta a utopia pós-humanista” são os avanços técnicos e científicos desde o século XIX, alguns dos quais promoveram não somente o aumento da expectativa de vida, mas também do extrato orgânico do homem: aspirina, penicilina, antibióticos, implante de órgãos, por exemplo. Juntamente à crescente complexidade das máquinas, essa melhoria material conduz à concepção do pós-humano: um homem “cujas funções vitais, sensoriais e intelectuais não serão mais realizadas por simples e rudimentares órgãos naturais, mas por próteses de rendimento ilimitado, que permitirão a aquisição de novas aptidões e, portanto, a expansão do campo das liberdades de ação individual” (p. 28).
As consequências mais imediatas dessa interface serão, no entendimento do autor, a humanização da máquina e a maquinização do homem, isto é, respectivamente, o sonho ou temor de que a máquina assuma o estágio de autoconsciência e uma espécie de autopoiesis (Humberto Maturana) e a “liberdade morfológica” (a reformulação da própria estrutura humana).
O grande problema dessa primeira utopia, entretanto, é o fato de que ignora que o abismo entre homem e máquina é devido precisamente à animalidade do homem, à sua natureza encarnada, por assim dizer. Não se possui um corpo como se possui um veículo, é o eu que sofre, não um receptáculo estranho. Nas palavras de Wolff:
Os cálculos mais difíceis prescindem da consciência, porque prescindem do corpo, mas não a dor de dente, a náusea ou o sentimento de humilhação. A encarnação do pensamento em um corpo manifesta-se em estados de consciência considerados inferiores: dor, prazer, emoções. Nossa inteligência não é uma aptidão ao cálculo, mas uma inteligência da situação. Nossa razão não é uma capacidade lógica, mas uma disposição dialógica que se forma na relação com o outro. Portanto, somos “racionais” porque somos animais vivos. Somos, talvez, “animais iguais aos outros”, mas é por isso que não somos máquinas: nossa humanidade é uma função de nossa animalidade, que, por sua vez, é um conjunto de funções da vida e do vivente enquanto tal (p.33).
Há ainda outros problemas de ordem ética que o autor aponta: no caso, um ideal libertário de utopia que persegue a libertação do homem mesmo de suas amarras orgânicas e naturais, se levado a cabo, conduziria à tirania da técnica e mesmo à diferenciação de raças. Isto é, teríamos um conjunto (não mais uma humanidade) de indivíduos belos, saudáveis, poderosos e inteligentes (entes reformulados) e aqueles que, por falta de acesso às tecnologias ou por recusarem-na, seriam gradativamente excluídos, ou, mais provavelmente, subjugados. Nessa nova situação eugenista, às desigualdades econômicas, acrescentar-se-ia o apagamento ou uniformização forçada dos talentos ou dons naturais (a bem da verdade, a própria ideia de superação não faria sentido).
A utopia animalista
A segunda utopia contemporânea é aquela que, segundo Wolff, se define “pela ideia de que é preciso ‘libertar’ os animais ou os produtos derivados deles para satisfazer suas necessidades, desejos ou caprichos” (p. 43). Assim, o homem, o superpredador, abdicará de sua própria natureza, abandonando pois o ápice da cadeira alimentar. “Libertando as outras espécies, ele libertará a si mesmo”.
Portanto, é uma espécie de revolução antípoda à revolução pós-humanista, já que não se centra no domínio da natureza por parte do homem; antes, denuncia-o como uma apropriação indevida dos demais seres. Enquanto uma eleva a potência do homem ao céu, não raro por meio da engenharia de novas torres de Babel, a outra busca a mortificação da vontade de potência do homem. No entanto, tal como a primeira utopia, revolta-se contra a atual condição do homem, e busca reduzi-lo ao denominador comum de sua animalidade.
Ademais, diferentemente da utopia pós-humanista, a utopia animalista suscita certa simpatia, quando não comiseração, na opinião pública, além do apoio de organizações internacionais e, em alguns casos, políticas. A visão antropológica, por óbvio, é inteiramente destoante daquela apregoada pelos trans-humanistas:
O homem não é um semideus que venceu a natureza graças à sua inteligência prometeica: ele é um anti-herói agressivo, o carrasco da natureza da qual é predador. Não há um recanto sequer da terra onde ele não tenha feito sua morada, a ponto de colonizar os territórios de todos os outros viventes; não há um pedaço sequer do planeta que suas técnicas invasivas não tenham violado. Elas domaram os rios, destruíram as planícies, esgotaram o solo e o subsolo para extrair metais e energia (p. 45).
É dentro dessa atmosfera que os direitos animais adquirem mais sentido que os deveres dos homens. O antropocentrismo é a doença do homem, e a história, em vez de construção simbólica e existencial do homem, dá lugar à era “geológica” do antropoceno – a era da destruição e dos detritos produzidos por esse agente da erosão que é o homem.
No entanto, como Wolff esclarece, todas as três utopias procedem de certas imagens iluministas do homem. No caso da primeira e segunda serão, respectivamente, o homo economicus, o arquiteto de civilizações cuja razão está atrelada à Razão; e o bom selvagem que tem suas ligações afetivas com a natureza rompidas com o advento das formalizações sociais. Desse modo, tal como na primeira utopia citada, a animalista tem como objetivo a humanização do animal e a animalização do homem.
Cabe, no entanto, a diferenciação entre “animalismo” e “ecologia”. Os desastres ecológicos, embora tenham auxiliado na difusão da ideologia animalista, parte de pressupostos e preocupações opostos:
O animalismo só se interessa pelos indivíduos; a ecologia é holista e se preocupa com o equilíbrio global entre as espécies nos ecossistemas. O animalismo só se importa com os animais na medida em que estes podem sofrer; a ecologia não faz diferença entre espécies de viventes sensíveis e não sensíveis. Ao contrário da ecologia, o animalismo se preocupa com o destino de animais que têm pouco peso no meio ambiente natural (animais de criação, estimação e trabalho). O animalismo considera que o sofrimento e a morte dos animais são um mal que deve ser erradicado, ao contrário da ecologia, que os vê como componentes necessários da vida e da dinâmica natural (p. 55).
E, de fato, é esse um dos grandes (e insuperáveis) entraves à utopia animalista: a incoerência, num primeiro momento, entre a ideia de que o homem vive sob o império da “lei da selva” em suas relações com a natureza e a ideia de que há, neste mundo, uma ordem harmônica preestabelecida; a recusa de que o predatorismo é uma condição natural nos habitats, e que, por vezes ao longo da história, o desequilíbrio ecológico, ou mesmo a seleção artificial por parte homem, conduziu à mortandades maiores do que a morte das habituais presas (o autor cita, por exemplo, a multiplicação de ruminantes na Austrália do início do século XX que destruiu plantações sem conta, levando por óbvio populações à fome).
De igual modo, a comiseração com o sofrimento dos animais (que é, até certo ponto, justa) é precisamente um índice de nosso distanciamento para com eles. Dito de outro modo, quando reduzimos o homem à animalidade que tem em comum com demais animais, estamos na verdade eliminando o principal traço que nos permite ajudá-los: a ética. Assim, “não se pode reduzir o humano ao animal apoiando-se somente no que é característico do homem: a ética” (p. 61).
A utopia cosmopolítica
A terceira e última utopia apresentada por Francis Wolff é aquela que “aspira à polis do mundo humano… a utopia cosmo-polita” (p. 75). Se a primeira é técnica e portanto trans-humanista, e se a segunda concebe um mundo natural e de comunhão zoológica, esta utopia, por sua vez, é marcada pelo ideal de supressão das fronteiras do homem e consequentemente pela vivência plena do humano.
Sabe-se que os estoicos e cínicos foram os primeiros a se valerem da ideia de uma cosmópolis, que talvez anseia não tanto pelo mundo como uma cidade, mas sim por uma cidadania universal. Como animal também político, o homem está imerso no etos de uma comunidade regida por certos princípios, ordens e instituições:
Não existe política sem a ideia de uma comunidade separando o “nós” e o “eles” – o que denominamos… “político”. Mas também não existe política sem uma instância jurídica e policial garantindo a ordem social – o que denominamos… a “política”. Assim, os homens vivem em paz, ora oprimidos pelo peso de um poder absoluto, tirânico e arbitrário, ora governados por leis justas que lhes permitem desfrutar de uma liberdade igual para todos” (p. 77).
Nessa terceira utopia, o que caracteriza seu ideal – assim como o “pecado original” a que é preciso opor-se – não é a maestria ou a comunhão com a natureza, mas o equilíbrio e plenitude das relações dos homens com os seus iguais. “O que caracteriza os homens não é o antagonismo que os opõe à natureza, mas o antagonismo que os opõe entre eles ou entre os Estados em que eles vivem para remediar esse argumento” (p. 78).
O próprio Wolff sabe que essa utopia cosmopolítica é talvez a mais inexequível de todas. No entanto, segundo seu entendimento, é não somente aquela que remonta a uma linha de pensamento humanista que atravessa as eras da história ocidental, mas é especificamente aquela que uniria os homens em sua condição singular. Os males contra os quais essa utopia se insurge são a guerra e a estraneidade (a condição de estrangeiro). De fato, ao menos desde a Paz de Versalhes, com muitos de seus ideais inspirados em Kant (À Paz Perpétua), a guerra e suas relações com a soberania e as questões étnicas têm-se imbricado em quaisquer reflexões liberais sobre um possível cosmopolitismo. A utopia cosmpolítica é, porém, uma “utopia em segundo grau”:
[É] uma utopia cosmopolítica além de todas as utopias – que sempre circunscreveram o imaginário à Cidade. Não se trata mais de conceber uma Calípolis, uma Cidade ideal, ou uma Zoópolis protegida por fronteiras que abrigam cidadãos privilegiados. Não se trata mais de pensar que essa Cidade será em algum outro lugar, em “nenhum lugar” (ou-tópos, u-topia): ela será aqui, no mundo; ela será o mundo. Pois mesmo um Estado ideal, uma república fraterna ou uma Cidade perfeitamente justa sempre se baseiam na distinção entre interior e exterior, cidadão e estrangeiro, território de dentro (o nosso) e território (o do outro). Na utopia cosmopolítica, não existe distinção entre interior e exterior, consequentemente não existe distinção entre política e moral. (p.82)
Desse ponto em diante, embora traçando um raciocínio em parte bem fundamentado no tocante à artificialidade de algumas fronteiras e supostas diferenças histórico-culturais de determinadas nações, o autor tende paulatinamente a uma visão abstracionista das relações entre comunidades e, adiante, entre os Estados-nações. Embora avesso à ingenuidade dos movimentos pela abolição de todas as fronteiras, Wolff entende que a noção de identidade, assim como a demarcação artificial (e portanto impositiva) de fronteiras, tem sido o motor quase exclusivo das guerras.
De fato, os xiboletes procedem, no mais das vezes, do narcisismo de pequenas diferenças. E Perry Anderson não está inteiramente equivocado quando desconstrói algumas das noções habituais de nação. A Itália e a Alemanha, por exemplo, só foram unificadas no século XIX, e o Risorgimento nacionalista foi de certo modo pavimentado pelos Carbonari internacionalistas, de modo que os nacionalismos desses países são compostos de uma série de nuances, quando não de contradições. De semelhante modo, os ideais racistas pseudocientíficos do século XIX (Gobineau, Houston Stewart Chamberlain) não só justificaram a exploração da África (e posteriormente sua partilha arbitrária), mas fomentaram a execrável crença numa unidade e identidade europeias de origem étnica.
Evidentemente todos esses fatores são como afluentes para os eventos posteriormente caudalosos do século XX. No entanto, talvez Wolff tenha lançado bases instáveis quando afirma que “as depurações étnicas, os extermínios em massa e até mesmo os genocídios nasceram dessa ideia ilusória [de que as nações têm fundamentos reais]. Logo devemos abolir as fronteiras. Devemos ser cidadãos do mundo”. (p. 87).
O grande obstáculo à cidadania cósmica é precisamente a pluralidade das culturas, ou mais corretamente: sua irredutibilidade. Uma cultura não se reduz a conceitos, nem mesmo a seus ritos e costumes (que é o que pensamento filisteu entende). Obviamente a condição humana é comum a todas as culturas (e embora Wolff dificilmente negasse isso, certamente teria de debruçar-se sobre o sentido da expressão), mas é precisamente por isso que é inexato o entendimento de que as guerras, xenofobia, chauvinismo e outros males procedem sempre da institucionalização e formação artificial de mitos.
Ora, essa condição só é suscetível de expressão dentro da história, nas circunstâncias e em meio a relações minimamente estabelecidas. Ademais, é propícia a indagação: não seria a própria natureza humana que, a fim de racionalizar seus segregacionismos, buscaria por elementos cada vez mais específicos e exclusivos?
Para Wolff, no entanto, há duas perspectivas que se desdobram a partir dessa visão utópica que procede, assim como as duas anteriores, do individualismo liberal, pois “quanto menos dependentes nos sentimos do local, mais nos sentimentos pertencentes ao global”. Ora, a “primeira leitura (desfavorável) considera que a atitude cosmopolítica – a que leva à defesa de um cosmopolitismo radical – é privilégio dos que podem dar-se ao luxo de não ser de lugar nenhum e estar em casa em qualquer lugar” (p. 94).
São os que fazem parte de uma elite que viaja “à maneira ocidental” e a seu talante, pois, independentemente dos países ou lugares que visitam, gozam da mesma segurança e conforto que possuem em seus países. Para Wolff, esse universalismo está fortemente eivado de “relativismo: eles não acreditam em nada além deles mesmos. Não têm passado e pensam exclusivamente em seu futuro. São cidadãos do mundo porque, no fundo, o mundo já pertence a eles” (p.94-95). Por trás desse ramo está o liberalismo.
A segunda leitura, porém, tida como favorável, é a que considera o cosmopolita um “produto necessário e positivo da Modernidade”, já que “marca o esgotamento das fidelidades tradicionais ao grupo familiar, às superstições locais, aos ritos absurdos, o fim da submissão às leis do clã, às fofocas de aldeia, às superstições daninhas, aos preconceitos raciais, aos mitos nacionalistas, às crenças xenofóbicas”. Em resumo, “o cidadão do mundo é simplesmente o homem do Iluminismo. Ele contribuiu para o esclarecimento do mundo” (p. 95). Subjacente a essa perspectiva está, sempre segundo Wolff, o humanismo universalista.
Ao que parece o autor apresenta sua própria “interpretação Whig da história”, reduzindo e identificando todas as comunidades a seus vícios, ou mesmo estendendo as várias mazelas burguesas à totalidade da história. Não há necessidade de determo-nos num contraponto à visão de Wolff.[3] A questão que nos interessa presentemente é: a identificação do homem cosmopolita com o homem do Iluminismo redunda em abstracionismo, já que os philosophes e enciclopedistas por vezes se opuseram a esse entendimento.
Acaso existe a possibilidade de conciliação entre os ideais fisiocratas de Turgot (para quem a terra é a fonte das riquezas das nações) e o ideal cosmopolita de Wolff, que pressupõe a dissolução das fronteiras que delimitam essas mesmas terras? E o que dizer ainda de Turgot, que, quando ministro-geral das Finanças do rei Luís XVI, proibiu formalmente, por meio de um édito (1776), as corporações de ofícios, descritas por ele como os corps intermédiaires que formavam centros coletivos de poder entre o Estado e o indivíduo? Conservadores ou progressistas entendem que essa atitude privou os franceses de certas liberdades – seja por conta da remoção das instituições que amorteceriam o impacto crescente do Estado, seja porque fomentou então o sistema capitalista de produção, respectivamente. De todo modo, a eliminação súbita dessas corporações (não obstante suas eventuais injustiças) propiciou não a liberdade, mas a fragilização de trabalhadores franceses. E obviamente isso se aplica ao caso de outras comunidades.
Por fim, cabe a questão sobre a possibilidade ética dessa utopia: a contrapartida lógica da cidadania universal não seria uma inexequível solidariedade para com todos, que, no melhor dos casos, seriam convenientemente ignorada? A declaração de amor à Humanidade, como já se sabe, não somente é topos retórico revolucionário, mas também – especialmente nesse caso – uma contraposição ao ideal liberal da utopia cosmopolítica. Pois, nesse caso hipotético, a abstração do Homem Universal tomaria inevitavelmente o lugar do indivíduo concreto, histórico e livre, para que a ficção da cidade universal se sustentasse. Note-se que o termo utilizado acima é “solidariedade”, isto é, não somente o respeito aos direitos inalienáveis do homem, mas o componente social e afetivo que se faz presente, em maior ou menor grau, numa sociedade diferenciada.
Assim, se houve inegavelmente ao longo da história invenções de tradições, como queriam Hobsbawm e Ranger, essas formações – meio artificiais, meio orgânicas – não se deram arbitrariamente; antes, procederam necessariamente de um vínculo afetivo ou solidário, uma identificação de afetos quaisquer, que existiam anteriormente às fronteiras ou identidades “artificiais”.
______
NOTAS
[1] Cf. The Heavenly City of the Eighteenth-Century Philosophers, de Carl L. Becker
[2] É o tema de discussão de outra obra de Wolff: Nossa humanidade: De Aristóteles às neurociências (UNESP, 2012).
[3] Uma visão mais madura sobre o período anterior ao Iluminismo, sem os reducionismos (ou caricaturas) de Wolff, é o célebre estudo de Karl Polanyi, A Grande Transformação, a despeito de eventuais pontos controversos.
Fabrício de Moraes
Tradutor, doutor em Literatura (UFJF/Queen Mary University of London).
[email protected]





