13 livros lançados entre novembro do ano passado e hoje, escolhidos por nossos colunistas e autores convidados.

* * * * *

Poesia completa. João Cabral de Melo Neto. Alfaguara, 896 páginas.
por Gustavo Melo Czekster
A pandemia em 2020 deixou praticamente em segundo plano as comemorações pelo centenário de dois dos maiores escritores que o Brasil já produziu, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. Por esse motivo, merece louvor a publicação desse Poesia completa, de João Cabral de Melo Neto, que faz um apanhado abrangente e completo das poesias escritas pelo autor pernambucano, trazendo inclusive textos póstumos e inéditos. Eis um poeta que merece ser relido, e devagar; é difícil ler mais que duas ou três poesias em sequência sem sentir vontade de fechar o livro e respirar um pouco, encharcando-se de uma beleza rígida, sensata, que ainda paira no ar. Poucos poetas foram tão econômicos na construção dos versos e, por isso mesmo, poucos são aqueles autores que podemos dizer que são capazes de extrair a máxima potência poética de cada mínima palavra inserida na sua poesia. Percebe-se um esforço quase obsessivo para fazer com que cada palavra esteja no seu lugar exato, cada verso exprima exatamente aquilo que o poeta deseja, cada poesia seja única e singular como uma joia preciosa exaustivamente trabalhada. Foi um grande prazer reencontrar a sonoridade de “A educação pela pedra” e “Morte e vida Severina”, assim como foi uma surpresa ler pela primeira vez “Psicologia da composição” e “Pedra do sono”. Em tempos onde os poetas deixam de lado as rimas, os ritmos e a força das imagens poéticas, preferindo se concentrarem em passar uma mensagem ou uma sensação individual, é um grande alívio encontrar as poesias de João Cabral de Melo Neto e redescobrir a força telúrica de um poeta tão contido, tão universal.
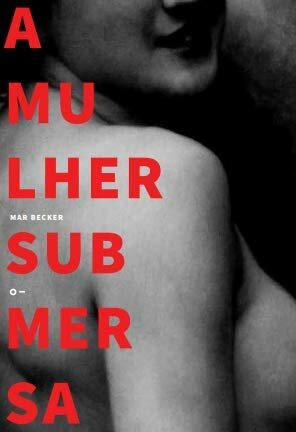
A mulher submersa. Mar Becker. Urutau, 128 páginas.
por Emmanuel Santiago
Confirmando a ótima fase da poesia brasileira e fechando a década que marca o surgimento de uma geração de poetas que está revigorando nosso meio literário para além do que permite supor o catálogo das grandes e mais tradicionais editoras, 2020 trouxe um número considerável de lançamentos de peso. Dentre eles, destaca-se A mulher submersa, livro de estreia de Mar Becker. Descrever tal obra como “livro de estreia”, porém, pode induzir o leitor ao erro. A mulher submersa é o produto do longo processo de maturação poética de sua autora, que há alguns anos já vem chamando atenção por sua obra dispersa em diversos sítios virtuais e veículos impressos. Becker estreia em pleno domínio de seus recursos expressivos e seu livro atinge a cena da poesia brasileira como uma revelação, um Apocalipse. Num registro fluido entre o verso de alta densidade semântica e a prosa poética, a obra se caracteriza por extrair o sublime, inclusive em sua feição terrível, dos eventos mais ordinários. Não se trata, no entanto, de uma “poetização do cotidiano” — fórmula mais do que surrada na produção e na crítica contemporâneas —, mas da transfiguração do cotidiano em algo ao mesmo tempo estranho e familiar (Unheimlich, diria Freud), em que o efêmero ganha uma dimensão arcaica e a experiência particular revela um atavismo arraigado no mais recôndito da mente humana e do corpo feminino, compondo um universo íntimo tão mítico quanto imanente.
 Um sol de bolso. João Filho. Mondrongo, 91 páginas.
Um sol de bolso. João Filho. Mondrongo, 91 páginas.
por Rodrigo Duarte Garcia
Às vezes tenho a impressão de que nunca precisamos tanto de poesia. Uma bobagem, evidentemente. Sempre, sempre estivemos cercados da gritaria estridente de chacais e hienas. Mas não deixa de ser interessante – e, de verdade, maravilhoso – que bem agora seja claramente possível identificar o ressurgimento de grandes poetas brasileiros com a unidade estética de quem combina a coloquialidade ao apuro formal em sonetos, retrancas e sextinas. E seria idiota falar em qualquer espécie de reacionarismo estético. Ao contrário, meu amigo desgrenhado que ainda acredita ser o suprassumo avant la lettre ao postar no Instagram aqueles versos concretistas semianalfabetos, separando sílabas terminadas em “dor”: esses filhos de Bruno Tolentino, de Alberto da Cunha Melo, são hoje a vanguarda, o underground estético tão bem identificados por Wladimir Saldanha na antologia Poesia brasileira em contracorrente: o retorno estético do século XXI (Mondrongo, 2019).
E João Filho é um dos maiores desses poetas. O seu recente Um sol de bolso é, de verdade, enorme. Está tudo ali: o rigor técnico e formal, o ritmo, a música, a linguagem, e um lirismo contido que, de maneira misteriosa, abre – num estalo – aquela brecha de contemplação ao que é bom, bonito e verdadeiro. E são justamente esses estalos e instantes metafísicos a matéria central de Um sol de bolso: O frêmito do pó nas alpercatas,/ os ângulos do sol nas borboletas. E: quando o verão lhe diz/ que, para este verão,/ outros incontáveis verões/ foram necessários,/ saiba que o instante mais ordinário,/ em toda uma vida, pode ser o ápice. É o instante que abre a Máquina do Mundo, mas que também pode fazer naufragar: Podemos naufragar dentro de casa,/ à mesa do café, num feriado;/ num braço de café desconfortável,/ enquanto o dia gira as suas facas. Os poemas de Um sol de bolso mostram todo o universo que existe em cada instante, e que, apesar do mal possível, há indícios de estrelas na fuligem. E esses indícios ali bastam. Se, no fim, é de joelhos a jornada, Lázaro, nós então suspiramos: E insistimos com esses resquícios de luz.
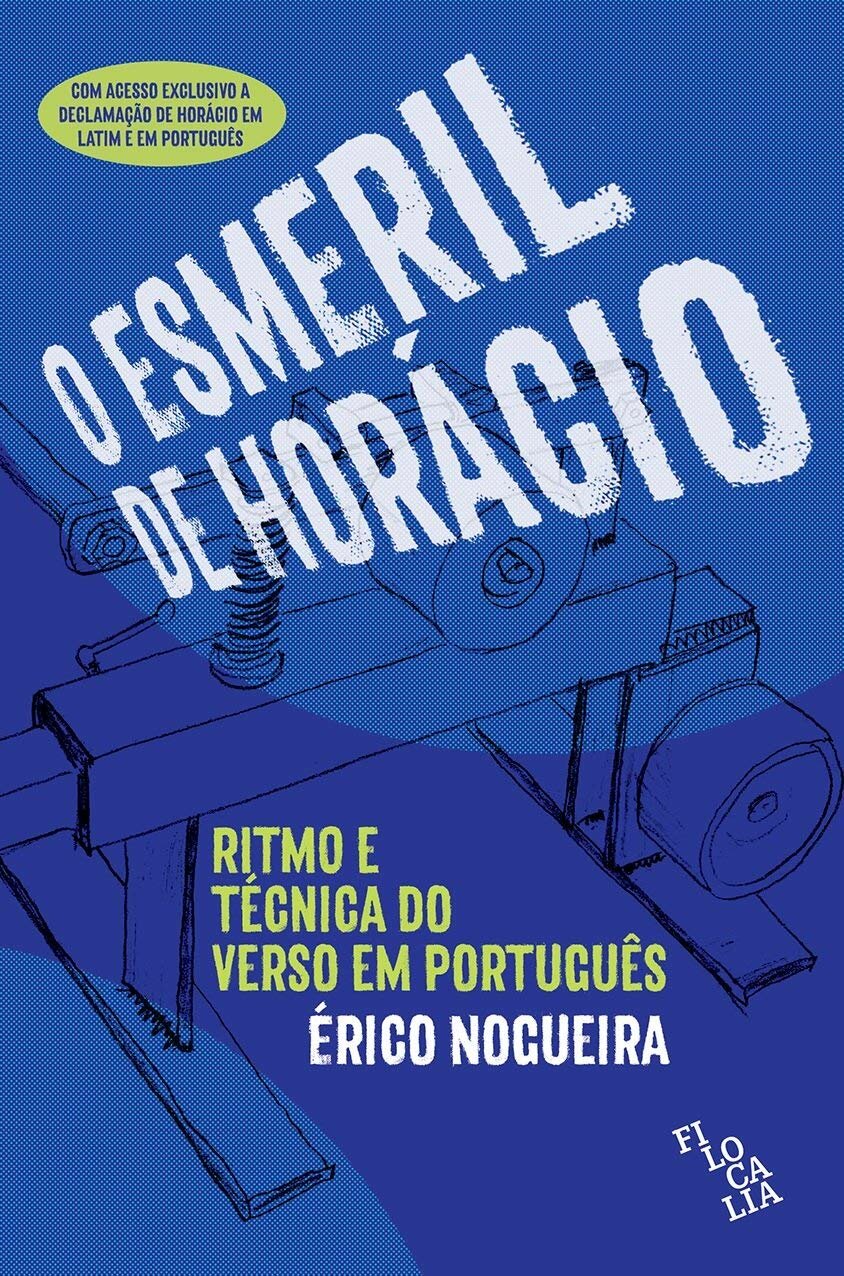 O esmeril de Horácio: ritmo e técnica do verso em português. Érico Nogueira. É Realizações, 216 páginas.
O esmeril de Horácio: ritmo e técnica do verso em português. Érico Nogueira. É Realizações, 216 páginas.
por Wagner Shadeck
Para Richard Wagner, o silêncio é o lugar onde poeta e músico partilham o indizível. Mas o que para o poeta é não dito, para o músico é expresso pela melodia infinita (unendliche Melodie). Do compositor alemão até o momento, o que esquenta as cátedras de letras clássicas é reconstituição, tradução e reprodução do amálgama poesia e música, seja a partir da equivalência de metros antigos com os modernos, seja pela criação de padrões melódicos, extraídos da recorrência sonora audível na forma lida, mantendo ou não aquela equivalência métrica, como feitos por Guilherme Gontijo Flores e Leonardo Antunes.
Diversa é a proposta de Érico Nogueira em O esmeril de Horácio. Parte da formação mesma do poeta, desde sua tradução dos Idílios de Teócrito, nesse livro, revela o ofício do verso em português. Ao contrário das correntes de tradução atuais, que rebaixam o poema original ao nível de uma letra de canção, a converter versões em instrumento político, como quando se traduz “rapto” por “estupro”, acenado aos pares sua iniciação no grupo, Érico Nogueira contempla as monumentais odes de Horácio sem olhos marejados, como os românticos chorões de ruínas, nem com o olhar lupinos dos contemporâneos, senão com fraternidade de amigo e a humildade de discípulo, que busca no mestre elementos firmes para uma formação sólida. A obra autoral de Nogueira, como Poesia Bovina, exemplifica o uso dessas técnicas apreendidas em Horácio. Como demonstrado no anterior Quase poética, o fito do poeta é o fazimento poético. É possível dizer que as Odes horacianas representam o coração mesmo de nossa tradição. São o ápice do ofício poético. Nelas estão as tradições lírica mélica, explorada agora por parte dos classicistas, como os supracitados, mas também a da poesia lapidar, epigramática, que não está vinculada ao canto, mas àquele silêncio do indizível de que falava Wagner, mediante recurso sintático e sintético das placas votivas, que encontrará, em língua portuguesa, em Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa, sua expressão excelsa.
Seria desnecessário dizer que este livro tem, além de áudio – que não chegamos a ouvir – e traduções exemplares, por vezes com arroubos de vocábulos, como “gostosa”, “merda” etc., um caráter didático, oferendo sugestões de leitura e exercícios de fácil assimilação, sem deixar de ser uma introdução à poética, tanto em colheita histórica do gênero das odes, que poderia ter incluído as do livro Odes e elegias de Magalhães de Azeredo (1904), como na expectativa pela publicação de seu estudo e tradução das Odi Barbare de Geoffrey Hill.

Lícidas. Leonardo Antunes. Zouk, 149 páginas.
por José Francisco Botelho
Corre por aí uma falsa sabedoria, segundo a qual só podemos falar sobre os problemas do nosso tempo se escrevermos história passadas aqui, agora, e de maneira ostensivamente moderna – frise-se aí o advérbio “ostensivamente”, pois o que se esforça demais para ser moderno tem grandes chances de já nascer velho. Exatamente por se disfarçar de sabedoria, essa falsidade tem efeitos devastadores sobre a imaginação. Um antídoto contra essa mazela contemporânea (contemporânea! pós-moderna! hiper-moderna!) é a peça-poema Lícidas (Zouk, 2019), de Leonardo Antunes. Paulista radicado no Rio Grande do Sul, Antunes é helenista, professor de língua e literatura gregas na UFRGS. Profundo conhecedor dos clássicos greco-romanos, é também um escritor de imaginação irrequieta, afeita a voos temporais e estilísticos que já nos renderam tesouros, como seu João & Maria – Coroa Dúplice de Sonetos Fúnebres. Em Lícidas, Antunes resgata um episódio da História de Heródoto. Durante a invasão do Império Persa à Grécia, os atenienses recebem um mensageiro enviado pelo comandante inimigo, trazendo uma oferta de paz. Lícidas sugere que seus cidadãos, em vez de recusar prontamente a proposta, exponham-na ao povo em uma assembleia. Em seguida é acusado de traição e apedrejado pela turba enfurecida – que, não satisfeita com uma única morte, massacra também a família do suspeito. Antunes conta essa história na forma aparente de uma tragédia, mas o faz jogando com os elementos tradicionais do gênero. Lícidas não é um personagem sublime e prestigioso, como costumavam ser os heróis trágicos: é apenas um desavisado que abriu a boca na hora errada, despertando os instintos destrutivos a que todo grupo humano está propenso a render-se, de tempos em tempos. O linchamento de Lícidas e sua família, recuperado por Antunes das profundezas da História, ecoa verdades sombrias da época presente: nossa cegueira, nosso impulso inquisitorial, nossos passos enfurecidos na busca incessante por bodes expiatórios. Nossa, nosso, nossos: pois é preciso uma vigilância constante para que a pólis não se renda à barbárie, de dentro para fora.
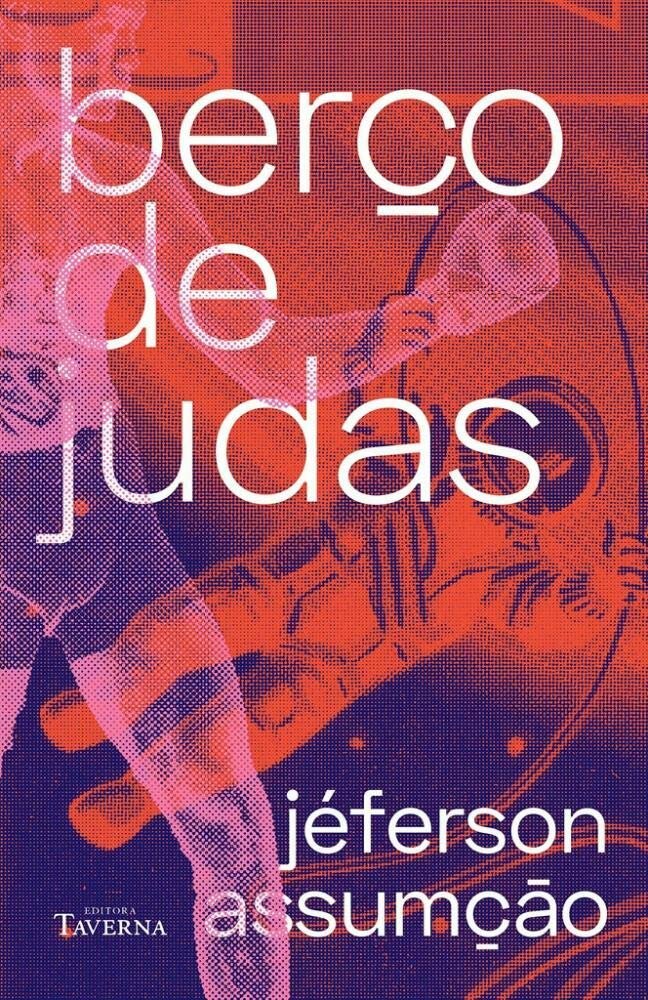 Berço de Judas. Jéferson Assumção. Taverna, 240 páginas.
Berço de Judas. Jéferson Assumção. Taverna, 240 páginas.
por Rafael Bán Jacobsen
Neste romance, o protagonista-narrador Yuri Franko Rodriguez, jovem aspirante a escritor, descontente com a tibieza de seus textos e do seu próprio corpo, entrega-se a um processo de transformação radical, da mente e do físico, buscando unir, em reprise do dilema de Yukio Mishima, a disciplina que hipertrofia a musculatura e prepara o homem para guerrear em êxtase de suor e sangue com o pacto irrevogável que todo verdadeiro artista precisa fazer para entregar sua vida (e sua morte) à literatura. Assim, pouco a pouco, o protagonista escreve aquela que pretende ser a sua grande obra e, dentro dela, cria e recria-se enquanto personagem: de rapaz magro, introvertido e desajeitado, inseguro com as mulheres e com a poesia e a ficção que produz, transmuta-se em um homem musculoso, agressivo e imponente, que carrega de pulsões – erótica e de morte – todos os seus atos: do relacionamento tempestuoso com a libertária Stela, passando pelas lutas clandestinas e pelas vinganças pessoais em que se envolve, até a construção do único epílogo possível para a sua magnum opus. E, nessa busca metamórfica, Yuri F. Rodrigues reviverá a tragédia de Mishima, porém dentro de sua mitologia particular – um universo povoado por lendas da corrida espacial soviética, demônios dostoievskianos e instrumentos de tortura medievais. Poucas vezes a literatura brasileira contemporânea trouxe uma personagem tão inteira, transparente e desnudada perante o leitor, construída por completo – passado, presente e futuro – em 360 graus diante dos olhos do leitor. E enxergar o humano assim, tão de perto, é fascinante. E aterrador.
 M, o filho do século. Antonio Scurati. Intrínseca, 816 páginas.
M, o filho do século. Antonio Scurati. Intrínseca, 816 páginas.
por Jerônimo Teixeira
Este é um livro de ficção. No entanto, há excertos de documentos históricos entre um capítulo e outro, o M do título é um personagem real, e a narrativa segue rigorosamente a sequência de eventos da história italiana de 1919 aos primeiros dias de 1925. É o tratamento dos fatos que faz desta obra um romance: Antonio Scurati nos convida à intimidade de dezenas de personagens reais, e, pelo milagre da narrativa moderna conhecido como discurso indireto livre, nos faz compartilhar das esperanças e temores até de seu execrável personagem central – Benito Mussolini. M, o Filho do Século reconstitui a rápida ascensão do fascismo, da fundação dos Fasci di Combattimento em 1919, em Milão, até o discurso desafiador de Mussolini no parlamento, em Roma, 3 de janeiro de 1925, quando o primeiro-ministro supera a crise aberta pelo assassinato de Giacomo Matteotti – um combativo deputado da oposição – e abre caminho para a ditadura. A aventura nacionalista e romântica do poeta Gabriele D’Annunzio na disputada cidade de Fiume (hoje Rijeka, na Croácia), a truculência das lutas de rua entre fascistas e socialistas, a Marcha sobre Roma de 1922, a gradual capitulação do establishment liberal ao autoritarismo de camisa preta – a prosa evocativa de Scurati conduz o leitor por todos esses eventos, sob a ótica dos protagonistas da história – não só fascistas: Matteotti, socialista moderado e feroz inimigo do fascismo, é o herói trágico do romance. Entre outros méritos, M, o Filho do Século demonstra como o autoritarismo se instala não só por força da violência de seus partidários, mas também graças à pusilanimidade daqueles que deveriam defender a democracia.
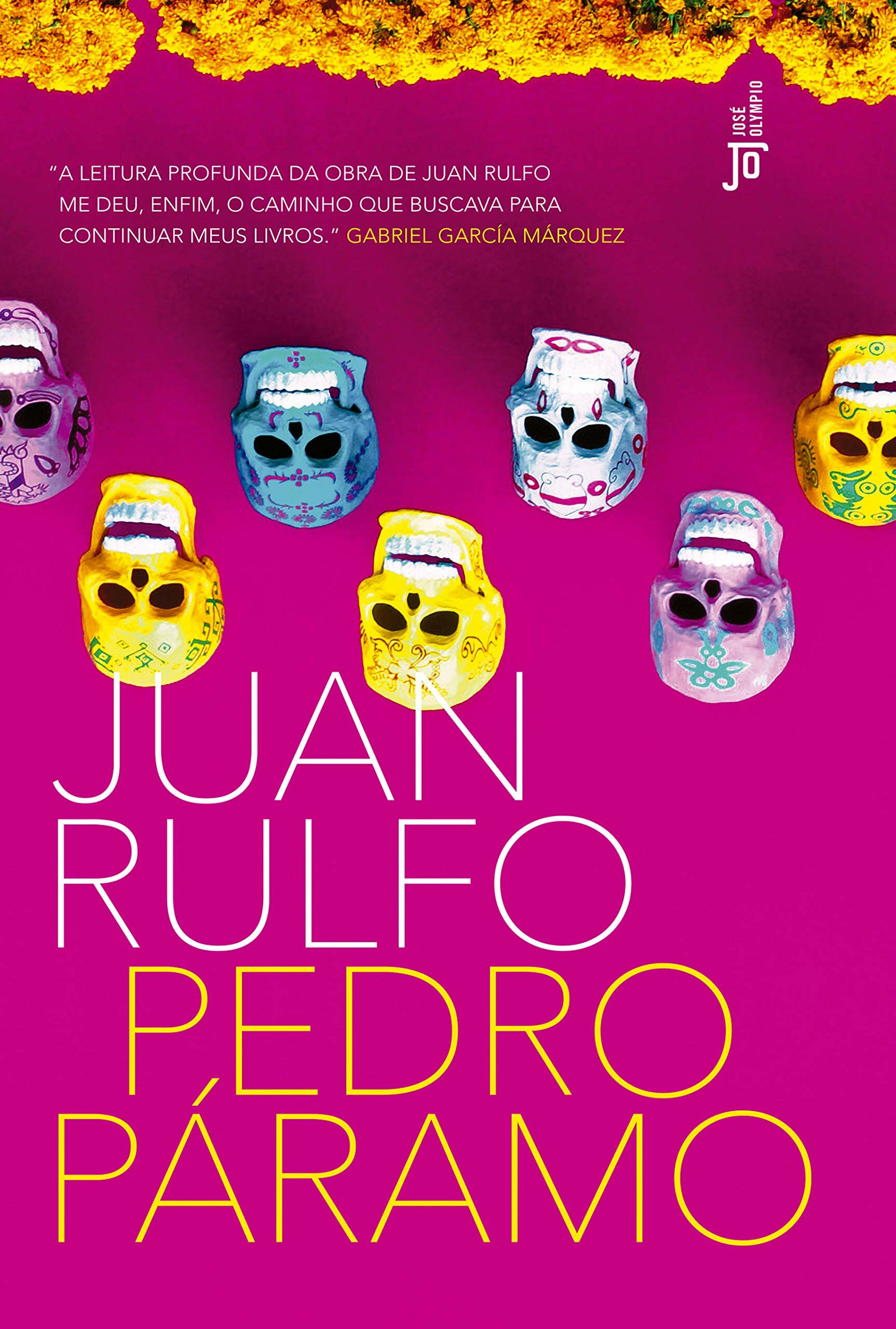 Pedro Páramo. Juan Rulfo. José Olympio, 176 páginas.
Pedro Páramo. Juan Rulfo. José Olympio, 176 páginas.
por Sérgio Tavares
Para aqueles que desconhecem a importância de Pedro Páramo para a literatura latino-americana, basta saber que foi a obra precursora do chamado boom do realismo mágico nos anos 60/70, que trouxe à vista do mundo nomes como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar e Jorge Luis Borges. Publicado originalmente em 1955, o segundo (e último em vida) livro do mexicano Juan Rulfo revolucionou a ideia de romance à sua época, ao aplicar um procedimento técnico que implica na representação do ambiente rural através da introjeção do discurso campesinho, de modo a valorizar os signos e a fala regional. Em síntese, a trama acompanha um jovem que viaja até a cidade de Comala em busca do pai, o tal Pedro Páramo, interagindo com personagens que se valem de relatos memorialistas para constituir a imagem de um homem cruel, lembrado como um implacável matador. Há algumas interpretações para o enredo (sendo a mais conhecida relacionada ao elemento fantasmagórico), porém é, de fato, uma precisa alegoria sobre a história de violência e ruína que marcou a revolução mexicana. Já a outra revolução, aquela dos “mágicos”, tornou tão célebres seus representantes, que acabou escanteando Rulfo para um inexplicável turvamento, onde ficou até os 68 anos, quando morreu exilado em sua casa. O vistoso projeto editorial da José Olympio é a chance de o público brasileiro dar o devido reconhecimento para aquela que, de acordo com a prestigiada Susan Sontag, é “uma das obras-primas da literatura mundial do século XX”.
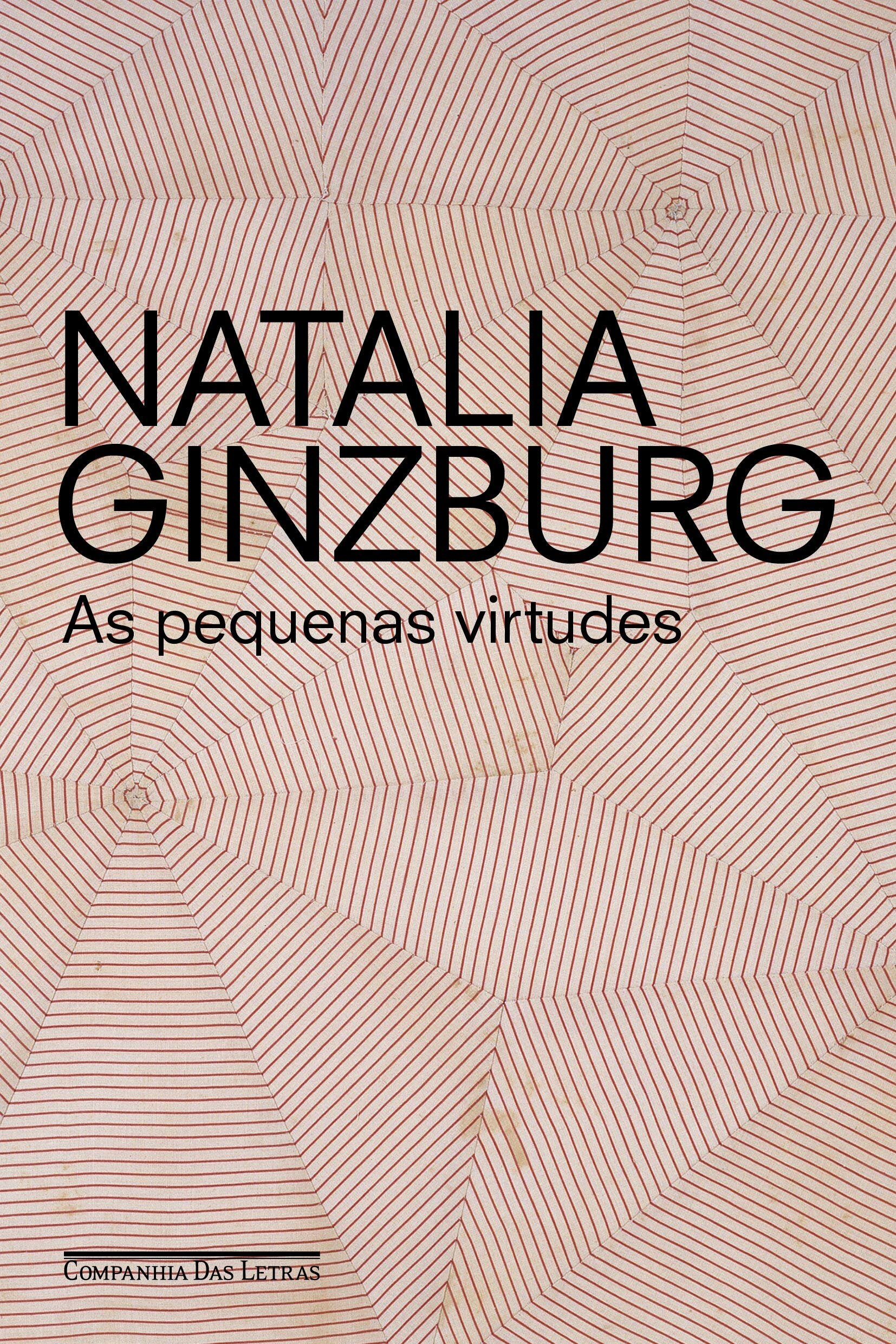 As pequenas virtudes. Natalia Ginzburg. Companhia das Letras, 128 páginas.
As pequenas virtudes. Natalia Ginzburg. Companhia das Letras, 128 páginas.
por Juliana Amato
Quando o editor me convidou para escrever para a Amálgama sobre um grande lançamento de 2020 corri olhar a folha de créditos do livro As pequenas virtudes, da italiana Natalia Ginzburg. A edição da Companhia das Letras, com tradução de Maurício Santana Dias, era, sim, deste ano. Fiquei tranquila, pois foi o livro que mais gostei de ler ultimamente e tinha de falar dele. É uma coletânea de textos memoriais e ensaísticos escritos de 1944 a 1962, retratando lugares e momentos da vida da autora, reflexões sobre o ofício da escrita e o pensamento e sentimento humanos. A cada página o leitor se impressiona com o olhar observador, preciso e sem afetações que apenas uma imaginação sem limites pode oferecer. Um paradoxo, entre tantos: só é possível descrever a realidade com tamanha precisão se for possível imaginá-la em todas as suas nuances. E outro: o universo particular, a capacidade de observar a própria vida e alcançar um olhar que observa todas as demais. Depois de textos como “O filho do homem”, “As relações humanas”, “Silêncio” e “As pequenas virtudes”, que dá título ao livro, é inevitável o leitor olhar à sua volta, farejando quaisquer resquícios da mesma realidade que Natalia Ginzburg apresenta. Com alguma sorte, alguma atenção e alguma imaginação, é possível encontrar suas migalhas.
 O inominável atual. Roberto Calasso. Companhia das Letras, 184 páginas.
O inominável atual. Roberto Calasso. Companhia das Letras, 184 páginas.
por Fabrício de Moraes
Nos parágrafos iniciais de seu livro, aludindo a um poema de W.H. Auden que denominava a modernidade de “a era da ansiedade”, Roberto Calasso, um dos grandes polímatas em atividade na Europa, afirma que, em nossos dias, por sua vez, “a ansiedade persiste, mas não predomina”; antes, é a inconsistência que exerce a primazia nas dinâmicas humanas, o que nos lança, portanto, à “era da inconsistência”.
Nos três ensaios que compõem o livro, Calasso apresenta as figuras e metáforas que sinalizavam para o “inominável atual”. Assim, no primeiro ensaio, intitulado “Turistas e Terroristas”, o pensador propõe que “o fundamento do terror está na ideia de que somente o assassinato oferece a garantia de significado”. Já o “turista”, “outra categoria ubíqua, magnetizante” revela, ao contrário do que habitualmente se julga, uma “carolice planetária”, contrapartida do fundamentalismo contemporâneo. Portanto, “turistas e terroristas” buscam, cada um a seu modo, o sentido em formas extremas de descontinuidade: respectivamente, na desatenção e benemerência ensaiada e no assassinato fugidio que reverencia o deus deste século: o instante.
O segundo ensaio (“A Sociedade Vienense do Gás”) é uma espécie de bricolagem cronológica de excertos de ensaios, diários, cartas e documentos que relatam certos eventos ou experiências de janeiro de 1933 até maio de 1945. Como se vê, é precisamente o período da ascensão dos totalitarismos europeus. Assim, vemos, como num caleidoscópio, as intuições e percepções da intelectualidade europeia sobre as origens e transformações das políticas da morte no Velho Continente. Por fim, o último ensaio (“O Avistamento das Torres”), que consta de apenas uma página, é uma meditação num texto de Baudelaire, no qual o poeta descreve a queda babélica de uma “imensa torre” e carnificina ocasionada por seus destroços. O tom quase profético do texto impacta até mesmo o leitor menos atento. Valendo-se pois de sua imensa carga de referências e alusões literárias e filosóficas, bem como da forma ensaística, Calasso nos mostra que, não obstante estejamos perante o “inominável atual”, isso não nos impede de tateá-lo.
 Por que o liberalismo fracassou?. Patrick J. Deneen. Âyiné, 256 páginas.
Por que o liberalismo fracassou?. Patrick J. Deneen. Âyiné, 256 páginas.
por Fabio Silvestre Cardoso
O ano de 2020 ficará marcado não somente pelos eventos relacionados à pandemia do novo coronavírus, mas, igualmente, pela mensagem na qual muitos acreditaram, a saber: de que era possível restaurar a democracia liberal, tal qual vigente no período entre 1989 – 2016. De fato, a eleição de Joe Biden, um integrante da velha guarda do establishment político, para a presidência dos EUA tem mobilizado a imaginação de partidários da moderação, como se os destroços deixados por Trump, para tratar de um caso mais imediato, pudessem ser consertados. Ato contínuo, no Brasil não falta quem observe uma eventual simetria: lá como cá, seria viável a frente ampla, o consenso em torno de um discurso contra o extremismo, num apelo pelo retorno da velha ordem.
A segunda vinda da democracia-liberal, no entanto, esbarra num problema, bem identificado pelo filósofo político Patrick Deneen no livro Por que o liberalismo fracassou?, publicado aqui pela editora Âyiné. De acordo com o autor, a impossibilidade do liberalismo acontece não por conta de sua performance frágil onde o experimento foi implementado; antes, tem a ver exatamente com o êxito dessa ideologia política. Nesse sentido, à medida que a liberdade individual se torna uma pedra fundamental, mais o Estado precisa agir para garantir esse princípio.
As fissuras não param de aparecer. Seja como for, assim como aqueles que aguardam pelo Messias, há quem diga que a eleição dos EUA começou a colocar tudo de volta no lugar. Em seu livro, Deneen explica por que não vai funcionar.
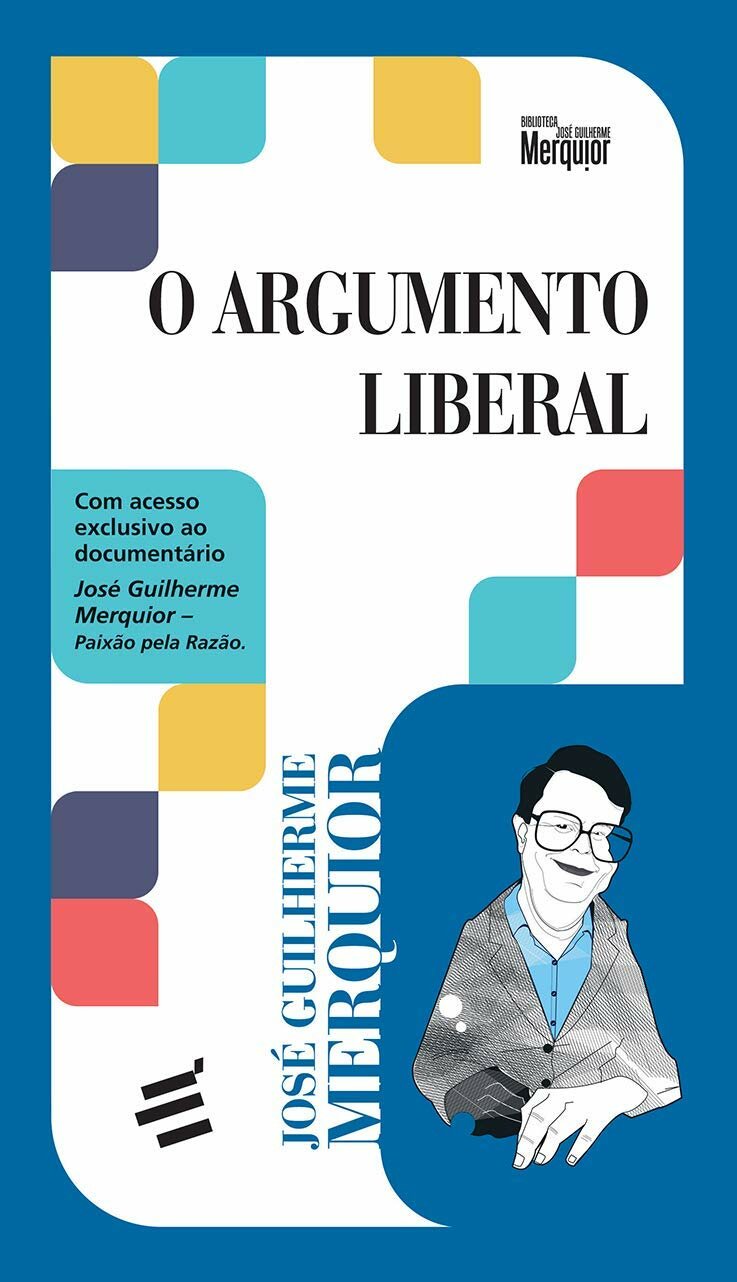 O argumento liberal. José Guilherme Merquior. É Realizações, 296 páginas.
O argumento liberal. José Guilherme Merquior. É Realizações, 296 páginas.
por Gilberto Morbach
“[N]ão basta decidir sobre a base social do poder — é igualmente importante determinar a forma de governo e garantir que o poder, mesmo legítimo em sua origem social, não se torne ilegítimo pelo eventual arbítrio de seu uso”. Esse é, segundo José Guilherme Merquior, o cerne do argumento liberal, articulado em ensaio assim intitulado que dá nome à coletânea de ensaios do autor, organizada pela É Realizações e lançada em 2020. Na obra, Merquior revela todas as características que nos permitem colocá-lo, com uma boa dose de segurança, entre os nomes que revelam a possibilidade de uma tradição que decidimos rejeitar: a do que há de melhor no ensaísmo esclarecido e, sobretudo, no liberalismo político em sua mais ampla acepção. Com escritos sobre ética e epistemologia, sobre política e economia, Merquior discute o passado — abordando os legados de pensadores como Kant e Giambattista Vico (“Diga ao povo que Vico”, em um dos melhores títulos de artigo que já vi em toda minha vida), como Mill e Smith, como Tocqueville e Montesquieu —, debate seu presente (engajando-se em críticas e diálogos com pensadores de sua época) e, fundamentalmente, lança as bases para um futuro possível, de um liberalismo consciente de seus limites e de seus melhores fundamentos: ceticismo político, império da lei, limitação institucional da autoridade, liberdade individual e coletiva e, enfim, aquela que Merquior sacraliza como fórmula de Kant: rigor no conhecimento e na conduta.
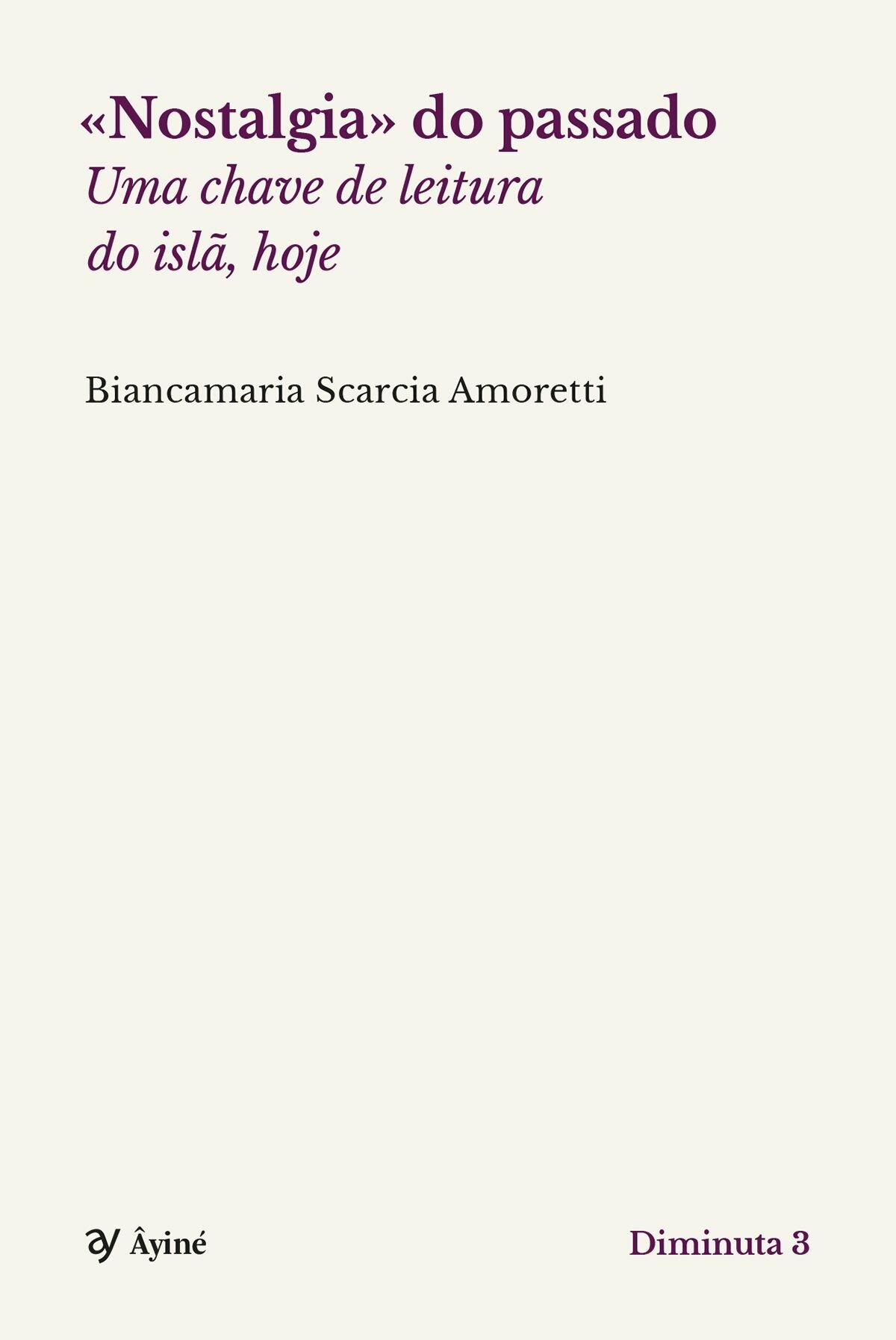
“Nostalgia” do passado: uma chave de leitura do islã, hoje. Biancamaria Scarcia Amoretti. Âyiné, 62 páginas.
por Rodrigo de Lemos
Para entendermos algo da história política do século XX temos de nos familiarizar com o vocabulário do marxismo e com as correntes dos movimentos socialistas. Tudo indica que o mesmo está se dando quanto ao Islã no século XXI. Ao menos, é a sensação que podemos ter ao lembrarmos que alguns dos principais eventos dos últimos anos do século passado e dos primeiros do nosso têm o Islã como protagonista: a Revolução Iraniana, as guerras do Oriente Médio, os atentados de Nova Iorque, Londres e Paris, os debates sobre a crise migratória. E, no entanto, interpretações enviesadas do Islã não faltam. Um bom contraponto a elas é o trabalho da professora da Universidade de Roma “La Sapienza”, Biancamaria Scarcia Amoretti, falecida neste ano, uma islamóloga dentre as mais reconhecidas. No ensaio “Nostalgia” do passado, Amoretti mergulha na duração longa das ideias e sobretudo dos sentimentos que perpassam a milenar história islâmica. Ela se debruça em especial sobre as noções de “casa”, de “regresso” e, sobretudo, de “nostalgia”. Essas palavras-chave, centrais à identidade cultural e religiosa muçulmana, são exploradas por Amoretti em suas dimensões linguística, espiritual e histórica, por fim política e ideológica. No título desse ensaio denso e informativo, destaca-se uma palavra: “hoje”. Isso porque Amoretti remonta às controvérsias sobre a sucessão de Muhammad no século VII ou às querelas teológicas do xiismo, tendo como o fio do conceito de “nostalgia”, a fim de lançar luz sobre nuanças que nos escapam ao lermos sobre tópicos, como os conflitos em torno do retorno ao Islã por parte dos imigrantes na Europa ou a força que ganhou e que ainda mantém a figura do Aiatolá Khomeini no Irã revolucionário. Como a velocidade dos acontecimentos no mundo muçulmano só se acelera, levando de roldão o resto do planeta, textos informativos, eruditos, sutis e profundamente pensados como este ensaio de Biancamaria Scarcia Amoretti são apoio fundamental para o não-especialista que não deseja ser atropelado pelas notícias e pelas atualidades, nem por opiniões de ideólogos de todos os espectros políticos que imaginam um Islã na medida de suas fantasias, de louvor ou de repulsa.
Amálgama
Revista digital de atualidade e cultura.
[email protected]





