As obras essenciais de ficção e não-ficção lançadas no Brasil, comentadas por nossos colunistas e autores convidados.

E tu serás um ermo novamente, de José Francisco Botelho (Patuá, 136 páginas)
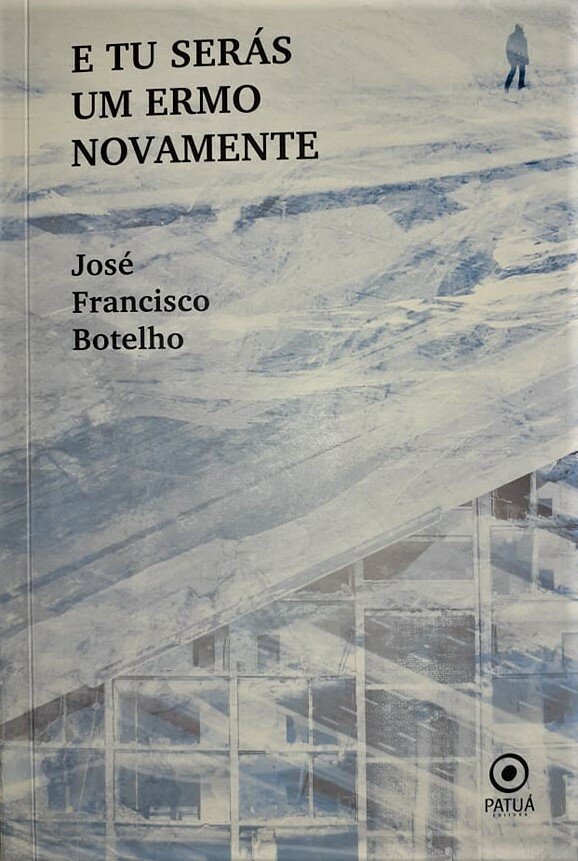 Rodrigo Duarte Garcia, escritor — Eu gosto de pensar no José Francisco Botelho como um desses watermen havaianos completos: remadores de canoas ancestrais, surfistas de ondas gigantes, caçadores submarinos e seus minutos impossíveis sem respirar, nadadores de travessias oceânicas – tudo com o mesmo domínio, tudo com a mesma excelência absurda. Bom, trazendo a comparação para a literatura, não seria essa a definição exata de um homem-de-letras? Seria, mas os homens-do-mar são bem mais interessantes, ué. A verdade é que, além de filólogo e tradutor extraordinário de Chaucer e Shakespeare, ele ainda escreveu dois volumes de contos muito, muito bons (A árvore que falava aramaico e Cavalo de Cronos) e agora publica, em versos, este E tu serás um ermo novamente.
Rodrigo Duarte Garcia, escritor — Eu gosto de pensar no José Francisco Botelho como um desses watermen havaianos completos: remadores de canoas ancestrais, surfistas de ondas gigantes, caçadores submarinos e seus minutos impossíveis sem respirar, nadadores de travessias oceânicas – tudo com o mesmo domínio, tudo com a mesma excelência absurda. Bom, trazendo a comparação para a literatura, não seria essa a definição exata de um homem-de-letras? Seria, mas os homens-do-mar são bem mais interessantes, ué. A verdade é que, além de filólogo e tradutor extraordinário de Chaucer e Shakespeare, ele ainda escreveu dois volumes de contos muito, muito bons (A árvore que falava aramaico e Cavalo de Cronos) e agora publica, em versos, este E tu serás um ermo novamente.
José Francisco é um daqueles poetas que vão, “n’uma universal simpatia, buscar motivos emocionais fora das limitadas palpitações do coração – à História, à Lenda, aos Costumes, às Religiões, a tudo que através das idades, diversamente e unamente, revela e define o Homem”, como diz o Eça na Correspondência de Fradique Mendes. São baladas metafísicas do mar (“Os bravos, ao romper das ondas, não se assustam,/ Mas cantam suas proezas na enseada limpa:/ Em fúria rugem contra o fim da luz, e lutam”); a ode a um nariz (“Uma quilha naval rasgando as ondas;/ Petulante pirâmide do Egito”); sátiras fálicas classicistas bem engraçadas; uma narrativa que segue os passos de Pedro antes da Paixão (“E já sentia Pedro não ser Pedro,/ Apenas mais um náufrago noturno./ E qual de nós, de espírito soturno,/ Já não sentiu ser outro, embora o mesmo?”); trechos de manuscritos perdidos e fictícios, mencionados em seus outros livros; uma homenagem comovente a Marlowe (Cristopher, não Philip); pequenos épicos; versos de heterônimos e personagens que – assim suspeitamos e esperamos – aparecerão em livros futuros; versos líricos comoventes, como em “O Inverno da Matriarca”; e mesmo um trecho traduzido do Beowulf (aliás, em outro poema ele brinca até de criar kennings, como se estivesse, sei lá, na Dinamarca do século VIII:“A língua das estepes desconhece o mar./ Dizemos: o Deserto d’Água, o Céu Inverso,/ O Grande Lago de que fala o Antigo Verso,/ A imitação do azul, o campo especular”).
No fim, nós ficamos mesmo com a impressão de que, como aqueles havaianos do mar, José Francisco está se divertindo muito ao fazer tudo isso – ele faz porque é divertido, e faz porque consegue. E, bom, considerando agora também coberta a ensaística histórica, com o seu recentíssimo A Odisseia da Filosofia – Uma breve história do pensamento ocidental (como não sorrir?), o meu melhor presente de Natal certamente seria a notícia de um romance dele (700-800 páginas?), previsto para o ano que vem.
Uma tristeza infinita, de Antônio Xerxenesky (Cia. das Letras, 256 páginas)
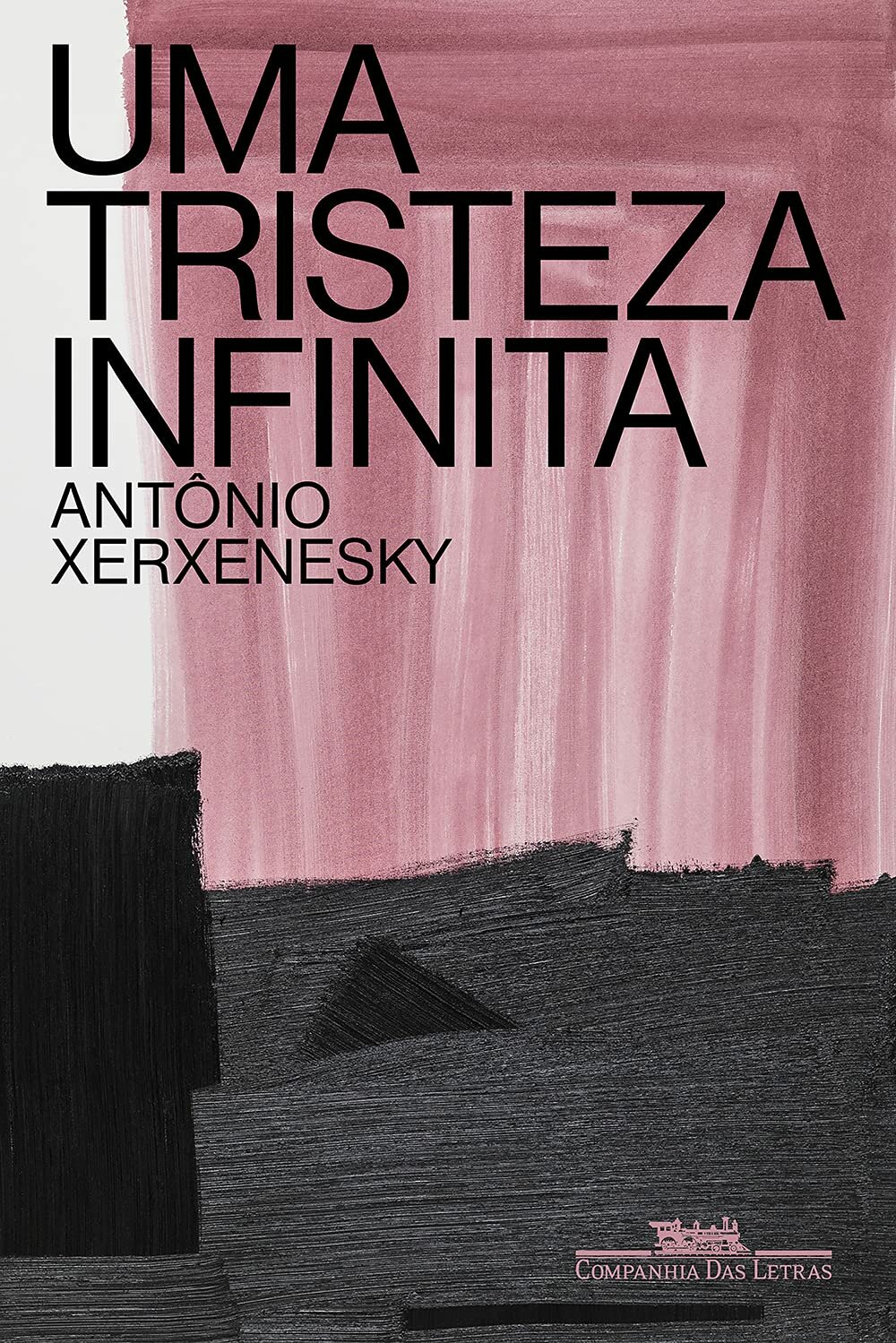 Rafael Bán Jacobsen, escritor — O mais recente romance de Antônio Xerxenesky coloca a mente humana no centro da narrativa: essa dimensão tão grandiosa quanto fugidia, que luta para entender os mistérios do Universo enquanto sequer consegue compreender a si própria. Em 1952, tempo de entrechoque entre os velhos métodos dos sanatórios, a revolução da psicanálise e o surgimento da psicofarmacologia moderna, Nicolas, um jovem psiquiatra francês de ascendência judaica, muda-se com a esposa para um vilarejo, onde vai trabalhar em um hospital que recebe pessoas com os mais diversos transtornos, muitas delas traumatizadas por suas vivências na Segunda-Guerra: um quase catatônico herói militar que serviu na Normandia, uma mulher que (sem saber) trabalhou no projeto da primeira bomba atômica e desenvolveu sintomas de histeria, um apoiador do Reich que tem visões com Satã, entre outros. Paralelamente, Anna, esposa de Nicolas, atuando como jornalista no embrião do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, desafia-se a acompanhar as recentes descobertas da física de partículas, regidas pelas incertezas e estranhezas do paradigma quântico. Em uma época de tanta efervescência nas pesquisas científicas sobre a estrutura da matéria e o funcionamento da psiquê humana, cada descoberta parece descortinar uma dezena de outras perguntas, multiplicando as dúvidas e dando ao espírito do tempo ares de um segredo oracular (a propósito, os diálogos entre Nicolas e Anna a respeito do Universo, da mente humana e de Deus, especialmente nos capítulos 13 e 18, são densos e inquietantes). Nesse cenário incerto, imerso em nuvens, como a constante neblina que inunda o vilarejo no cantão de Vaud ou a fumaça dos charutos que preenche a sala de reuniões dos psiquiatras no hospital, Nicolas terá de confrontar os próprios dilemas, como a aceitação das suas raízes judaicas (personificadas na trágica figura de seu pai suicida), o casamento que parece se acomodar em rotinas, os questionamentos éticos que cercam o seu exercício de salvar almas, as dúvidas sobre a eficácia dos tratamentos e a sua capacidade em ajudar as pessoas, lutando para não sucumbir, ele mesmo, à melancolia. O título da obra de Xerxenesky ecoa o de Graça infinita, que o próprio autor, David Foster Wallace, costumava dizer se tratar de “um livro presidido sob o signo da tristeza”. Não poderia caber melhor definição para o romance de Xerxenesky: é uma narrativa de infinita tristeza, mas também de infinita beleza.
Rafael Bán Jacobsen, escritor — O mais recente romance de Antônio Xerxenesky coloca a mente humana no centro da narrativa: essa dimensão tão grandiosa quanto fugidia, que luta para entender os mistérios do Universo enquanto sequer consegue compreender a si própria. Em 1952, tempo de entrechoque entre os velhos métodos dos sanatórios, a revolução da psicanálise e o surgimento da psicofarmacologia moderna, Nicolas, um jovem psiquiatra francês de ascendência judaica, muda-se com a esposa para um vilarejo, onde vai trabalhar em um hospital que recebe pessoas com os mais diversos transtornos, muitas delas traumatizadas por suas vivências na Segunda-Guerra: um quase catatônico herói militar que serviu na Normandia, uma mulher que (sem saber) trabalhou no projeto da primeira bomba atômica e desenvolveu sintomas de histeria, um apoiador do Reich que tem visões com Satã, entre outros. Paralelamente, Anna, esposa de Nicolas, atuando como jornalista no embrião do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, desafia-se a acompanhar as recentes descobertas da física de partículas, regidas pelas incertezas e estranhezas do paradigma quântico. Em uma época de tanta efervescência nas pesquisas científicas sobre a estrutura da matéria e o funcionamento da psiquê humana, cada descoberta parece descortinar uma dezena de outras perguntas, multiplicando as dúvidas e dando ao espírito do tempo ares de um segredo oracular (a propósito, os diálogos entre Nicolas e Anna a respeito do Universo, da mente humana e de Deus, especialmente nos capítulos 13 e 18, são densos e inquietantes). Nesse cenário incerto, imerso em nuvens, como a constante neblina que inunda o vilarejo no cantão de Vaud ou a fumaça dos charutos que preenche a sala de reuniões dos psiquiatras no hospital, Nicolas terá de confrontar os próprios dilemas, como a aceitação das suas raízes judaicas (personificadas na trágica figura de seu pai suicida), o casamento que parece se acomodar em rotinas, os questionamentos éticos que cercam o seu exercício de salvar almas, as dúvidas sobre a eficácia dos tratamentos e a sua capacidade em ajudar as pessoas, lutando para não sucumbir, ele mesmo, à melancolia. O título da obra de Xerxenesky ecoa o de Graça infinita, que o próprio autor, David Foster Wallace, costumava dizer se tratar de “um livro presidido sob o signo da tristeza”. Não poderia caber melhor definição para o romance de Xerxenesky: é uma narrativa de infinita tristeza, mas também de infinita beleza.
Manual do Minotauro, de Laerte (Quadrinhos na Cia., 416 páginas)
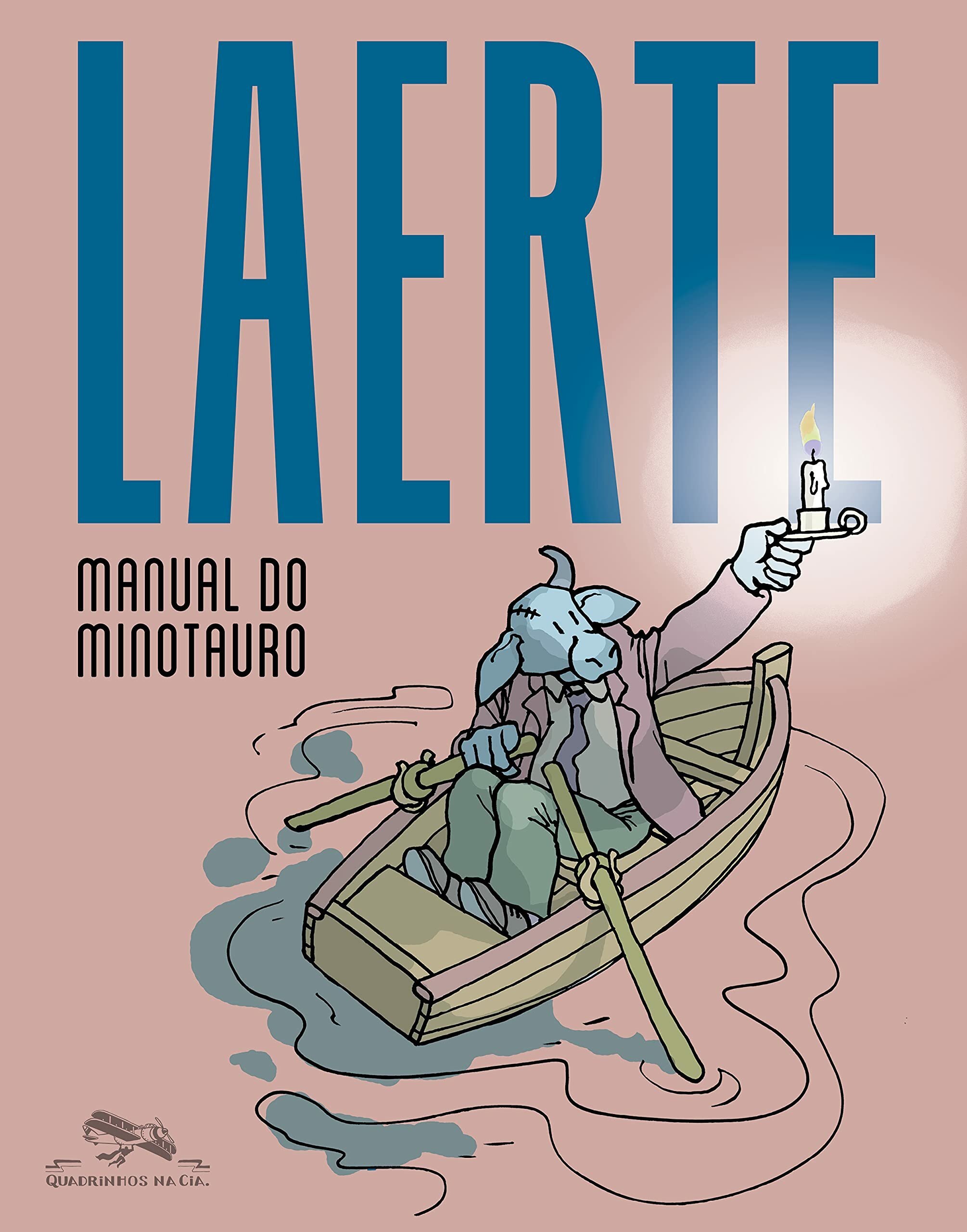 Emmanuel Santiago, poeta e professor — Não sou de baratear o termo “poético”, não pela crença numa superioridade da poesia frente a outras formas de expressão, mas pelo reconhecimento das especificidades que tal categoria implica. Entretanto, nas tiras da desenhista Laerte integrantes do livro Manual do Minotauro, há um deslocamento dos signos da linguagem visual e um deslizamento semântico cuja correspondência com o discurso poético, sobretudo em sua configuração na lírica moderna, não parece fortuita, tanto que esse é o tema do qual se ocupa a tira de introdução ao volume: no primeiro quadrinho, uma mulher encara longamente a esfinge; ela então afirma: “Desisto. Não consigo decifrar”, ao que a esfinge replica: “Decifrar o quê?”; “O seu enigma”, a mulher responde. “Não é enigma. É um poema” — eis a conclusão da fera mitológica. As mais de 1500 tiras aqui reunidas, publicadas na seção Piratas do Tietê da Folha de São Paulo entre 2004 e 2015, registram o processo da artista de abandono das personagens fixas e da estrutura anedótica, assim como a desestabilização do estilo visual por ela sedimentado ao longo de duas décadas de carreira. A própria noção de humor se torna cada vez mais difusa à medida que o discurso humorístico cede lugar ao que, em tal fenômeno comunicativo, é a sua essência: o deslocamento dos signos em relação a seu contexto esperado, agora numa estrutura narrativa aberta que não encerra sentido definido; assim, muitas tiras prestam-se mais à contemplação estética e à ruminação reflexiva, oriundas da perplexidade, do que à gratificação risonha do reconhecimento da intenção humorística por trás das imagens e do texto.
Emmanuel Santiago, poeta e professor — Não sou de baratear o termo “poético”, não pela crença numa superioridade da poesia frente a outras formas de expressão, mas pelo reconhecimento das especificidades que tal categoria implica. Entretanto, nas tiras da desenhista Laerte integrantes do livro Manual do Minotauro, há um deslocamento dos signos da linguagem visual e um deslizamento semântico cuja correspondência com o discurso poético, sobretudo em sua configuração na lírica moderna, não parece fortuita, tanto que esse é o tema do qual se ocupa a tira de introdução ao volume: no primeiro quadrinho, uma mulher encara longamente a esfinge; ela então afirma: “Desisto. Não consigo decifrar”, ao que a esfinge replica: “Decifrar o quê?”; “O seu enigma”, a mulher responde. “Não é enigma. É um poema” — eis a conclusão da fera mitológica. As mais de 1500 tiras aqui reunidas, publicadas na seção Piratas do Tietê da Folha de São Paulo entre 2004 e 2015, registram o processo da artista de abandono das personagens fixas e da estrutura anedótica, assim como a desestabilização do estilo visual por ela sedimentado ao longo de duas décadas de carreira. A própria noção de humor se torna cada vez mais difusa à medida que o discurso humorístico cede lugar ao que, em tal fenômeno comunicativo, é a sua essência: o deslocamento dos signos em relação a seu contexto esperado, agora numa estrutura narrativa aberta que não encerra sentido definido; assim, muitas tiras prestam-se mais à contemplação estética e à ruminação reflexiva, oriundas da perplexidade, do que à gratificação risonha do reconhecimento da intenção humorística por trás das imagens e do texto.
Os diários de Virginia Woolf – diário 1 (Nós, 344 páginas)
 Lucas Petry Bender, crítico cultural — Há muito tempo aguardada pelos leitores brasileiros de Virginia Woolf (1882-1941), a tradução completa dos seus diários começa a se tornar realidade quando se celebram oitenta anos da morte da autora. O bom gosto visual da edição se completa no cuidadoso trabalho de tradução, apresentação e notas de Ana Carolina Mesquita, que enfrenta o desafio de entregar ao leitor, habituado com a riqueza e o aprumo estilístico de Woolf, um texto cheio de abreviações, repetições e lapsos, produzidos ao gosto do momento, com a curiosa mistura de urgência e de ponderação que caracteriza essa forma de escrita. Se falta a substância textual que torna tão fascinantes os seus romances e ensaios, por outro lado sobressai a essência de uma observadora cuja sagacidade se mostra desde uma simples saída para comprar flores a um sinistro refúgio noturno de um bombardeio. A constante ameaça gerada pela Primeira Guerra Mundial e a angústia provocada pelas crises nervosas são confrontadas por expressões de iluminada alegria e bom humor, sobretudo quando o prazer proporcionado pela arte e pela pulsação da vida urbana superam a opressão das horas. A última dos grandes estetas da literatura, como classificou o crítico Harold Bloom, Virginia Woolf demonstra que o esteticismo é tão mais verdadeiro, potente e criativo quanto mais inteligente, sensível e arrojado for o autor, sobretudo quando capaz de provocar, no encontro da sua solidão com a do leitor, vislumbres de uma realidade que se expande em uma direção desconhecida, na contramão das expectativas de boa parte do público que procura os seus livros pelos mais diversos motivos acessórios ou ideológicos. “Elogios? Fama? A boa opinião de Janet? Como são irrelevantes, todos eles! Não paro de pensar em maneiras diferentes de lidar com as minhas cenas, concebendo possibilidades infinitas, vendo a vida, ao caminhar pelas ruas, como um imenso bloco opaco de material que preciso transmutar em sua forma equivalente de linguagem“, escreve. Erguendo o véu do hábito que nos impele a participar do mundo maquinalmente, as palavras da britânica abrem uma perspectiva inesgotável que posteriormente será tão bem explorada nos seus romances. “Que estranho destino, esse – sempre ser a espectadora do público, jamais parte dele“, registra num sábado, 30 de novembro de 1918. Pouco mais de cem anos depois, a marca deixada por Woolf segue provocando um indizível estranhamento nos nossos dias.
Lucas Petry Bender, crítico cultural — Há muito tempo aguardada pelos leitores brasileiros de Virginia Woolf (1882-1941), a tradução completa dos seus diários começa a se tornar realidade quando se celebram oitenta anos da morte da autora. O bom gosto visual da edição se completa no cuidadoso trabalho de tradução, apresentação e notas de Ana Carolina Mesquita, que enfrenta o desafio de entregar ao leitor, habituado com a riqueza e o aprumo estilístico de Woolf, um texto cheio de abreviações, repetições e lapsos, produzidos ao gosto do momento, com a curiosa mistura de urgência e de ponderação que caracteriza essa forma de escrita. Se falta a substância textual que torna tão fascinantes os seus romances e ensaios, por outro lado sobressai a essência de uma observadora cuja sagacidade se mostra desde uma simples saída para comprar flores a um sinistro refúgio noturno de um bombardeio. A constante ameaça gerada pela Primeira Guerra Mundial e a angústia provocada pelas crises nervosas são confrontadas por expressões de iluminada alegria e bom humor, sobretudo quando o prazer proporcionado pela arte e pela pulsação da vida urbana superam a opressão das horas. A última dos grandes estetas da literatura, como classificou o crítico Harold Bloom, Virginia Woolf demonstra que o esteticismo é tão mais verdadeiro, potente e criativo quanto mais inteligente, sensível e arrojado for o autor, sobretudo quando capaz de provocar, no encontro da sua solidão com a do leitor, vislumbres de uma realidade que se expande em uma direção desconhecida, na contramão das expectativas de boa parte do público que procura os seus livros pelos mais diversos motivos acessórios ou ideológicos. “Elogios? Fama? A boa opinião de Janet? Como são irrelevantes, todos eles! Não paro de pensar em maneiras diferentes de lidar com as minhas cenas, concebendo possibilidades infinitas, vendo a vida, ao caminhar pelas ruas, como um imenso bloco opaco de material que preciso transmutar em sua forma equivalente de linguagem“, escreve. Erguendo o véu do hábito que nos impele a participar do mundo maquinalmente, as palavras da britânica abrem uma perspectiva inesgotável que posteriormente será tão bem explorada nos seus romances. “Que estranho destino, esse – sempre ser a espectadora do público, jamais parte dele“, registra num sábado, 30 de novembro de 1918. Pouco mais de cem anos depois, a marca deixada por Woolf segue provocando um indizível estranhamento nos nossos dias.
No fundo do oceano, os animais invisíveis, de Anita Deak (Reformatório, 192 páginas)
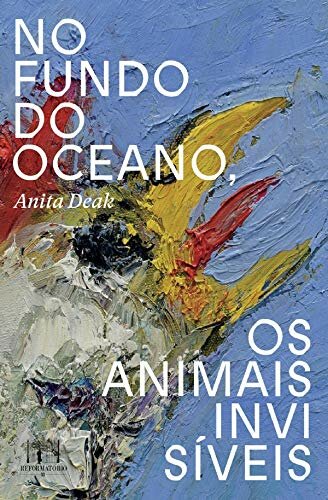 Sérgio Tavares, escritor e crítico — Narrado de modo não linear e fragmentário, o livro perpassa a vida de Pedro Naves, da infância num ambiente patriarcal e opressor, de integração com a selva, à fase adulta, quando parte para estudar na cidade e, seduzido por ideais revolucionários, integra o movimento de resistência à ditadura militar no Araguaia, tornando-se soldado da guerrilha no coração da floresta amazônica. A autora Anita Deak efetua um trabalho meticuloso de experimentações vocabulares, composições visuais e teores sinestésicos de forma a fazer do espaço selvagem uma espécie de entidade que, nas duas fases da vida do protagonista, age feito um espectro onisciente, promovendo uma sensível simbiose entre natureza e humano. Um romance dotado de uma extraordinária força criativa, que se conforma por meio de uma prosa vistosa, intensa, eminentemente sonora e instituída de uma poesia que não advém do gênero, mas de combinações intuitivas de palavras vibrantes, de uma harmonia dentro do caos.
Sérgio Tavares, escritor e crítico — Narrado de modo não linear e fragmentário, o livro perpassa a vida de Pedro Naves, da infância num ambiente patriarcal e opressor, de integração com a selva, à fase adulta, quando parte para estudar na cidade e, seduzido por ideais revolucionários, integra o movimento de resistência à ditadura militar no Araguaia, tornando-se soldado da guerrilha no coração da floresta amazônica. A autora Anita Deak efetua um trabalho meticuloso de experimentações vocabulares, composições visuais e teores sinestésicos de forma a fazer do espaço selvagem uma espécie de entidade que, nas duas fases da vida do protagonista, age feito um espectro onisciente, promovendo uma sensível simbiose entre natureza e humano. Um romance dotado de uma extraordinária força criativa, que se conforma por meio de uma prosa vistosa, intensa, eminentemente sonora e instituída de uma poesia que não advém do gênero, mas de combinações intuitivas de palavras vibrantes, de uma harmonia dentro do caos.
Kaputt, de Curzio Malaparte (Alfaguara, 512 páginas)
 Jerônimo Teixeira, escritor e jornalista — Como correspondente do Corriere della Sera, o italiano Curzio Malaparte (1898-1957) – de nascimento, Kurt Erich Suckert – testemunhou um pogrom na cidade romena de Jassy, visitou o Gueto de Varsóvia, acompanhou a ofensiva alemã na Ucrânia e cobriu a Guerra Soviético-Finlandesa. Kaputt nasce dessas experiências, mas não é um livro-reportagem, nem propriamente um livro de memórias. Trata-se de um romance, cujo protagonista e narrador, Curzio Malaparte, descreve os horrores nazistas ao delicado príncipe Eugênio da Suécia ou aos convivas de soirées elegantes em representações diplomáticas de Helsinque. Esse permanente contraste entre a crônica social e o testemunho do genocídio alcança seu auge na segunda parte do livro, “Os ratos” (todas as partes trazem animais como título), na qual Malaparte lembra seus encontros com Hans Frank, governador alemão da Polônia ocupada. Em nova tradução de Federico Carotti, esse clássico dos relatos de guerra traz uma fiada de episódios que ficarão gravados na memória do leitor: os cavalos congelados em um lago da Carélia, o cônsul italiano soterrado por cadáveres de judeus em uma estação de trem na Romênia, o ditador croata aliado dos nazistas que coleciona olhos humanos em uma cesta. Será ocioso tentar discernir o que é fato e o que é invenção em Kaputt. Malaparte, que foi fascista fervoroso nos anos 1920 e converteu-se ao comunismo no pós-guerra, não é o mais confiável dos narradores. Kaputt, porém, nos apresenta um painel do sofrimento europeu sob o nazismo, com toda a verdade que só a ficção consegue alcançar.
Jerônimo Teixeira, escritor e jornalista — Como correspondente do Corriere della Sera, o italiano Curzio Malaparte (1898-1957) – de nascimento, Kurt Erich Suckert – testemunhou um pogrom na cidade romena de Jassy, visitou o Gueto de Varsóvia, acompanhou a ofensiva alemã na Ucrânia e cobriu a Guerra Soviético-Finlandesa. Kaputt nasce dessas experiências, mas não é um livro-reportagem, nem propriamente um livro de memórias. Trata-se de um romance, cujo protagonista e narrador, Curzio Malaparte, descreve os horrores nazistas ao delicado príncipe Eugênio da Suécia ou aos convivas de soirées elegantes em representações diplomáticas de Helsinque. Esse permanente contraste entre a crônica social e o testemunho do genocídio alcança seu auge na segunda parte do livro, “Os ratos” (todas as partes trazem animais como título), na qual Malaparte lembra seus encontros com Hans Frank, governador alemão da Polônia ocupada. Em nova tradução de Federico Carotti, esse clássico dos relatos de guerra traz uma fiada de episódios que ficarão gravados na memória do leitor: os cavalos congelados em um lago da Carélia, o cônsul italiano soterrado por cadáveres de judeus em uma estação de trem na Romênia, o ditador croata aliado dos nazistas que coleciona olhos humanos em uma cesta. Será ocioso tentar discernir o que é fato e o que é invenção em Kaputt. Malaparte, que foi fascista fervoroso nos anos 1920 e converteu-se ao comunismo no pós-guerra, não é o mais confiável dos narradores. Kaputt, porém, nos apresenta um painel do sofrimento europeu sob o nazismo, com toda a verdade que só a ficção consegue alcançar.
A porta, de Magda Szabó (Intrínseca, 256 páginas)
 Lúcio Carvalho, escritor — Publicado em húngaro em 1987, apenas neste ano o romance de Magda Szabó chegou ao Brasil (o primeiro seu por aqui publicado). É tempo demais para que livro tão excepcional tenha estado de fora das prateleiras nacionais. Antes, fora traduzido em Portugal pela D. Quixote, em 2006, e republicado pela Cavalo de Ferro, em 2017. Narrando desde o primeiro encontro travado entre uma escritora às turras com o regime comunista e a governanta que ela se vê compelida a contratar a fim de se dedicar ao trabalho, a autora vai habilmente recompondo ao longo de cinco anos a biografia da circunspecta protagonista Emerenc Szeredás, personagem que de certa forma se confunde à própria história da Hungria no século XX. De trato áspero e cética em absoluto, Emerenc é a governanta que se entrega ao trabalho com energia infatigável. Para ela, toda e qualquer atividade intelectual é desimportante e, na sua série de desprezos pessoais, ela elenca ainda a religião e especialmente a política. Com suas sínteses ácidas e diálogos belicosos, a relação entre as duas mulheres inicialmente é fria e distante; aos poucos, no entanto, ela vai tomando conta da casa e da vida da narradora Magda e de seu marido, um intelectual e também escritor que em seguida mostra uma saúde fragilizada. O afeto e sua história pessoal permanecem trancafiados numa vida com muitos mistérios que ela mantém oculta numa casa cuja porta dá para um universo intransponível do qual é a única habitante além dos muitos gatos e cães que recolhe da rua para cuidar. Emerenc é uma fortaleza para cuidar dos outros e da rua da qual é uma espécie de oficial e é justamente a aproximação da narradora que irá romper o lacre da sua intimidade marcada por perdas terríveis. Como num suspense, Magda Szabó narra o mútuo reconhecimento das mulheres sem antecipar nada a respeito da personagem fabulosa que é Emerenc, síntese dos traumas humanos comuns a quem tem de viver apesar da irracionalidade imposta pela história política, ocupações e duas guerras mundiais.
Lúcio Carvalho, escritor — Publicado em húngaro em 1987, apenas neste ano o romance de Magda Szabó chegou ao Brasil (o primeiro seu por aqui publicado). É tempo demais para que livro tão excepcional tenha estado de fora das prateleiras nacionais. Antes, fora traduzido em Portugal pela D. Quixote, em 2006, e republicado pela Cavalo de Ferro, em 2017. Narrando desde o primeiro encontro travado entre uma escritora às turras com o regime comunista e a governanta que ela se vê compelida a contratar a fim de se dedicar ao trabalho, a autora vai habilmente recompondo ao longo de cinco anos a biografia da circunspecta protagonista Emerenc Szeredás, personagem que de certa forma se confunde à própria história da Hungria no século XX. De trato áspero e cética em absoluto, Emerenc é a governanta que se entrega ao trabalho com energia infatigável. Para ela, toda e qualquer atividade intelectual é desimportante e, na sua série de desprezos pessoais, ela elenca ainda a religião e especialmente a política. Com suas sínteses ácidas e diálogos belicosos, a relação entre as duas mulheres inicialmente é fria e distante; aos poucos, no entanto, ela vai tomando conta da casa e da vida da narradora Magda e de seu marido, um intelectual e também escritor que em seguida mostra uma saúde fragilizada. O afeto e sua história pessoal permanecem trancafiados numa vida com muitos mistérios que ela mantém oculta numa casa cuja porta dá para um universo intransponível do qual é a única habitante além dos muitos gatos e cães que recolhe da rua para cuidar. Emerenc é uma fortaleza para cuidar dos outros e da rua da qual é uma espécie de oficial e é justamente a aproximação da narradora que irá romper o lacre da sua intimidade marcada por perdas terríveis. Como num suspense, Magda Szabó narra o mútuo reconhecimento das mulheres sem antecipar nada a respeito da personagem fabulosa que é Emerenc, síntese dos traumas humanos comuns a quem tem de viver apesar da irracionalidade imposta pela história política, ocupações e duas guerras mundiais.
Lições de literatura, de Vladimir Nabokov (Fósforo, 472 páginas)
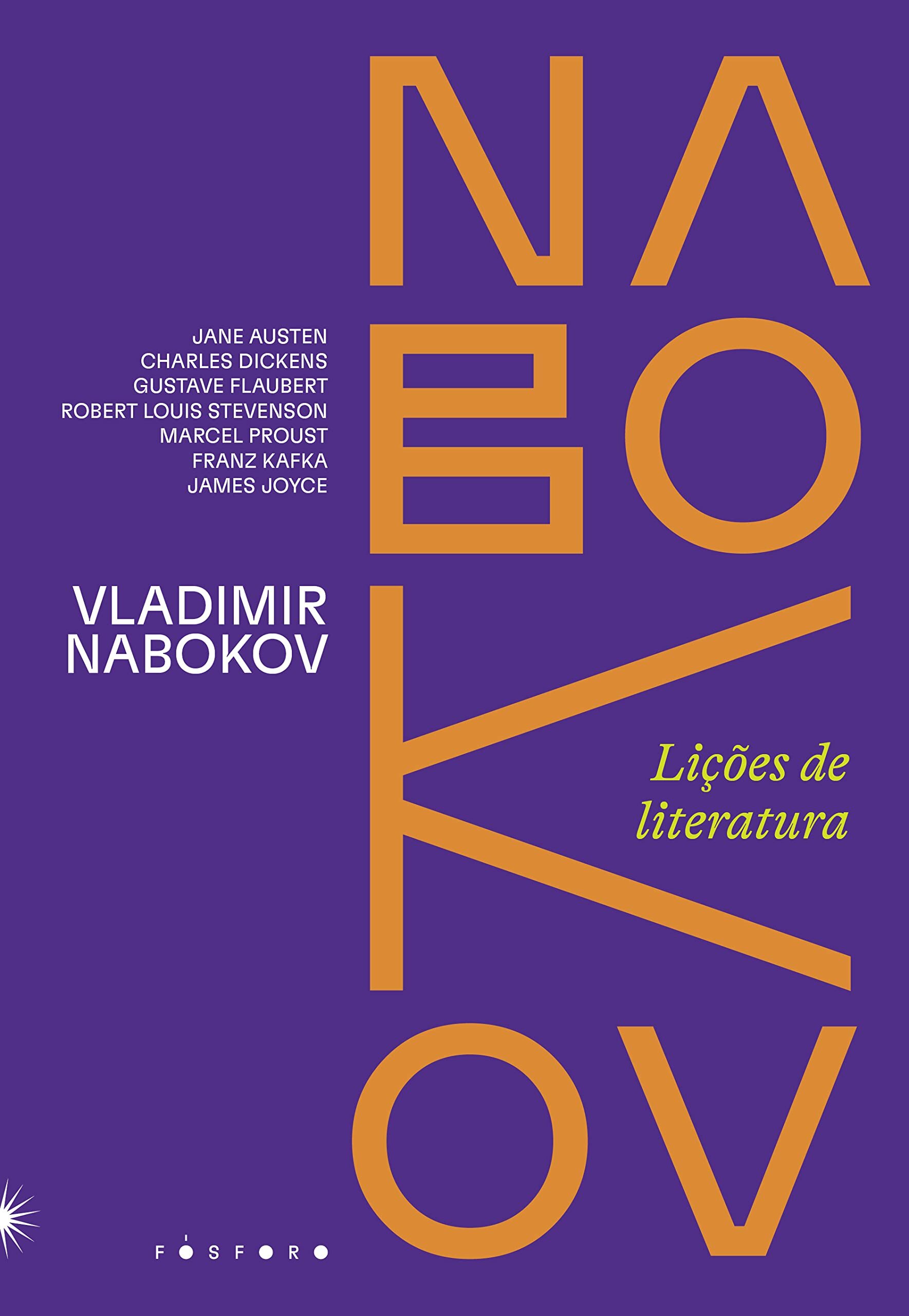 Fabrício de Moraes, crítico cultural e professor — Antoine Compagnon, recorrendo a uma das frases mais conhecidas de Samuel Johnson, diz que um dos efeitos por vezes inesperado da literatura – e que fora para Johnson uma espécie de imperativo da intelecção – é livrar-nos ou limpar-nos a mente das conveniências, da santimônia e dos lugares-comuns. Como todas as instâncias de sentido, não raro a literatura testemunhou o questionamento de sua soberania, sendo coercitivamente conduzida por outras vias que não aquelas que abrira por si própria. Certamente, ainda é motivo de desconforto essa conciliação (ou ao menos convivência), na literatura, entre uma forma estética de sinceridade e as estruturas de composição que subsistem numa dimensão entre o lúdico e o sacro. No entanto, Vladimir Nabokov, como se vê nessa sua obra reeditada que reúne suas aulas sobre alguns clássicos de literatura, ministradas a alunos da graduação, ignora ou simplesmente nega os supostos vincos e tapumes entre a ficção e natureza – não porque dissolve a autonomia da literatura no substrato da realidade, mas sim porque crê que a natureza, como todo grande escritor, é também uma impostora, uma “trapaceira contumaz”. Afinal, segundo diz o crítico e romancista: “A literatura não nasceu no dia em que um menino chegou correndo e gritando ‘lobo, lobo’, vindo de um vale neandertal com um grande lobo cinzento em seus calcanhares: a literatura nasceu no dia em que um menino chegou gritando ‘lobo, lobo’, e não havia nenhum lobo atrás dele. Pouco importa que, por mentir com frequência, o pobre garotinho finalmente tenha sido devorado por um animal de verdade.” Ora, entre o lobo que espreitava os acampamentos do homem e o lobo da narrativa do menino existe um “elo cintilante”, diz-nos Nabokov. E afinal, “esse vínculo, esse prisma, é a arte da literatura”, que, necessariamente, faz com que o autor siga sempre a liderança da natureza.
Fabrício de Moraes, crítico cultural e professor — Antoine Compagnon, recorrendo a uma das frases mais conhecidas de Samuel Johnson, diz que um dos efeitos por vezes inesperado da literatura – e que fora para Johnson uma espécie de imperativo da intelecção – é livrar-nos ou limpar-nos a mente das conveniências, da santimônia e dos lugares-comuns. Como todas as instâncias de sentido, não raro a literatura testemunhou o questionamento de sua soberania, sendo coercitivamente conduzida por outras vias que não aquelas que abrira por si própria. Certamente, ainda é motivo de desconforto essa conciliação (ou ao menos convivência), na literatura, entre uma forma estética de sinceridade e as estruturas de composição que subsistem numa dimensão entre o lúdico e o sacro. No entanto, Vladimir Nabokov, como se vê nessa sua obra reeditada que reúne suas aulas sobre alguns clássicos de literatura, ministradas a alunos da graduação, ignora ou simplesmente nega os supostos vincos e tapumes entre a ficção e natureza – não porque dissolve a autonomia da literatura no substrato da realidade, mas sim porque crê que a natureza, como todo grande escritor, é também uma impostora, uma “trapaceira contumaz”. Afinal, segundo diz o crítico e romancista: “A literatura não nasceu no dia em que um menino chegou correndo e gritando ‘lobo, lobo’, vindo de um vale neandertal com um grande lobo cinzento em seus calcanhares: a literatura nasceu no dia em que um menino chegou gritando ‘lobo, lobo’, e não havia nenhum lobo atrás dele. Pouco importa que, por mentir com frequência, o pobre garotinho finalmente tenha sido devorado por um animal de verdade.” Ora, entre o lobo que espreitava os acampamentos do homem e o lobo da narrativa do menino existe um “elo cintilante”, diz-nos Nabokov. E afinal, “esse vínculo, esse prisma, é a arte da literatura”, que, necessariamente, faz com que o autor siga sempre a liderança da natureza.
Correspondência intelectual: 1949-2004, de Celso Furtado (Cia. das Letras, 440 páginas)
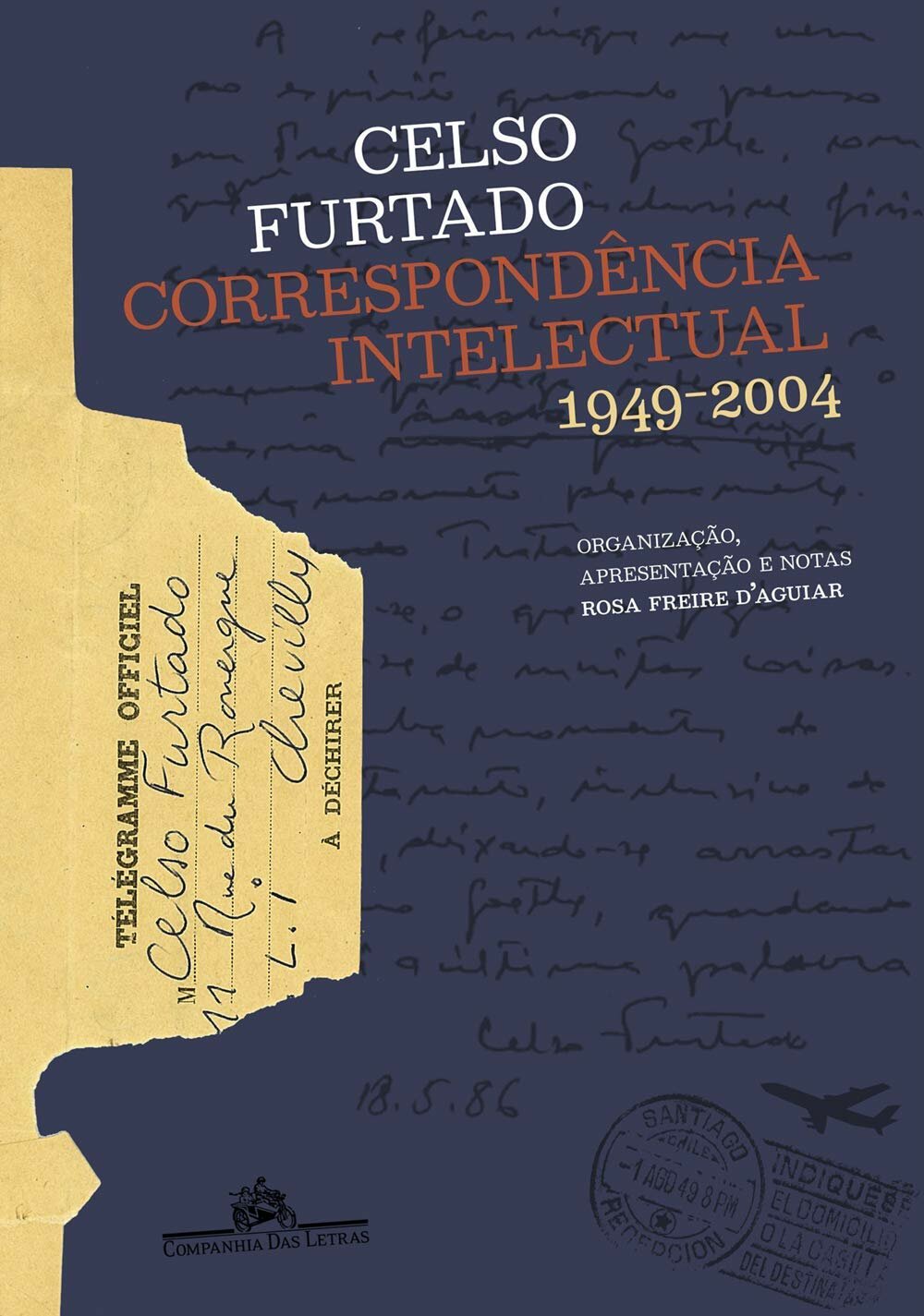 João Villaverde, jornalista e escritor — E-mail não é carta e você, que aqui lê esta breve resenha, sabe disso. Os e-mails são todos escritos a partir dos mesmos aparelhos que usamos para disparar as curtíssimas mensagens de WhatsApp, tweets e outros textos curtos. As cartas, não. Naquele papel, escrito à caneta ou à máquina, só havia um propósito: a missiva. A inexorável intimidade e o convite à reflexão embutidas nas cartas levaram à explosão da literatura epistolar nos últimos dois séculos. O e-mail tem matado, aos poucos, esse gênero. Pois neste 2021 tivemos a sorte de um bem-vindo retorno: Correspondência intelectual, organizado brilhantemente por Rosa Freire D’Aguiar. O livro traz maravilhosas cartas trocadas por Celso Furtado com… bem, basicamente, todo mundo que você pode imaginar. Há o lamento sensível ao amigo José Leite Lopes, em dezembro de 1969, registrando a mudança de ares em Paris e no mundo. As cartas de ironia ácida do sociólogo Luciano Martins, a angústia do crítico Otto Maria Carpeaux diante da censura imposta pela ditadura militar (“o silêncio, que me foi imposto, produz hemorragias internas intelectuais – tanta coisa para engolir sem falar!”), as cartas com presidentes da República (José Sarney, Lula e FHC – este, seu amigo pessoal), com mentes inquestionavelmente brilhantes (Albert Hirschman, Ernesto Sábato), enfim, um pouco de tudo. Furtado foi, seguramente, o mais impactante economista brasileiro do século XX. Seus pensamentos nas cartas são preciosos. Trata-se de um livro imperdível. “O Brasil é um caso extremo de crescimento com alto custo social e pilhagem de um país por uma pequena minoria protegida por um establishment militar muito caro”, escreve ele de Paris, a 24 de agosto de 1972, para o economista Nicholas Kaldor. Pois é.
João Villaverde, jornalista e escritor — E-mail não é carta e você, que aqui lê esta breve resenha, sabe disso. Os e-mails são todos escritos a partir dos mesmos aparelhos que usamos para disparar as curtíssimas mensagens de WhatsApp, tweets e outros textos curtos. As cartas, não. Naquele papel, escrito à caneta ou à máquina, só havia um propósito: a missiva. A inexorável intimidade e o convite à reflexão embutidas nas cartas levaram à explosão da literatura epistolar nos últimos dois séculos. O e-mail tem matado, aos poucos, esse gênero. Pois neste 2021 tivemos a sorte de um bem-vindo retorno: Correspondência intelectual, organizado brilhantemente por Rosa Freire D’Aguiar. O livro traz maravilhosas cartas trocadas por Celso Furtado com… bem, basicamente, todo mundo que você pode imaginar. Há o lamento sensível ao amigo José Leite Lopes, em dezembro de 1969, registrando a mudança de ares em Paris e no mundo. As cartas de ironia ácida do sociólogo Luciano Martins, a angústia do crítico Otto Maria Carpeaux diante da censura imposta pela ditadura militar (“o silêncio, que me foi imposto, produz hemorragias internas intelectuais – tanta coisa para engolir sem falar!”), as cartas com presidentes da República (José Sarney, Lula e FHC – este, seu amigo pessoal), com mentes inquestionavelmente brilhantes (Albert Hirschman, Ernesto Sábato), enfim, um pouco de tudo. Furtado foi, seguramente, o mais impactante economista brasileiro do século XX. Seus pensamentos nas cartas são preciosos. Trata-se de um livro imperdível. “O Brasil é um caso extremo de crescimento com alto custo social e pilhagem de um país por uma pequena minoria protegida por um establishment militar muito caro”, escreve ele de Paris, a 24 de agosto de 1972, para o economista Nicholas Kaldor. Pois é.
Eles em nós: Retórica e antagonismo político no Brasil do século XXI, de Idelber Avelar (Record, 322 páginas)
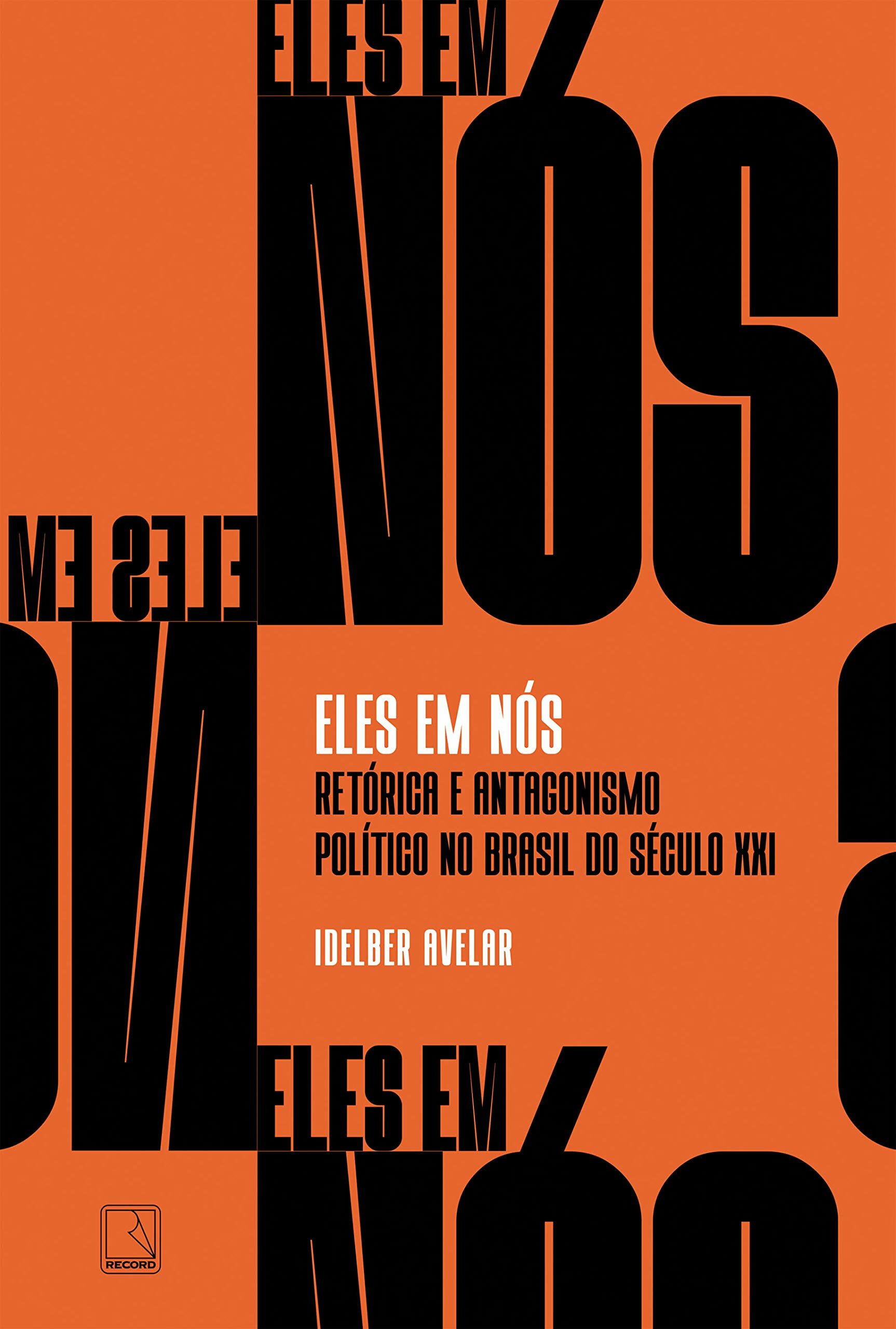 Daniel Lopes, editor da Amálgama – Como alguém que está em crise de abstinência desde que a Polícia Federal deixou de conduzir políticos e empresários para o xilindró às 6 da manhã, duas vezes por semana, acho que eu poderia ser classificado como alguma espécie de “lavajatista”. Não obstante, cá estou indicando como livro do ano a obra de Idelber Avelar que tem como um dos alvos o “lavajatismo”. Acontece que, ao mesmo tempo que incisivo, Idelber é sempre, ao longo de 280 páginas, um crítico honesto. Profissional das Letras, o autor não está interessado em proselitismo, e apenas por isso o livro já se destaca no cenário brasileiro dos últimos muitos anos. Ademais, a crítica à retórica da Lava Jato é apenas um dos fios do livro, que engloba das revoltas populares que se iniciaram em junho de 2013 até o ridículo e o cinismo das, digamos, visões de mundo lulopetista e bolsonarista. Às vésperas de uma campanha presidencial que bem pode se ver reduzida a uma corrida de três cavalos (o cavalo Luiz Inácio da Silva, o cavalo Jair Messias Bolsonaro e o cavalo Sérgio Fernando Mouro), esse livro é O Livro para se ler urgentemente.
Daniel Lopes, editor da Amálgama – Como alguém que está em crise de abstinência desde que a Polícia Federal deixou de conduzir políticos e empresários para o xilindró às 6 da manhã, duas vezes por semana, acho que eu poderia ser classificado como alguma espécie de “lavajatista”. Não obstante, cá estou indicando como livro do ano a obra de Idelber Avelar que tem como um dos alvos o “lavajatismo”. Acontece que, ao mesmo tempo que incisivo, Idelber é sempre, ao longo de 280 páginas, um crítico honesto. Profissional das Letras, o autor não está interessado em proselitismo, e apenas por isso o livro já se destaca no cenário brasileiro dos últimos muitos anos. Ademais, a crítica à retórica da Lava Jato é apenas um dos fios do livro, que engloba das revoltas populares que se iniciaram em junho de 2013 até o ridículo e o cinismo das, digamos, visões de mundo lulopetista e bolsonarista. Às vésperas de uma campanha presidencial que bem pode se ver reduzida a uma corrida de três cavalos (o cavalo Luiz Inácio da Silva, o cavalo Jair Messias Bolsonaro e o cavalo Sérgio Fernando Mouro), esse livro é O Livro para se ler urgentemente.
Sovietistão, de Erika Fatland (Âyiné, 520 páginas)
 Rodrigo de Lemos, professor e crítico cultural — O livro de Erika Fatland condensa, ao mesmo tempo, a pessoalidade cativante de um relato de viagem, a densidade informativa de uma monografia em Ciências Sociais e escrita ágil, comovente e engraçada de uma grande reportagem. É um livraço. Durante suas viagens no Centro da Ásia e na periferia do que fora a toda-poderosa União Soviética – pelos -istões de capitais imemorizáveis e eternamente ridicularizados pela opinião pública no exterior (Turcomenistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão) -, Fatland relata aventuras saborosas, rememora histórias de pequenos e de grandes personagens, descreve paisagens históricas e naturais arrebatadoras, evoca costumes e localidades arcaicas sobreviventes a duas radicais modernizações (a do socialismo e a da globalização liberal), assim como os vestígios lúgubres de massacres e de desastres ecológicos. Com isso, abre, aos olhos dos turistas impossíveis que nos tornamos, uma janela sobre uma das regiões mais fechadas do mundo. E permite também lembrar que a ascensão da URSS à modernidade industrial por via do socialismo não beneficiou a todo o império igualmente, mas muitas vezes cobrou o preço alto às populações dessas repúblicas improvisadas, em termos ecológicos, econômicos, culturais e mesmo humanitários. Imperdível.
Rodrigo de Lemos, professor e crítico cultural — O livro de Erika Fatland condensa, ao mesmo tempo, a pessoalidade cativante de um relato de viagem, a densidade informativa de uma monografia em Ciências Sociais e escrita ágil, comovente e engraçada de uma grande reportagem. É um livraço. Durante suas viagens no Centro da Ásia e na periferia do que fora a toda-poderosa União Soviética – pelos -istões de capitais imemorizáveis e eternamente ridicularizados pela opinião pública no exterior (Turcomenistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão) -, Fatland relata aventuras saborosas, rememora histórias de pequenos e de grandes personagens, descreve paisagens históricas e naturais arrebatadoras, evoca costumes e localidades arcaicas sobreviventes a duas radicais modernizações (a do socialismo e a da globalização liberal), assim como os vestígios lúgubres de massacres e de desastres ecológicos. Com isso, abre, aos olhos dos turistas impossíveis que nos tornamos, uma janela sobre uma das regiões mais fechadas do mundo. E permite também lembrar que a ascensão da URSS à modernidade industrial por via do socialismo não beneficiou a todo o império igualmente, mas muitas vezes cobrou o preço alto às populações dessas repúblicas improvisadas, em termos ecológicos, econômicos, culturais e mesmo humanitários. Imperdível.
A voz da educação liberal, de Michael Oakeshott (Âyiné, 350 páginas)
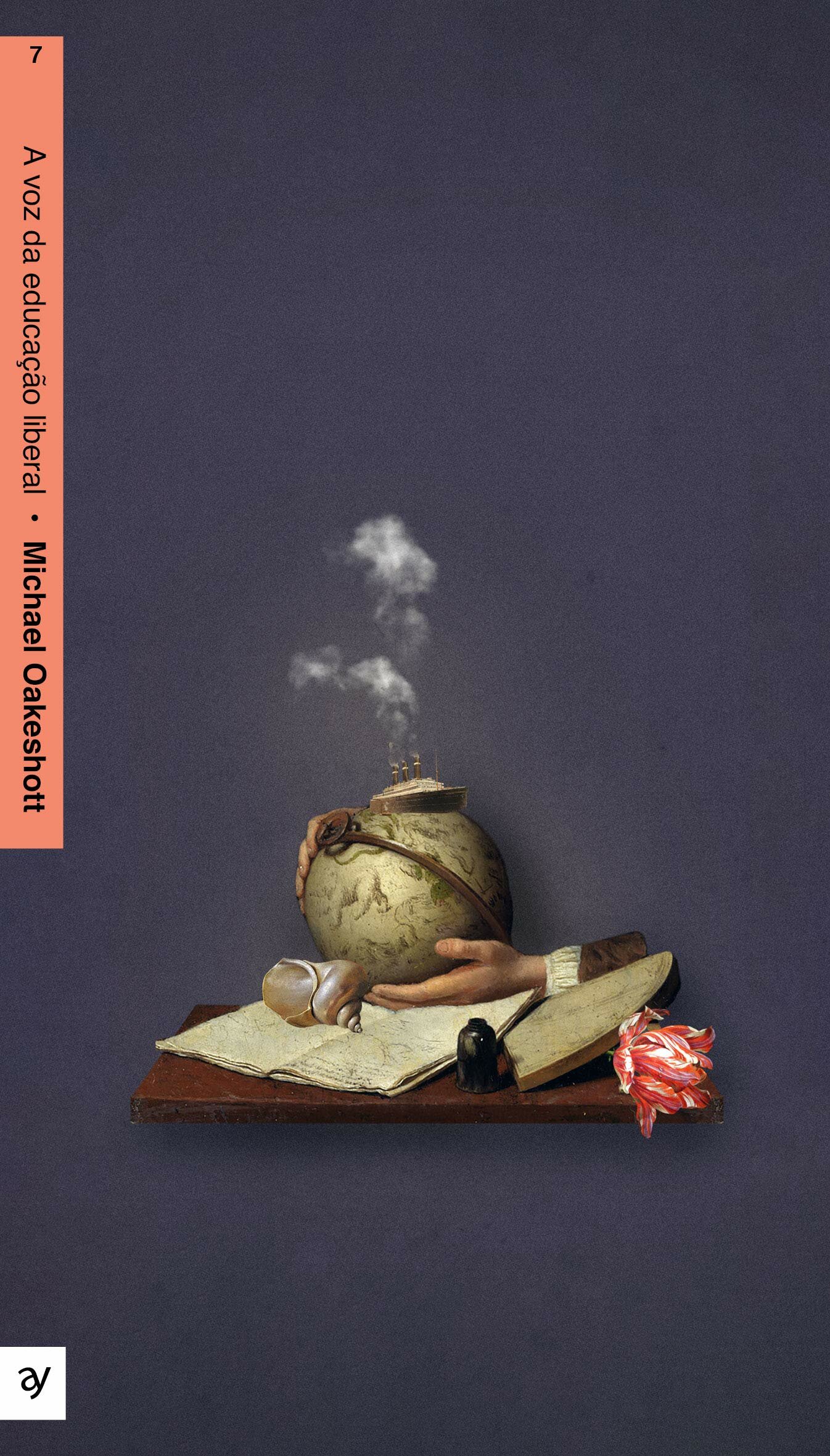 Gilberto Morbach, editor e crítico cultural — Recebi com muita alegria o convite para participar do sempre imperdível especial da Amálgama indicando os livros do ano em língua portuguesa. Abro meu comentário com uma nota pessoal: ao declarar minha escolha a Daniel Lopes, editor e amigo, sua reação foi logo a de dizer que se trata de um livro que definitivamente não teve a repercussão merecida. Eu não poderia concordar mais: A voz da educação liberal é um livro que bem poderia ter sido escrito para o nosso tempo. É verdade, somos historicamente localizados, marcados pelo acaso e pela contingência, mas há sempre aquilo que permanece: o aqui-e-agora importa, mas não é tudo. Assim como foi o caso com Oakeshott, vivemos em uma época de desacordos profundos sobre os significados mesmos de conceitos centrais em nosso vocabulário político — mais do que isso, desacordos profundos de natureza moral que se refletem, entre outras coisas, em nossas visões e crenças e ideias sobre o papel das universidades, das instituições de ensino, da natureza própria da educação. Com Oakeshott, temos uma compreensão filosófica, uma reflexão filosófica propriamente dita, que, por meio de um conjunto de ensaios, situa a educação entre os extremos da anarquia, livre de padrões e critérios, e da imposição de falsas doutrinas, programáticas, abstraídas das disposições e da experiência humana. Há práticas de ensino melhores que outras e, sem isso, não há nada; ao mesmo tempo, há diversos modos de ensinar e aprender, de modo que, tornando-se vítima das generalizações e da técnica, a educação torna-se qualquer coisa menos aprendizado verdadeiro. A verdadeira educação liberal envolve imaginação moral e emocional, uma disposição crítico-reflexiva, envolve diálogo verdadeiro e, no limite, como define Timothy Fuller no prefácio, envolve nossas tentativas de “encontrar uma forma de estar em casa no mundo” — precisamente porque o aqui-e-agora não é tudo. Parafraseando René Char, nossa herança dispensa qualquer testamento — e é preciso um lugar permanente de equilíbrio entre aprendizado e emancipação para que possamos nos dar conta disso. Esse lugar é a escola, é a universidade, e assim será enquanto houver critérios e padrões de excelência orientando a disposição para pensar, ouvir e perguntar. Nossos limites devem ser reconhecidos como tais — mas sempre há algo que podemos fazer por nós mesmos. Entre, de um lado, as visões apocalípticas de um mundo moral irremediavelmente em declínio e, de outro, o ‘progresso’ como abstração e programa vertical, Oakeshott fala com a voz da educação liberal.
Gilberto Morbach, editor e crítico cultural — Recebi com muita alegria o convite para participar do sempre imperdível especial da Amálgama indicando os livros do ano em língua portuguesa. Abro meu comentário com uma nota pessoal: ao declarar minha escolha a Daniel Lopes, editor e amigo, sua reação foi logo a de dizer que se trata de um livro que definitivamente não teve a repercussão merecida. Eu não poderia concordar mais: A voz da educação liberal é um livro que bem poderia ter sido escrito para o nosso tempo. É verdade, somos historicamente localizados, marcados pelo acaso e pela contingência, mas há sempre aquilo que permanece: o aqui-e-agora importa, mas não é tudo. Assim como foi o caso com Oakeshott, vivemos em uma época de desacordos profundos sobre os significados mesmos de conceitos centrais em nosso vocabulário político — mais do que isso, desacordos profundos de natureza moral que se refletem, entre outras coisas, em nossas visões e crenças e ideias sobre o papel das universidades, das instituições de ensino, da natureza própria da educação. Com Oakeshott, temos uma compreensão filosófica, uma reflexão filosófica propriamente dita, que, por meio de um conjunto de ensaios, situa a educação entre os extremos da anarquia, livre de padrões e critérios, e da imposição de falsas doutrinas, programáticas, abstraídas das disposições e da experiência humana. Há práticas de ensino melhores que outras e, sem isso, não há nada; ao mesmo tempo, há diversos modos de ensinar e aprender, de modo que, tornando-se vítima das generalizações e da técnica, a educação torna-se qualquer coisa menos aprendizado verdadeiro. A verdadeira educação liberal envolve imaginação moral e emocional, uma disposição crítico-reflexiva, envolve diálogo verdadeiro e, no limite, como define Timothy Fuller no prefácio, envolve nossas tentativas de “encontrar uma forma de estar em casa no mundo” — precisamente porque o aqui-e-agora não é tudo. Parafraseando René Char, nossa herança dispensa qualquer testamento — e é preciso um lugar permanente de equilíbrio entre aprendizado e emancipação para que possamos nos dar conta disso. Esse lugar é a escola, é a universidade, e assim será enquanto houver critérios e padrões de excelência orientando a disposição para pensar, ouvir e perguntar. Nossos limites devem ser reconhecidos como tais — mas sempre há algo que podemos fazer por nós mesmos. Entre, de um lado, as visões apocalípticas de um mundo moral irremediavelmente em declínio e, de outro, o ‘progresso’ como abstração e programa vertical, Oakeshott fala com a voz da educação liberal.
Discurso sobre a dignidade do homem, de Pico della Mirandola (Âyiné, 160 páginas)
 Diogo Rosas G., escritor — Esta obra foi composto por Giovanni Pico della Mirandolla em 1486, como introdução às 900 teses sobre o conjunto dos saberes que o autor pretendia defender em Roma perante uma reunião de eruditos de seu tempo. Não por coincidência, esse tempo, a segunda metade do século XV, representou uma das maiores encruzilhadas na história do cristianismo no Ocidente. Pico empreende seu projeto espremido entre eventos gigantescos. Às suas costas, o grande cisma de Avignon e a queda de Constantinopla, no horizonte, os germens da Reforma. Influenciado por seus estudos do hebraico e da cabala, além das doutrinas trazidas pelos platonistas de Constantinopla em seu êxodo para a Itália, Pico della Mirandola apresenta assim o escopo de sua empresa: “Por esses motivos, eu, não contente em ter acrescentado, além das doutrinas conhecidas, muitos temas da antiga teologia de Mercúrio Trismegisto, muitos dos ensinamentos dos caldeus e de Pitágoras, muitos a respeito dos mistérios mais secretos dos hebreus, também propusemos para serem discutidos um considerável número de temas concernentes à natureza e ao divino, descobertos e meditados por nós.” Ao final, a grande defesa não ocorreu, algumas teses foram condenadas como heréticas e o livro com seu conteúdo integral foi o primeiro da história a ser proibido pela Igreja Católica. Incapaz de abrir um caminho novo e romper o impasse em que o cristianismo ocidental se encontrava às vésperas da Reforma, o Discurso de Pico della Mirandola – publicado no Brasil em 2021 pela Editora Âyné numa cuidadosa edição bilíngue, com uma bela introdução do professor Raphael Egbi – permanece como o grande manifesto da síntese eclética buscada pelo espírito cristão do renascimento italiano.
Diogo Rosas G., escritor — Esta obra foi composto por Giovanni Pico della Mirandolla em 1486, como introdução às 900 teses sobre o conjunto dos saberes que o autor pretendia defender em Roma perante uma reunião de eruditos de seu tempo. Não por coincidência, esse tempo, a segunda metade do século XV, representou uma das maiores encruzilhadas na história do cristianismo no Ocidente. Pico empreende seu projeto espremido entre eventos gigantescos. Às suas costas, o grande cisma de Avignon e a queda de Constantinopla, no horizonte, os germens da Reforma. Influenciado por seus estudos do hebraico e da cabala, além das doutrinas trazidas pelos platonistas de Constantinopla em seu êxodo para a Itália, Pico della Mirandola apresenta assim o escopo de sua empresa: “Por esses motivos, eu, não contente em ter acrescentado, além das doutrinas conhecidas, muitos temas da antiga teologia de Mercúrio Trismegisto, muitos dos ensinamentos dos caldeus e de Pitágoras, muitos a respeito dos mistérios mais secretos dos hebreus, também propusemos para serem discutidos um considerável número de temas concernentes à natureza e ao divino, descobertos e meditados por nós.” Ao final, a grande defesa não ocorreu, algumas teses foram condenadas como heréticas e o livro com seu conteúdo integral foi o primeiro da história a ser proibido pela Igreja Católica. Incapaz de abrir um caminho novo e romper o impasse em que o cristianismo ocidental se encontrava às vésperas da Reforma, o Discurso de Pico della Mirandola – publicado no Brasil em 2021 pela Editora Âyné numa cuidadosa edição bilíngue, com uma bela introdução do professor Raphael Egbi – permanece como o grande manifesto da síntese eclética buscada pelo espírito cristão do renascimento italiano.
Amálgama
Revista digital de atualidade e cultura.
[email protected]




